UMA NOVA PERCEPÇÃO PARA O MUNDO
Rev. Prof. Jorge Aquino (*)
Qualquer pessoa que viva a vida em condições normais passa por alguma espécie de crise. É natural que elas venham e, ocasionalmente, desestabilizem nossa existência, as vezes até a ponto de nos fazer pensar que não há mais escapatória, não há mais saída. Mas nem sempre encaramos a crise de forma criativa, ou seja, como um recomeço. Quem nunca leu ou ouviu alguém descrever a crise como um espaço adequado para se superar suas próprias limitações? Quem nuca viu a descrição da crise como uma oportunidade para crescimento?
O que assistimos hoje em nossa sociedade precisa ser encarado como um sinal claro de que vivemos uma crise séria. Acompanhamos diuturnamente o aumento da violência nos grandes centros urbanos, a banalização da vida atingiu patamares jamais pensados. Assistimos a falta de relacionamentos interpessoais incidindo dobre o aumento da solidão, da depressão, e em alguns casos, do suicídio. A busca pela segurança a qualquer custo, leva milhares de pessoa a buscarem segurança na aquisição de armas, esquecendo-se de que a maior parte dos crimes ocorrem justamente em função da presença destas armas em uma situação de desavença pessoal com algum conhecido. De forma paradoxal, o financiamento do crime organizado é feito justamente pela mesma classe média que assiste seus filhos sendo vítimas da violência do cotidiano. A droga (lícita ou ilícita) é onipresente em qualquer festinha. Ao lado disso acompanhamos com preocupação o esfacelamento dos relacionamentos familiares. Pais e filhos não mais se falam. Não há sequer tempo para conversar. É preciso correr, trabalhar, lutar, conquistar, ganhar, lucrar, ter, acumular… Não temos tempo para efemeridades como conversar, como dialogar… O que é triste nisto tudo é que, de um lado, nunca nos satisfazemos com o que temos e sempre buscamos mais, e do outro, quando finalmente conseguirmos atingir nosso alvo (se é que é possível), perceberemos que ele nos custou nossa relação com os filhos, com a esposa, com os amigos, nossa própria vida, liberdade, juventude, alegrias, etc.
Ao lado de toda esta situação e destes dilemas pessoais, nos vemos envolvidos também em uma grande crise mundial. Nossa frágil casa está prestes a desmoronar sobre nós e não nos damos conta disso. A humanidade está, em pouco mais de 300 anos, exercendo uma influencia destruidora tão grande sobre o planeta qual jamais foi vista em toda a história. Desde a Revolução Industrial estamos emitindo cada vez mais gazes na atmosfera. A camada de ozônio ainda se mostra frágil; nosso oxigênio está cada vez mais poluído pela emissão de carbono; cada vez mais é difícil ver o céu das grandes cidades; as plantas estão cada vez mais cheias de agrotóxicos; nossos rios e lagos cada vez mais envenenados com os detritos não tratados das cidades; os mares sendo usado como depósito de lixo nuclear; a água potável se escasseando a cada dia; o ecossistema sendo violentado pela nossa sanha de poder; espécies animais e vegetais desaparecem todo ano; florestas interias viram campo e pastagens para que a economia dos países em desenvolvimento tenham espaço para seus rebanhos.
O que está acontecendo? Será que estamos todos cegos? É uma espécie de cegueira coletiva? Um embotamento universal da inteligência? Será que ninguém consegue imaginar o futuro de uma sociedade que teima em seguir um caminho como esse?
Minha convicção mais profunda é que chegamos neste estado de coisas em resposta conseqüente e previsível de nossos pressupostos, de nossas crenças, de nossos valores (ou anti-valores) e de nossas escolhas. O que vemos é o desenvolvimento lógico de uma forma de pensar, de um zeintgeinst, que orienta as ações e as escolhas da sociedade. Esta constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados por uma determinada comunidade e que dá forma a uma concepção específica da realidade e que serve de base para a sua própria organização, é o que Capra chama de Paradigma.
O Paradigma Cartesiano
Nossa sociedade é a herdeira de uma forma de percepção associada ao trabalho do filósofo francês René Descartes. Seu pensamento, que ficaria conhecido como “pensamento cartesiano”, se fundamenta em alguns critérios bem distintos, sobre os quais nós criamos nossa sociedade atual.
O primeiro destes princípios foi a divisão. Seu desejo era sempre conhecer as coisas de forma clara e distinta. Para isso era preciso que se dividisse o objeto da pesquisa em partes menores para, desta forma, se poder conhecer melhor. Em uma pesquisa sobre o fenômeno humano, por exemplo, alguém poderia se especializar em um aspecto do objeto, (as relações sociais) enquanto outro se especializaria em um outro aspecto (a dimensão psicológica) e outro se dedicaria ao aspecto meramente físico. Desta forma, o homem seria compreendido de forma plena. Era bastante, para tal, juntar o resultado das pesquisas dos vários pesquisadores. Na base desta divisão já havia um dualismo. Ou seja, a crença de que a realidade é dividida em duas: o ser que conhece, e o objeto que é conhecido. É o que chamamos de dualismo epistemológico.
O segundo princípio é o da dominação. Este homem que divide o objeto de sua pesquisa em partes, o faz para poder conquista-lo, compreende-lo, apreende-lo melhor. Este princípio segundo o qual é preciso dividir para conquistar se tornou muito comum. É chamado por alguns de “principio masculino”. Palavras como “conquista”, “dominação”, “exploração”, podiam ser vistas em relação à corrida espacial no final da década de 60. Mas não somente lá. Parece que sempre estamos tentados a dominar e a conquistar outros mundos e outras realidades. Somos os senhores, os dominadores, os perscrutadores do mundo e do universo. Temos uma compulsão por conquistar, por dominar, por submeter. Esta vocação para a dominação da Terra já aparece nos primeiros capítulos do Gênesis como um mandado de Deus ao homem. Pelo menos quanto a isso acho que ninguém duvida que obedecemos ao Criador.
O esforço intelectual do homem precisava de uma metáfora adequada para poder servir de imagem onírica para ilustrar e fundamentar o labor da ciência. Com Francis Bacon nos vem a metáfora da mulher. Para Bacon a natureza deveria ser torturada como uma mulher, como uma bruxa, até nos contar seus segredos mais íntimos. Esta tortura da natureza é um projeto bastante presente em nosso mundo. Com a figura de Isaque Newton uma outra metáfora entra em cena: a metáfora do relógio. Com a figura do relógio podemos imaginar alguns elementos importantes para a ciência moderna. Imaginamos, por exemplo, a noção de leis imutáveis, de perenidade do mecanismo e de previsibilidade. Uma vez que a natureza funciona como um relógio, podemos acreditar que cada uma de suas partes funciona de forma independente mas interligadas de tal forma que, quando tudo funciona a contento, podemos prever quando ocorrerá um eclipse solar, da mesmo forma que podemos prever onde o ponteiro menor estará dentro de duas horas. As leis que regem os corpos e a natureza são tão imutáveis quanto as que dirigem a engrenagem de um relógio.
O princípio seguinte é a da completa assepsia ou pureza da pesquisa. A ciência que surge desta pretensão de conhecimento é bastante característica. Ela se propõe conhecer de forma total, plena e livre de qualquer condicionamento todos os objetos com os quais tenha contato. Ela pretende conhecer o objeto com absoluta clareza e distinção. Seu conhecimento se pretende puro porque ela acredita ter conseguido uma objetividade ou objetivação plena. Ela pretende ter acesso à “coisa mesma” do objeto, ou seja, seu “ser em si”. Sobre o juízo científico não incide qualquer influência, sejam elas políticas, religiosas ou conceituais. O verdadeiro cientista inclusive, deveria até se dissociar de qualquer agremiação religiosa, científica ou política para não por em dúvida sua neutralidade.
Finalmente, diríamos que este pensamento tende a fazer simplificações e reduções que, definitivamente, prejudicam o aprendizado. Operar com esta forma de pensamento que privilegia a divisão e a disjunção, inevitavelmente nos inclina a produzir verdades que serão sempre redutoras e limitadas. Desta forma temos a tendência de reduzir o humano ao meramente corpóreo, o sexual ao meramente genital, o religioso ao meramente espiritual, etc. estas reduções nos dão a falsa impressão de que “conhecemos” a realidade e que, inclusive, podemos aprisiona-la em um “sistema fechado” que explica tudo.
Ora, com o passar dos tempos, cada vez mais tem ficado claro que, estes princípios cartesianos de pensamento se revelaram não apenas falhos em suas pretensões, mas decisivamente prejudiciais para a sociedade. É verdade que a ciência se desenvolveu bastante durante este período, e devemos registrar que este conhecimento é bem-vindo e benfazejo. Mas as conseqüências advindas deste desenvolvimento estão pondo toda a criação e a sociedade em perigo. Em função disso um outro paradigma de percepção vem sendo proposto por pesquisadores e por estudiosos da sociedade e das ciências ditas da phisis. Este novo paradigma, ou novo pensamento, vem sendo chamado de pensamento complexo (Edgar Morin) ou de pensamento sistêmico ou ecológico (Fritjof Capra). Um enfrentamento resumido desta forma de abordagem foi feita por Fritjof Capra quando disse: “O paradigma que esta agora retrocedendo dominou a nossa cultura por várias centenas de anos, durante as quais modelou nossa moderna sociedade ocidental e influenciou significativamente o restante do mundo. Esse paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, entre os quais a visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos de construção elementares, a visão do corpo humano como uma máquina, a visão da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, a crença no progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico, e – por fim, mas não menos importante – a crença em que uma sociedade na qual a mulher é, por toda parte, classificada em posição inferior à do homem é uma sociedade que segue uma lei básica da natureza” (CAPRA, 2003, p. 25).
Com a finalidade de contrapor a estes princípios hoje universais, falaremos um pouco agora sobre este novo pensamento que se apresenta como uma verdadeira e nova Revolução Copernicana nos arraiais da ciência.
O Paradigma Complexo
A primeira informação relevante sobre este pensamento é que ele não busca a divisão, mas a interação e a conexão entre as partes. É crença básica desta forma de pensar que nada pode ser conhecido de forma satisfatória se o retiramos de seu meio e o colocamos em um ambiente controlado, se o desconectamos de sua realidade ou ainda se o dividimos em partes. O todo jamais será a soma das partes. Nunca poderemos estudar corretamente qualquer fenômeno se o retiramos de seu contexto, de seu habitat, de onde com-vive com os demais seres.
Em segundo lugar, o pensamento complexo pretende superamos a dominação pela cooperação e pela sensibilidade. Ao invés de dar ouvidos à tentação da dominação sobre o mundo, sobre o objeto, o pensamento sistêmico tem valorizado o aspecto da cooperação como uma saída adequada para o esfacelamento e a destruição da criação que está ocorrendo hoje. Se ao invés de dominar a criação, formos capazes de encontrar um equilíbrio que produza um desenvolvimento sustentável, então poderemos ter alguma fé de que o futuro poderá ser melhor que o presente.
Um outro elemento que pode ser observado nesta mudança de percepção é a nova metáfora que é adotada para servir de ícone de uma nova mentalidade e de uma nova realidade. Esta nova metáfora é a da teia, da rede. Quando falamos em Teoria da Complexidade, imediatamente pensamos em algo de difícil compreensão. Mas não é isso que a palavra “complexo” nos diz em primeiro lugar. Pelo contrário, a palavra Com-plexo nos vem do latim e seu significa do é revelador. Ela é a união de um sufixo Com, que significa ao lado de, ou junto, e da raiz Plexus que é o particípio passado de Plecto e que significa entrelaçar, entrançar ou enlaçar. O Complexo, portanto, é aquilo que é “entrelaçado junto”, ou “trançado em conjunto”. Daí a figura de uma teia, de uma “web”, de um tear comum que envolve a todos os humanos. Ao invés de vermos o mundo como um relógio fora de nós, precisamos compreender que nos fazemos parte deste mundo e que tudo está entrelaçado. Precisamos compreender que esta teia é a essência de todas as coisas vivas, uma vez que ela gera relacionamentos e interconexões com tudo o mais. Quando dizemos que cada um dos problemas que enumeramos acima são complexos, queremos dizer que eles estão interconectados e inter-relacionados. Por isso precisam ser tratados de forma sistêmica e não de forma pontual. Mas Morin vai mais adiante quando fala da Complexidade. Para ele, “A complexidade não é somente o tato de que tudo está ligado, de que não se podem separar os diferentes aspectos de um mesmo fenômeno, de que, nós somos seres de desejo, seres econômicos, seres sociais, etc., de que tudo está ligado – aliás, a era planetária é aquela em que tudo está ligado – , mas é além do mais a ideia de que conceitos que se opões são devem ser expulsos um pelo outro quando se chega a eles, por meios racionais. Isso faz parte da minha concepção da complexidade. Do universo e do homem” (MORIN, 2002, p. 58).
Sobre a ciência, o pensamento sistêmico nos faz ver que é um mito acreditar em uma neutralidade científica. Ela, além de não ser “pura”, é sempre ideologicamente condicionada e interessada. Aprendemos com a fenomenologia de Husserl que o objeto é o fenômeno enquanto capturado pela nossa consciência. Isso significa dizer que desde sempre toda visão é já uma interpretação. Nossa consciência, desde sempre, está envolvida em todo tipo de com-preensão do objeto. Aprendemos, por sua vez, com Marx, que há sempre uma visão ideológica nas verdades e nos atos que observamos e fazemos. E abrir mão de uma leitura ideologizada do mundo não é algo fácil, se é que é possível. Finalmente aprendemos de Habermas que todo nosso conhecimento está sempre envolto em interesses nem sempre confessáveis. É fato indiscutível que a maior parte dos experimentos científicos contemporâneos são financiados pelos militares ou pelas grandes corporações industriais e que o grande interesse por trás destas pesquisas é sempre o domínio, a conquista, a competição, e a dominação. A ciência, desde que foi separada da filosofia, se viu incapaz de se pensar, de se compreender, e acabou por se tornar uma ciência sem consciência.
É preciso que, para que consigamos reverter este processo de auto-destruição em que estamos envolvidos enquanto seres humanos, sejamos capazes de modificar nossos pensamentos e nossos valores. Sobre os nossos pensamentos, urge que procuremos substituir um tipo auto-afirmativo de pensamento por um pensamento do tipo integrativo. Os pensamentos do tipo auto-afirmativo são aqueles que operam elucubrações na esfera da racionalidade, da análise, da redução e da linearidade. Substituir estes pensamento por outros do tipo integrativo implica em investir em processos que superem a racionalidade pela intuitividade, a análise pela dialógica, o reducionismo pelo hologramático[1]e a linearidade pela não-linearidade.
Esta mudança de pensamento deverá também produzir uma mudança de valores. Desta forma uma visão auto-afirmativa que valoriza a expansão deve ser substituída por uma visão integrativa que valoriza a conservação. Semelhantemente, uma visão competitiva deve dar lugar a uma outra visão, agora cooperativa. A fixação na quantidade deve ceder espaço à qualidade, e a dominação deve ser substituída pela parceria.
Para que esta reforma de pensamento ocorra em nossa sociedade é imprescindível a participação ativa de todos os formadores de opinião. Administradores, advogados, professores, profissionais do marketing, jornalistas, sacerdotes, enfim, todos aqueles que esperam e sonham com um futuro onde a qualidade de vida seja um bem mais importante do que o lucro, precisam se envolver e se empenhar para que uma nova percepção do mundo ganhe espaço e substitua esta visão suicida que tanto mal tem gerado em nosso mundo.
Sabemos que em 1492, com o descobrimento da América a humanidade entrou em uma era que pode ser chamada de era planetária. Foi a primeira experiência de globalização. Ela envolvia basicamente a troca de animais, vegetais e micróbios. O século XX presenciou uma outra era planetária, a da unidade. Ou seja, “Todos os fragmentos da humanidade estão unidos uns aos outros por vínculos econômicos, de telecomunicação e outros, mas, também, pelos dilaceramentos, porque cada fragmento da humanidade está em conflito com outros fragmentos da humanidade, e há convulsões” (MORIN, 2002, p. 30).
Hoje estamos vivendo aquilo que Morin chama de “nova Idade Média planetária”, ou seja, aquele período em que todos elementos estão prontos para civilizar o planeta, mas ao mesmo tempo, ainda permanecemos longe de uma civilização civilizada. Em resumo este é um momento em que “há algo que quer nascer e algo que se acha bloqueado” (MORIN, 2002, p. 33).
A única coisa que podemos dizer com certeza sobre nossa época, é que ela é uma época agônica, ou seja, uma época de lutas titânicas entre a luz e as trevas, e nada sabemos sobre o futuro. Podemos certamente afirmar que o projeto de um progresso certo e definido, ou seja, de uma história ascendente e irreversível se tornou uma crença religiosa e mítica, e hoje sabemos que a ambivalência é onipresente em cada aspecto da vida.
Antes de encerrar, contudo, é importante compreender que a existência desta ambigüidade não torna necessário o pior e a destruição. Pelo contrário, Morin se apresenta como alguém com esperança porque ele se sustenta em três princípios. O primeiro deles é o princípio do improvável, ou seja, se o improvável pode acontecer ainda há uma saída, não há porque perder as esperanças. O segundo princípio é o princípio de Hölderlin[2]. Segundo este segundo princípio, “lá onde cresce o perigo cresce também o que salva”, ou seja, “quanto mais nos aproximarmos do perigo, mais teremos chances de sair dele, mais aumentarão também os riscos de nele mergulhar” (MORIN, 2002, p. 69). O terceiro princípio de esperança de Morin é o Princípio da velha toupeira.[3] Segundo este princípio, lá, bem fundo nas profundezas do inconsciente humano, as forças da regeneração estão trabalhando. Silenciosamente, furtivamente, de forma ainda imperceptível, as forças que podem nos salvar estão atuando e, portanto, talvez não tenhamos que perder as esperanças.
Referências bibliográficas:
CAPRA, F. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2003
MORIN, E. Ninguém sabe o dia que nascerá. São Paulo: UNESP, 2002.
(*) O professor Jorge Aquino é Cônego anglicano, escritor, conferencista e foi professor de filosofia e hermenêutica jurídica na graduação e pós-graduação de várias faculdades em Natal/RN.
[1] Enquanto o reducionismo só vê a parte e o holismo só vê o todo, o princípio hologramático entende que a
parte está no todo e o todo está na parte.
[2] Friedrich Hölderlin (1770-1843), poeta alemão que enlouqueceu aos 37 anos de idade.
[3] Imagem criada por Hegel para descrever aquela força vital que age subterraneamente mas que pode surpreender e subverter a realidade.

RACIONALIDADE E ESPIRITUALIDADE
Rev. Jorge Aquino.
Um dos maiores desafios que enfrentei quando exercia simultaneamente o ministério anglicano e a magistratura universitária, era encarar a desconfiança de ambas as partes. Os religiosos não me consideravam “crente” o bastante já que eu trabalhava temas em minhas aulas de uma forma pouco conservadora; por outro lado, os acadêmicos nunca deixaram de me ver como um “padre” dando aulas e, portanto, como uma espécie de “catequizador” dentro da sala de aula.
Hoje eu acredito que estes mal-entendidos se deviam à condição em que eu me encontrava. A religião, como a ciência, é um espécie de território no qual você pode se posicionar mais ao centro ou mais na periferia. O problema é que quanto mais distante do centro e quanto mais próximo da periferia, mais próximo você está de outros domínios e de outros saberes. Por isso eu acabei sendo visto como uma pessoa “perigosa” tanto para os religiosos quanto para os acadêmicos.
No entanto, eu acredito que minha posição de boderline (que literalmente significa estar no limite da fronteira, mas que é vista como um transtorno de personalidade) acelerou as críticas de ambos os lados. Afinal a religião e a ciência – para muitos – não podem se reconciliar e qualquer tentativa nesta direção será sempre vista como loucura.
Pois bem, não penso assim. Acredito piamente que não apenas o aspecto mais duro e dogmático (religião e ciência) quanto seu exercício cotidiano (espiritualidade e racionalidade) podem conviver sem problemas maiores. Os dois principais conceitos com os quais trabalhamos neste texto são, portanto, racionalidade e espiritualidade.
Sobre a racionalidade, é interessante começar dizendo que Edgar Morin a compara com um jogo. Para ele a racionalidade é o jogo, “é o diálogo incessante entre o nosso espírito que cria estruturas lógicas, que as aplica sobre o mundo e que dialoga com o mundo real” (MORIN, E. Introdução ao Pensamento Complexo, p.102). Em outras palavras, a racionalidade é uma espécie de adequação entre a coerência lógica, que descreve e explica, e a realidade empírica. Quando a realidade empírica não se coaduna ou não está mais de acordo com nosso sistema lógico, então é chegado o momento de admitir que ele é insuficiente. Ou seja, precisamos desde sempre, reconhecer a total incapacidade das estruturas de nosso cérebro em compreender a riqueza, a grandeza e a complexidade do universo que nos cerca. A busca pela racionalidade deve sempre nos fazer pasmar diante do inexplicável e do inatingível.
Houve tempo em que a própria ciência se via como algo inquestionável. Quem se levantasse contra uma afirmação científica seria execrado à semelhança do que a igreja fazia na inquisição. No entanto foi Karl Popper (1902-1994) que estabeleceu como grande princípio do saber científico a “falseabilidade”, ou seja, a tese de que qualquer afirmação que se pretenda científica, pudesse ser contrariada e demonstrada falsa; em seguida, quando Thomas Kuhn (1922-1996) publicou Estrutura das revoluções científicas, ele demonstrou como a descontinuidade histórica da ciência que mudava constantemente de paradigmas para se adequar às novas descobertas. Em resumo, a própria ciência (inclusive as ciências exatas) reconhece que o que era verdade ontem, pode não ser amanhã. A verdade é, pois, provisória.
A religião também passou por essa síndrome de infalibilidade só que alguns séculos anteriores. Hoje, os bons teólogos e cientistas são bem mais humildes quando alguém lhes pergunta acerca da verdade. Afinal, já aprendemos com Diltey que a verdade é uma construção histórica.
Mas, voltando para nosso tema, creio ser possível manter a mente funcionando enquanto se afirma crer em um Deus que nos criou e que nos ama. Sobre a espiritualidade, cremos que as reflexões de Robert Solomon talvez possam nos ajudar. Depois de tentar demonstrar como Hegel e Nietzsche procuraram naturalizar a espiritualidade desvencilhando-a da religião e das filosofias “sobrenaturais”, Solomon nos oferece uma descrição de espiritualidade profundamente importante. Para ele espiritualidade significa, “As paixões nobres e reflexivas da vida e de uma vida vivida em conformidade com essas paixões e reflexões nobres. A espiritualidade abarca o amar, a confiança, a reverência e a sabedoria, bem como os aspectos mais terríveis da vida, a tragédia e a morte” (SOLOMON, R., p. 33).
Depois desta breve definição ele passa a dizer que a espiritualidade não pode ser confundida nem com morbidez nem com simplismo, ou seja, ela nem pode ser vista apenas como uma tomada de consciência de nossa perda de controle e, portanto, de nossa morte eminente, nem pode ser vista em termos de simples alegria e beatitude. Para Solomon (SOLOMON, R., p. 33), espiritualidade naturalizada é “amor reflexivo à vida”.
Desta forma creio que a grande contribuição de Solomon foi aproximar a espiritualidade da prática e dissocia-la da crença. Jesus já havia feito isso quando confrontou um grupo de pessoas que achavam que deveriam entrar no céu porque haviam feito coisas “espirituais”. Vejamos suas palavras: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas?E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. (Mateus 7:21-23). O critério da verdadeira espiritualidade não se encontra na ortodoxia (crença correta; eles estavam corretos ao chamarem Jesus de “Senhor”), mas na ortopraxia (prática correta, ou seja, “fazer a vontade do Pai”). Ser um bom cristão, desta forma estaria mais relacionado com aquilo que fazemos do que com aquilo que cremos. Somos todos convidados, por este texto bíblico, a viver o que a Igreja Oriental chama de cristificação e a Igreja Ocidental (católicos e protestantes) chamam de santificação.
Meu amigo, ser cristão não exige um suicídio mental. A inteligência e a acuiade científica podem andar juntas e têm andado juntas em muitos exemplos preciosos da história. Viva sua espiritualidade sem precisar se envergonhar de sua crença e estude com o denodo dos grandes pensadores. Desta forma, parafraseando Agostinho, não abriremos mão justamente daquilo que Deus nos fez igual a ele, a racionalidade.
DA ONTOLOGIA DA ESPERANÇA À TEOLOGIA
Rev. Jorge Aquino.
Para refletir sobre esse binômio, acredito que o primeiro passo é definir o que queremos dizer por “ontologia”. A “ontologia”, era vista por Aristóteles como a “filosofia primeira”, associando-a, em seguida, com a metafísica. Nesse sentido, a ontologia passou a ser vista como o estudo do ser como ser, ou do ente enquanto ente. O que podemos dizer, então acerca do ser do homem?
Para replicar a essa questão, muitos filósofos e pensadores arriscaram suas respostas. Para um Aristóteles, o homem é um “animal político”; para Bruno, um “cidadão de dois mundos”, a eternidade e o tempo; para Pascal, apenas “um caniço pensante”; para Hobbes, ele é “o lobo do homem”; para Lamettrier, é apenas “uma máquina”; para Heidegger, é “um ser para a morte”.
Muitas outras respostas surgiram no transcorrer da história, mas aquela sobre a qual queremos tecer algumas considerações é a que surge da elaboração de Ernest Bloch, para quem, o homem era, antes de mais nada, o “ser ainda-não-sendo” (Noch-nicht-Sein). Esta elaboração aparece em torno de 1960 em alguns textos que foram sistematizados em uma obra mais densa chamada: “Problemas filosóficos fundamentais”.
Ernest Bloch (c.1885-1977) foi um filósofo alemão de matiz marxista que se dedicou a produzir uma obra na qual defendia a possibilidade de um mundo humanizado e livre da exploração e da opressão. Autor do chamado Princípio Esperança, ele entendia que a visão mítico-religiosa poderia contribuir para a elaboração de uma realidade melhor. Segundo informa Rosino Gibelline, “A filosofia da esperança de Bloch articula-se em dois princípios: a) uma ontologia universal do não-ser-ainda, que abrange natureza e história; e b) uma escatologia não menos universal da superação da alienação humana, numa pátria da identidade, e da superação do sofrimento humano causado pela injustiça, numa pátria da solidariedade” (GIBELLINI, 1998, p. 289). Estamos, pois, diante dos dois fundamentos de seu Princípio Esperança: um aspecto ontológico e outro escatológico.
Quando nos voltamos para o estudo do aspecto ontológico em Bloch, descobrimos que, muito embora ainda seja condicionado, o homem tem a capacidade de tomar consciência e de reinterpretar esse seu condicionamento ou determinismo. Essa realidade que poderíamos chamar de “o possível”, não pode advir do mero otimismo, pois seria por óbvio, extremamente superficial. Tão pouco “o possível” poderia vir da descoberta o provável, pois isso seria deveras subjetivo. O “possível” somente poderia advir de uma interpretação da realidade na qual a vislumbramos como “imperfeição”, mas também como “possibilidade”. Isso inevitavelmente nos levaria a compreender a realidade como a “relatividade do determinismo” (BLOCH In FURTER, 1974, p. 115).
Desta forma, a realidade é algo que existe lá, na consciência antecipadora, na forma de um ainda-não. O determinismo dessa realidade se deve apenas à contingência e à historicidade. Assim sendo, a consciência antecipadora é a afirmação de um ente que se apresenta, ontologicamente, como um “ainda-não-sendo” (Noch-nicht-Sein).
Em Bloch, a Ontologie des Noch-nicht-Sein nos faz entender que tudo quanto acompanha a própria vida só pode encontrar seu verdadeiro significado no futuro. Como afirma Scaer, no pensamento blochiano, “O presente é necessariamente inadequado porque não foi respondido pelo futuro. A realidade é incompleta, por definição, e permanece assim. A atitude do homem para com a vida deve ser formulada não por aquilo que tem sido ou que é mas, sim, por aquilo que ainda será” (SCAER, In GUNDRY, 1983, p. 163).
Aquele que melhor utilizou o paradigma da “esperança” como fundamento para a construção de uma obra teológica que redescobre a escatologia e propõe um resgate desse elemento, foi o teólogo Alemão Jürgen Moltmann (1926). A relação com os dois teve início porque ambos se encontraram na Universidade de Tübingen, na década de 1960. Pelo que percebemos, à luz do contexto da teologia e da política da época. De uma perspectiva teológica, a reflexão trazida por Moltmann significava “um refrigério em contraste com a monotonia do aqui-e-agora dos teólogos existencialistas” (SCAER, In GUNDRY, 1983, p. 167), que já estavam chegando à exaustão com uma leitura nietzscheiana e produzindo a conhecida “Teologia da morte de Deus”. De uma perspectiva política, Multmann vivenciava o recrudescimento da chamada “guerra fria” e assistira a divisão da Alemanha em duas por meio do muro que dividia o mundo em dois blocos e produziam enormes tragédias pessoais e políticas.
É dentro desse contexto vital (Sitz im leben) que Moltmann elabora sua teologia. Ele não procura apresentar a esperança como uma virtude teologal e, nem mesmo, procura criar uma teologia do genitivo, onde o genitivo (nesse caso a esperança) fosse o objeto da reflexão teológica. Sua reflexão é, antes, um “ensaio de teologia escatológica, em que os temas centrais do cristianismo são revisitados na perspectiva da promessa, esperança e missão. A Bíblia é o livro da revelação, na medida em que é o livro da promessa divina; a promessa alimenta a esperança; e a esperança impulsiona a missão” (GIBELLINI, 1998, p. 286). E Moltmann, a realidade é pura escatologia e esta, idêntica à esperança cristã. Esta esperança não apenas abarca tudo aquilo que esperamos mas também o próprio ato de esperar. Para ele, “O Cristianismo é total e visceralmente escatologia, e não só a modo de apêndice; ele é perspectiva e tendência para frente, e por isso mesmo, renovação e transformação do presente” (MOLTMANN, 1971, p. 2). Para ele a escatologia não é apenas um dos diversos temas da teologia. É o meio no qual o próprio Cristianismo se movimenta e o elemento que dá vida e cor à vida cristã. Porque o Cristianismo vive da fé no Cristo ressurreto, ele se mostra como a esperança do retorno (parousia) do que venceu a morte, para a realizar plenamente criação de uma nova realidade que já está entre nós: seu Reino.
Essa crença possui uma inquestionável consequência sobre nossa missão: para Moltmann, “toda a pregação e mensagem cristã tem uma orientação escatológica, a qual é também essencial à existência cristã e à totalidade da Igreja” (MOLTMANN, 1971, p. 2). Ele sabia que todas “possibilidades” e “tendências” que o mundo real nos impõe estão ligadas às decisões subjetivas de que, de dentro do processo, observa a história acontecer. E é diante de um “novo” que sempre vem que o cristão precisa tomar a decisão de se colocar na história. Nesse aspecto ele concorda quando Bloch diz “O nervo de um conceito correto de história é e permanece o novum” (BLOCH, In MOLTMANN, 1971, p. 311). Esta esperança do novum não é apenas expectante, ela é, sobretudo, uma esperança criadora que prepara e transforma o presente “porque está aberta ao futuro universal” (MOLTMANN, 1971, p. 402).
A relação de dependência entre a elaboração teológica de Moltmann da obra filosófica de Bloch fica claro quando se percebe que, assim como Bloch procurava renovar a tradição marxista a partir de uma perspectiva de um humanismo real, Moltmann “apostava numa renovação da teologia cristã e da práxis da comunidade cristã, aplicando, numa perspectiva escatológica, a categoria de futuro, que Bloch propunha como categoria filosófica central” (GIBELLINI, 1998, p. 289).
Referências bibliográficas:
FURTER, Pierre. Dialética da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974
GIBELLINI, Rosino. A teologia do século XX. São Paulo: Loyola, 1998
GUNDRY, Stanley. Teologia contemporânea. São Paulo: Mundo Cristão, 1983
MOLTMANN, Jürgen. Teologia da esperança. São Paulo: Herder, 1971
O LUGAR DO PARADOXO NA VIDA
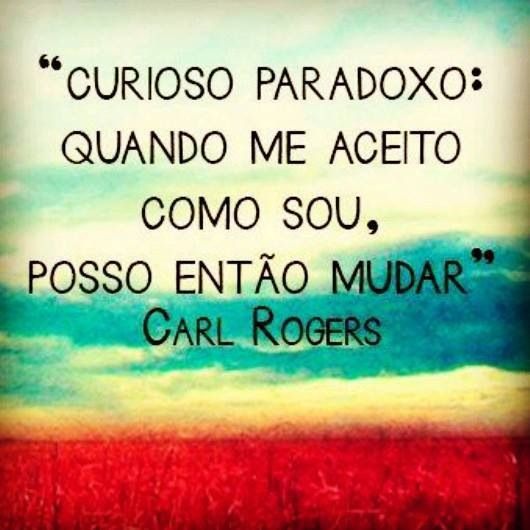
A vida é realmente algo imprevisível. Esta imprevisibilidade se manifesta de diversas formas, desde as mais simples até as mais complexas, ou melhor, as mais paradoxais. Estes paradoxos são expostos em frases que todos já ouviram mas que, na prática, falam de realidades que ninguém quer viver. Quem nunca disse para alguém que é “preciso perder para ganhar” ou que é preciso “dar um passo atrás para dar dois passos à frente”? No Evangelho também encontramos expressões paradoxais. O Cristo, certa vez disse que quem quiser “ganhar a sua vida, perdê-la-á”. Em outra oportunidade ele disse ser preciso, para a semente, morrer, a fim de fazer brotar a vida. Assim é a vida: as vezes perde-se e continua-se ganhando.
Um elemento complicador desta realidade é a visão excessivamente consumista de nossa sociedade. Num mundo consumista, ninguém quer perder; ninguém pode perder; e ganhar significa sempre acrescentar coisa à coisa, na crença quase que religiosa de que, este somatório de bens concederá a tão desejada felicidade. A vida, no entanto, nos mostra muito claramente que ela não é feita apenas de alegrias e de vitórias. Muito ao contrário, na vida há muito espaço, também, para a dor, o sofrimento e para a perda.
O que precisamos perceber é que, a perda ou a dor, não significa, necessariamente, algo ruim. É possível não apenas crescer com a dor, mas também, a mesma vida nos revela ser possível crescer e amadurecer com ela. Para que isso acontece, é absolutamente necessário, ser capaz de observar com sabedoria os eventos. É preciso saber buscar os ensinamentos das circunstâncias ruins para aplicá-las na transformação da existência. Isto se chama amadurecimento.
Portanto, acredito ser errado se deixar estigmatizar em função da dor ou dos sofrimentos recorrentes. A atitude mais proativa não é a de aceitar simplesmente a dor e o sofrimento; é antes a de se permitir aprender com os erros e com os sofrimentos. Aprender para, tanto poder ensinar aos outros o “caminho das pedras” e a não caírem em erros já cometidos, quanto para não cometer o mesmo erro novamente.
À BUSCA DA FELICIDADE

Durante nossa existência muitos objetos, fins, instâncias ou estágios acabam assumindo para nós o estágio de elemento fundamental para nossa felicidade. Em geral, quando ainda somos jovens temos a tendência de apostar todas as nossas fichas em coisas, bens ou posições sociais. É comum ver jovens ou adultos jovens gastando todas as suas energias e empreendendo todos os seus esforços na busca de um emprego que lhes garanta aquilo que usualmente é reconhecido como sinal externo de riqueza ou de prazer. Neste momento a felicidade tem a ver com o prazer.
Quando ultrapassamos este estagio começamos a mudar a direção de nosso olhar e, consequentemente, os objetos que realizam nossa felicidade. Neste momento já começamos a por nossa atenção em objetos menos tangíveis. Não pensamos tanto no salário, mas na estabilidade e na qualidade de vida que podemos auferir. Não nos apercebemos necessariamente dos bens mas das demais benesses que se pode angariar com ele. Neste momento a felicidade tem a ver com certos interesses.
Com a idade, não que não se seja capaz de chegar a este estágio ainda jovem, compreendemos que há outros valores que precisam ser resgatados. Em geral estes valores começam a ser valorizados quando começamos a perceber que nosso rosto está mudando, que nossos cabelos estão ficando grisalhos e que nossos amigos estão morrendo. Neste estágio passamos a valorizar aquilo que sempre esteve ao nosso lado e sequer fomos sensíveis para perceber: nossa família. É neste momento que percebemos quão importante é ter pais, irmãos, primos e mesmo bons amigos. Neste momento percebemos, também, quão importante é valorizar aquela pessoa com quem pretendemos passar o resto de nossa vida. Nossa esposa (ou marido) passa a ser visto como aquela pessoa absolutamente fundamental em nossa existência e para nossa felicidade. Por isso alguém já disse: “Não é a riqueza ou o dinheiro que nos faz feliz e sim a interpretação da vida”.
Estes três estágios não precisam necessariamente ser vista como excludentes, como se para assumirmos a segunda, tivéssemos que abandonar a primeira. Entendo, até ser possível aglutinar cada um destes estágios de tal forma que o prazer, o interesse e a família possam ser visto como complementares.
Hoje estou absolutamente convencido de que, seguindo a ordem inversa, nossa felicidade está, primeiro vinculado à nossa família, em seguida com nossos interesse – como a saúde, por exemplo, e finalmente com os prazer que eventualmente venhamos a gozar. Mas devemos perceber que a felicidade é sempre um alvo a ser buscado, nunca um ‘X’ que já foi alcançado.
SOBRE A RIQUEZA E A FELICIDADE
Esta semana um jovem me perguntou, creio, de forma folgazã: “Jorge, quando é que você vai ficar rico?” Imediatamente eu respondi: “Rico? Rico eu já sou!” Ele insistiu: “Mas quando você vai ter muito dinheiro?”. Eu lhe disse: “eu não preciso de muito dinheiro; eu já tenho tudo o que preciso”.
Na realidade, esse pequeno diálogo entabulado entre nós apenas revelou o senso comum presente nas mentes das pessoas de nossa sociedade consumista e materialista: você só será feliz à medida em que possuir cada vez mais coisas.
Eu gostaria de rebater, muito fortemente essa ideia pontuando algumas teses que acredito serem verdadeiras. Em primeiro lugar, eu acredito que “a medida do ter nunca se enche”. Essa conhecida frase nos diz que ninguém nunca estará absolutamente satisfeito com o que tem, se puder ter ainda algo mais.
Minha segunda tese diz que se você associar sua felicidade à medida do ter, você nunca será feliz, justamente porque você sempre poderá desejar ter mais do que tem. O que significa que você estará condenado a ter sempre menos do que poderia e, portanto, condenado a ser sempre menos feliz do que poderia ser. Este é um círculo vicioso que vai aprisiona-lo para sempre e jamais fará com que você sinta a verdadeira felicidade.
Por fim, em terceiro lugar, estou convencido de que quando as Escrituras dizem: “O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta” (Salmo 23:1), elas estão afirmando que aquelas pessoas que se deixam guiar pelo Pastor – mas somente essas pessoas – não sentem falta do que não é essencial, porque o essencial é dado pelo Pastor. Aquilo que é secundário não terá tanta influência assim em minha vida. Ademais, lembro das palavras do Apóstolo Paulo que disse que se tiver o que comer e com que se vestir, se dará por satisfeito” (I Tm 6:8).
Ora, se alguém atrela sua felicidade à satisfação, e esta à quantidade de bens que possui, acredite, estamos diante de alguém que nunca conseguirá tudo o que deseja e que, por via de consequência, nunca será feliz. É preciso também lembrar que na história outras pessoas passaram pela experiência de “ter” muito e de “abrir mão do que tinha” para viver apenas para Deus. Estou me referindo à Francisco de Assis que, certa vez afirmou que “quando você tem algo, aquilo também tem você”. A única liberdade possível está no desapego das coisas.
Encerro dizendo que não estou pregando que não se deve ter nada. Mas que não devemos colocar nosso coração nas coisas. Em outras palavras, estou dizendo que não devemos nos “conformar com esse mundo” mas renovar nossa mente com os valores do Reino de Deus. Afinal, disse Jesus: “Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração” (Mt 6:21). Você já sabe qual é o seu verdadeiro tesouro? Que ele não seja aquilo que pode ser roubado por ladrões, ou queimado pelo fogo, ou ainda, destruído pelas traças. Faça de Deus, de sua graça e do que Ele te deu, teu tesouro, e você será rico e feliz.
BRASIL: UM PAÍS QUE MUDA PARA CONTINUAR O MESMO – REFLEXÕES SOBRE RUPTURAS E CONTINUIDADES
Indubitavelmente, nós vivemos em um país singular no que diz respeito à corrupção. Esta singularidade está presente, por exemplo, em uma letra que já refletia à época, uma enorme crítica acerca do que ocorria no centro do poder de nossa nação. Nela, um jovem chamado Renato Russo, perguntava: “Que país é esse?” e afirmava em seu primeiro refrão: “Nas favelas, no senado/ Sujeira pra todo lado/ Ninguém respeita a constituição/ Mas todos acreditam no futuro da nação”. Esse, que já foi considerado “O país do futuro”, adentrou no século XXI com uma das piores crises de sua história. Mas, por que nosso país atravessa tantas crises e tantos problemas?
A resposta, com certeza, exigiria muito mais espaço do que aquele que pretendemos usar para fazer nossa exposição. Mas, certamente, incluiria aspectos relacionados desde ao modelo de colonização ao qual nós fomos submetidos, até o tipo de educação – ou deseducação – que se oferece à nossa população. Mas a explicação mais plausível é uma conjunção dos dois primeiros fatores, aliados a um elemento que, em minha opinião, é o elemento fundamental: o Brasil sempre foi dirigido para agradar as oligarquias latifundiárias conservadoras.
Seja como for, pretendemos demonstrar que o Brasil é um país que sempre, em toda a sua história, conviveu com a falsa sensação de rupturas, mas que indicavam, sempre para uma continuidade. Em outras palavras, nós sempre mudamos para continuar o mesmo.
A primeira grande “mudança” de nosso país ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando o então Príncipe Regente do Brasil, D. Pedro Alcântara de Bragança, temendo ser repatriado para Portugal, declara a Independência do Brasil. E é isso que nos faz refletir. A nossa Independência foi proclamada pelo filho mais velho do Rei de Portugal, D. Joao. Mudamos, mas continuamos uma monarquia e com o filho do antigo Rei no poder. Lembremos que para fazermos a primeira Constituição, 1822 – chamada Constituição da Mandioca -, não só pela maciça presença de proprietários rurais, seriam eleitos indiretamente por eleitores do primeiro grau que provassem uma renda mínima de 150 alqueires de plantação de mandioca. Estes, por sua vez, elegeriam os eleitores de segundo grau, que seriam aqueles que pudessem provar uma renda mínima de 250 alqueires. Estes elegeriam deputados e senadores que pudessem provar uma renda de 500 e 1000 alqueires, respectivamente. Eis, logo no início de nosso país os grandes responsáveis pela manutenção do status quo.
Eis que em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, realiza a segunda grande “mudança” da história do Brasil. De nada adianta argumentar que dentre as razões que contribuíram historicamente para a saída da monarquia e a entrada na República foram as questões econômicas e as mudanças na legislação relacionada à escravatura. Outras monarquias, como a Inglaterra, também eram anti-abolicionistas, ao passo que haviam Repúblicas, como os estados Unidos, que defendiam o escravagismo. Deodoro era Marechal do Exército, nomeado pelo Imperador e colocado, recentemente, como líder do Estado Maior Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mais uma vez o Brasil mudou. Mas continuou o mesmo, porque as críticas de que o poder monárquico era intransigente com os republicanos, poderiam ser também aplicados aos generais que assumiram a presidência do Brasil entre 1889 e 1894 com as figuras de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, instituindo o que seria chamado de “República da Espada” marcada pelos poderes ditatoriais dados ao exército que servia aos grandes latifundiários, chamados à época de “coronéis”.
Em 1898, assume a presidência do Brasil o presidente Campo Sales e dá início a uma política chamada de “café com Leite”. Esta “política dos Governadores”, já era comum na República Velha (das espadas), mas agudizou-se quando o poder central do Brasil ficou centralizado entre Minas Gerais e São Paulo, intercaladamente. Os grandes e poderosos plantadores de café que derrubaram a monarquia, agora se juntavam aos produtores de leite de São Paulo para manter uma oligarquia no poder. Essa oligarquia, que representava o poder financeiro aristocrático rural, escolhia todos os principais cargos do Estado e os dava a seus amigos. De novo nada havia mudado, embora o exército já não estivesse mais no poder. Mudou, mas continuou o mesmo. O final dessa política ocorrerá com a Revolução de 30.
A chamada “Revolução de 1930” foi um levante armado que uniu os estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Ele derrubou o presidente Washington Luiz em 24 de outubro de 1930 e impediu a posse de Júlio Prestes. Era o fim da República velha. O que os incautos não perceberam é que, com a queda da Bolsa de Nova York, a oligarquia paulista rompe com a mineira, pondo fim à política café com leite, e indica Júlio prestes para Presidente. Em reação a isso, o governador de Minas indica a candidatura Getúlio Vargas – um conhecido caudilho gaúcho. Vieram as eleições e elas deram a vitória ao candidato de São Paulo. Ele, porém, não tomou posse em função do golpe de estado ocorrido em e de outubro de 1930, criando um “Governo Provisório”. Quem era Vargas? Um latifundiário e membro da oligarquia gaúcha que estava cansada com a troca de poder entre mineiros e paulistas. O que mudou? Nada! Tudo mudou para continuar o mesmo.
O chamado “Governo Provisório” de Vargas, durou de 1930 até 1934, quando ele foi “forçado” a convocar eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Durante todo esse período Vargas governou com o apoio do exército e com mão forte. Vargas se serviu dos tenentes do exército para se manter no poder, em mais uma ditatura. Fazendo-se valer do grande apoio político conquistado neste momento, Vargas conseguiu que os deputados constituintes de 1934 aprovassem a eleição indireta para presidente. Desta forma, Getúlio, escolhido pelo Poder Legislativo, ficou mais quatro anos no poder. O acordo dizia que o próximo presidente seria eleito pelo voto direto. Algo mudou? Nada! Tudo continuava como dantes.
O conhecido Estado Novo – ou Terceira República -, implantado por Getúlio Vargas, também pareceu uma mudança, mas manteve a continuidade. Este regime político vigorou de 10 de novembro de 1937 até 29 de outubro de 1945. Conhecido como a Era Vargas, este período foi marcado pelo autoritarismo, centralização de poder, anticomunismo e pelo nacionalismo. Com a Constituição de 1937 Vargas implementou a censura e passou a perseguir os comunistas, implementando um governo extremamente populista. Paradoxalmente, foi nesse período de ditadura travestida de constitucionalismo, que Vargas entrou na Segunda Guerra Mundial contra seus amigos pessoais, Adolf Hitler e Mussolini. O Brasil era uma ditadura lutando pela democracia fora dele. Somente em 1943 ocorreu a primeira manifestação contra o Estado Novo. Esta manifestação ocorreu em Minas Gerais e produziu o chamado Manifesto dos Mineiros, redigido e assinados por ilustres advogados e juristas.
A queda do Estado Novo se dá com a deposição de Getúlio em 29 de outubro de 1945, por meio de um movimento militar liderado por generais de seu próprio ministério. Como na constituição de 1937 não havia o cargo de vice-presidente, assume o poder o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que passaria três meses no poder até passar o poder ao Presidente eleito em 2 de dezembro de 1945: Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra de Getúlio Vargas. Mais uma vez mudamos, mas continuamos o mesmo.
O Presidente Dutra assumiu o poder em 31 de janeiro de 1946, no mesmo momento em que eram abertos os trabalhos para uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O clima era absolutamente outro. Havia mais liberdade. Houve um entendimento entre os principais partidos do Brasil – PSD e UDN – embora partidos como o PCB e PTB também estivessem presentes. Dutra não teve qualquer interferência na nova Constituição, nem mesmo quando ela reduziu o tempo do mandato de 6 para 5 anos. Marcado por críticas na utilização das divisas acumuladas durante a Guerra, ele reforçou a aliança com os Estados Unidos e se afastou da União Soviética. Deixou o governo em 31 de janeiro de 1951. Dutra, o ex Ministro da Guerra de Vargas representava uma ruptura ou uma continuidade? Pelo menos em sua política anticomunista e pelo domínio da imprensa, significou uma continuidade.
Eis que na eleição de 1950, a coligação feita entre o PTB e o PSP, lançaram a figura do ex-presidente Getúlio Vargas como candidato à presidência, lutando contra Eduardo Gomes. Getúlio, que havia fundado o PTB, nunca havia saído da cena política brasileira, sendo eleito Senador em 1945. Ele, obviamente, utilizava sua posição para alavancar a propaganda pessoal. Desta forma, ele sempre foi apresentado com alguém ligado ao povo. Populista que era, sempre se utilizou das leis que favoreciam aos trabalhadores sendo, até, considerado como o “pai dos pobres”. Sem dúvida, o povo tinha uma imensa admiração por ele. Admiração que cresceu quando ele assume a campanha nacionalista cujo lema dizia: “O petróleo é nosso”, o que viria a favorecer as indústrias. Um detalhe pitoresco na sua campanha de 1950 foi o Jingle que ele utilizou e que dizia: “Bota o retrato velho outra vez, bota no mesmo lugar…”. Mais uma vez Getúlio chegaria ao poder. O brasil mudou, mas continuou o mesmo. Ruptura ou continuidade?
Neste segundo período, que durou do dia 31 de janeiro de 1951 até seu suicídio em 24 de agosto de 1954, Getúlio foi fortemente acusado pela oposição em razão de trazer para o seu lado antigos aliados da Revolução de 1930, e de considerar seu ministério um “ministério de experiência”, palavras que feriram bastante os ministros. Getúlio, caracterizado por falar muito pouco, estava em um momento em que falava bastante e de forma agressiva. Seu governo foi marcado pelas críticas nas decisões administrativas e pelas acusações de corrupção. Ao aumentar o Salário Mínimo em 100%, em fevereiro de 1954, os militares fizeram um manifesto à nação como forma de protesto – na pessoa do General Gobery do Couto e Silva, e, em seguida ocorreu a demissão do Ministro do Trabalho, João Goulart. Percebe-se, claramente que Getúlio perdia apoio entre o exército, em razão da carta assinada pela maioria dos coronéis (que na década de 30 eram tenentes) e perdia apoio entre os trabalhadores, pela demissão de João Goulart. Inúmeros decretos e leis por ele criados, também criaram um clima de confronto no Parlamento.
Mas a crise acentuou-se com o famoso atentado da Rua Toneleiros, no qual o jornalista Carlos Lacerda saiu ferido e o Major Rubens Florentino Vaz, da Força Aérea Brasileira, perde a vida. Ora, como Getúlio havia concorrido contra o grande herói da FAB, o Brigadeiro Eduardo Gomes, e como o atentado foi perpetrado por dois dos guardas pessoais de Getúlio – Alcino João Nascimento e o auxiliar Climério Euribes de Almeida – inevitavelmente o tiro acabou por atingir a reputação de Getúlio. Em razão do atentado, o governo de Getúlio entra em crise e ele passa a ser pressionado pelos militares e pela imprensa a renunciar. Em 22 de agosto Getúlio recebe uma carta assinada por 19 Generais do Exército, dentre eles Castelo Branco, pedindo sua renúncia. Diante de tanta pressão, ele decide licenciar-se e, depois de assinar alguns documentos, se despede de seu ministro da justiça, Tancredo Neves, e vai para seus aposentos, no Palácio do Catete, onde, mais tarde cometeria suicídio.
Com a morte de Getúlio, assume o vice, Café Filho, um político conservador que, por ser de oposição, dá novas orientações para os caminhos do governo. Ele permaneceria no governo até o fim do mandato, portanto, por pouco tempo.
Com a morte de Getúlio, e o clima de enorme comoção popular, a candidatura de Juscelino Kubitschek à presidência – e de João Goulart à vice – tomam corpo. Ambos foram considerados, “herdeiros políticos” de Getúlio, o que mostra, que, mesmo uma mudança proveniente de um suicídio, fez com que o Brasil continuasse o mesmo.
A eleição de Juscelino Kubitschek para presidente em 1955 foi baseada no “mote” do desenvolvimentismo: “50 anos em 5”, e foi o resultado da coalisão de seis partidos e seu companheiro de chapa seria o gaúcho João Goulart. Eleitos, assumem o poder em 31 de janeiro de 1956. Seu governo foi marcado por uma relativa tranquilidade política e por um crescimento econômico, em que pese o aumento da dívida pública interna e externa. No fim de seu mandado as três marcas que restaram foram a concentração de renda, o crescimento da inflação e o arrocho salarial. Sem dúvida seu projeto de construir a Capital Federal – Brasília – no centro do país, contribuiu em muito para tudo isso.
Seu sucessor, que assumiu em 31 de janeiro de 1961, foi o conhecido político de oposição, Jânio Quadros, com a promessa populista de “varrer” a corrupção do governo. Jânio representava um verdadeiro prodígio político vez que, em apenas 15 anos ele sai de vereador até presidente da República. Para alguns, seu sucesso se deveu a seu revolucionário programa de governo que preconizava um progresso revolucionário. Ele pretendia modificar as fórmulas antiquadas e abrir novos horizontes que levariam o pais ao progresso, sem inflação e com democracia. Esse foi seu segredo. No entanto, ele renunciaria em 25 de agosto do mesmo ano em razão do que chamou de ações de “forças ocultas”. Como naquela época as chapas não envolviam o presidente e o vice, e Jânio não conseguiu eleger seu vice, assume como vice presidente João Goulart.
No dia em que Jânio apresentou sua renúncia (25 de agosto de 1961), João Goulart estava em uma visita diplomática à República Popular da China. Neste mesmo dia, os ministros militares do Exército –, Odílio Denys, da Aeronáutica –, Gabriel Moss e da Marinha -, Silvio Heck, que vinham em Jango alguém ligado ao comunismo, tentaram impedir a posse do Vice-Presidente e Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência.
A situação se tornara explosiva. E, nesse momento, surge, do Governador do Rio Grande do Sul – Leonel Brizola – o gesto que seria chamado de “Campanha pela Legalidade”, exigindo a posse de Goulart. Brizola, apoiado pelo General Lopes, comandante do III Exército, mobilizaram o Estado e se serviram de uma cadeia de mais de cem emissoras de rádio para defender essa causa. Brizola pedia que o povo saísse às ruas para defender a legalidade. A campanha recebeu o apoio dos governadores de Goiás e do Paraná. No Congresso também haviam parlamentares que questionavam o impedimento de Jango – que aguardava o desenrolar dos fatos em Montevidéu. A saída que foi encontrada para a crise e a teimosia dos militares, que acabariam promovendo um Golpe Militar, foi uma proposta feita pelo Congresso a fim de que o Brasil adotasse o parlamentarismo. O Presidente tomaria posse, preservando a Constituição, no entanto, parte de seu poder migraria para um Primeiro-Ministro, que seria o Chefe do Governo. Em 2 de setembro de 1961 o parlamentarismo foi aprovado pelo Congresso e no dia 8 Jango assume a Presidência, tendo Tancredo Neves, ministro do governo de Vargas, como Primeiro-Ministro, de setembro de 1961 até julho de 1962. Mais uma vez o Brasil mudou e as mesmas figuras se mantinham no poder impedindo que o legítimo presidente do Brasil assumisse.
Tancredo demitiu-se do cargo em julho de 1962 com a finalidade de concorrer às eleições daquele ano, que não só renovariam o Congresso como também elegeria os Governadores. Jango articulou a volta do presidencialismo nesse momento. Com a renúncia de Tancredo, o gaúcho Brochado Rocha torna-se primeiro-ministro até setembro do mesmo ano, sendo sucedido por Hermes Lima.
Em 1962, João Goulart divulgou seu Plano Trienal, elaborado pelo ilustre economista Celso Furtado, com a finalidade de combater a inflação e promover o crescimento econômico. Este plano envolvia as chamadas Reformas de Base e pretendia empreender reformas agrária, eleitora, fiscal, urbana, educacional e bancária, além da nacionalização de vários setores industriais. A grande oposição que se levantou contra esse plano, exercida pelos militares e pelos setores mais conservadores da sociedade, o fez soçobrar e o governo se viu impelido a pedir empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, que exigia cortes nos investimentos. Durante esse período, um plebiscito sobre a manutenção ou não do parlamentarismo foi convocado para janeiro de 1963 e, como resultado, o parlamentarismo foi largamente rejeitado. É óbvio que o governo atuou muito na propaganda do presidencialismo.
Durante todo o ano de 1963 ocorreu uma politização dos setores militares e uma agudização dos conflitos entre o exército e o governo. A situação política do Brasil era muito tensa e os militares pediam que o presidente declarasse estado de sítio. Como ele não o fez, até porque não houve apoio no Congresso, os oficiais passaram a construir uma operação golpista.
A construção desse golpe foi realizada pelos líderes do exército brasileiro e pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil Lincon Gordon. Antes de 1964, o governo americano promovia uma grande campanha publicitária contra o governo, nos rádios, televisão e cinemas, para preparar o apoio popular ao Golpe. O golpe militar, movido pelo temor das mudanças de base que modificariam o Brasil e, obviamente, desagradavam às elites e oligarquias rurais e, agora, também industriais e urbanas, teria o apoio do governo americano por meio da chamada Operação Brother Sam, pela qual, segundo documentos liberados pelo governo Americano, os Estados Unidos enviariam 100 toneladas de armas leves e munições, além de navios petroleiros (com 130 mil barris de combustíveis), uma esquadrilha de aviões de caça, um navio de transporte com 50 helicópteros plenamente armados, um porta-aviões, seis destroieres, um encouraçado, bem como um navio de transporte de tropas, além de 25 aviões C-135 para transportar material bélico. Esta frota, que estava no Caribe, se deslocou para o litoral brasileiro e ficou à espera – no litoral do Rio de Janeiro – para agir, caso houvesse alguma reação ao Golpe militar.
O golpe militar teve início com a iniciativa do General Olímpio Mourão Filho, sediado em Juiz de Fora, que na madrugada do dia 31 de março, deslocou suas tropas até o Rio de Janeiro. No correu em 1º de Abril de 1964, João Goulart vai até Porto Alegre e, lá chegando, no dia seguinte, vendo a situação que se instalara, ao invés de tomar ações enérgicas, optou por sair do Brasil, refugiando-se em Montevidéu. Em 1º de Abril o Congresso Nacional declarou a vacância da presidência da República e Ranieri Mazilli assume a presidência.
Durante os anos que se seguiram o Brasil assistiu uma sucessão de generais no poder. Desde o golpe, no dia 1º de abril de 1964, até a volta à redemocratização em 1985 envolveram os generais Castelo Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969), Emílio Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista Figueiredo (1979-1985). Em 8 de maio de 1985, o Congresso aprova algumas emendas que começam a eliminar vestígios da ditadura. Até essa data o país foi sacudido desde 1983 por um movimento chamado “diretas já” e que visitou todas as grandes cidades do Brasil. A luta era pela possibilidade de eleições diretas para Presendente, uma emenda do deputado Dante de Oliveira. Em abril de 1984 a emenda foi rejeitada e o Brasil continuou a viver um bi-partidarismo (ARENA, mais tarde PDS e MDB, mais tarde PMDB).
Foi feito uma eleição indireta para presidente no qual concorreram Tancredo Neves e Paulo Maluff. Tancredo ganha, no entanto, não assume porque adoece gravemente. Em seu lugar assumiria José Sarney, que sempre apoiou os militares e que passou 20 anos na ARENA, só indo para o MDB porque era preciso mais pessoas para criar o partido e “maquiar” a realidade de que o Brasil não vivia um totalitarismo. Sarney se tornou o primeiro presidente civil do Brasil desde 1964, assumindo em abril de 1985. Seu mandato foram reestabelecidas as eleições diretas para presidente, governador e prefeito, além de estabelecida uma Constituinte que nos legou uma nova Constituição Federal em 1988. Durante o seu governo, lamentavelmente, perdeu-se o controle da inflação o que ocasionou os chamados “Plano Cruzado”, o “Plano Cruzado II” e o “Plano Verão”. Além da imensa crise econômica, havia uma enorme corrupção instalada no poder central.
Em 1989, tivemos eleições para presidente e foi eleito o ex-prefeito biônico de Maceió Fernando Collor. Seu governo se inicia com o famoso “Plano Collor”. A implementação desse plano gerou um confisco do dinheiro que as pessoas tinham na poupança, além da abertura do mercado nacional para as importações e por um programa de desestatização das empresas nacionais. O resultado foi uma profunda recessão econômica, o aumento do desemprego, e uma inflação que chegou aos 1200% ao ano. Mas o maior problema de todos foi seu envolvimento com a corrupção política envolvendo o tesoureiro de sua campanha, Paulo César Farias. Essas acusações levaram a um processo de impeachment. Antes que o processo fosse aprovado, Collor renunciou em 29 de dezembro de 1992 e seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência. Em outras palavras, o vice do que saiu, assumiu.
Itamar Franco assumiu à presidência em 29 de dezembro de 1992 e permaneceu até 1 de janeiro de 1995. Uma vez que o Brasil estava vivendo momentos conturbados, ele procurou marcar sua presidência pela transparência e pela relação com os demais partidos. Seu mandato foi marcado, especialmente pelo plebiscito de 1993 que decidiria se o Brasil seria uma República ou uma Monarquia e um país presidencialista ou parlamentarista. A segunda marca de seu governo foi o chamado “Plano Real” de fevereiro de 1994, que procurava estabilizar a economia e barrar a corrente de hiperinflação.
Em janeiro de 1995 assume a presidência do Brasil o antigo ministro da economia de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Sociólogo e professor universitário, ele deu continuidade às reformas econômicas e a inflação continuou a baixar. Ele investiu muito no processo de privatização e de abertura do mercado, seguindo a agenda neo-liberal. Seu governo conseguiu aprovar leis na área administrativa e econômica que ensejaram a reeleição para cargos executivos.
Em 1998 ele venceu, novamente, a eleição presidencial tornando-se o primeiro presidente reeleito. Durante seu segundo mandato, crises internacionais, associado à desvalorização do Real e da crise do apagão, além de outros eventos que ocorreram e que acabou gerando uma perda de popularidade. Mais tarde o nome de Fernando Henrique seria ligado ao escândalo do recebimento de propina da Petrobras desde seu primeiro mandato, em 1997.
Nas eleições de 2002 ele lança como candidato à presidência um de seus principais aliados e seu ex-ministro da Saúde, José Serra que perde a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume em 1º de janeiro de 2003. Lula representou a primeira ruptura no projeto de permanência no poder, das classes dominantes rurais e urbanas ligadas ao agronegócio e às grandes indústrias.
Em 29 de outubro de 2006, ele é reeleito presidente, vencendo o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) com mais de 60% dos votos válidos. Sua reeleição foi o resultado da ascensão da classe D e E até os níveis de consumo, do aumento do poder aquisitivo dos mais pobres, de programas sociais como o “bolsa família”, etc. Lamentavelmente, no seu segundo governo começam a surgir notícias acerca do chamado “escândalo do mensalão”, por meio do qual o governo Lula “pagava” propina para inúmeros deputados afim de ter maioria no Congresso e apoio para suas medidas. Além de Lula, este escândalo atingiu integrantes do PPS, PTB, PR, PSB, PRP e PP, sendo objeto de ação penal movida pelo Ministério Público no STF. Mais tarde surgiria o conhecido “mensalão mineiro” ou “mensalão tucano”, ou ainda “tucanoduto”, que foi o escândalo de peculato e lavagem de dinheiro que ocorreu na campanha de reeleição de Eduardo Azeredo (PSDB) ao governo de Minas Gerais em 1988, e administrado pela mesma pessoa do mensalão de Lula, o empresário, Marcos Valério. Em resumo, este estado de coisas já existia bem antes do primeiro governo Lula e, com ele, não apenas teve prolongamento, mas se estendeu até o Congresso Nacional.
Neste momento, o governo Lula representava exatamente tudo aquilo que sempre desprezou: corrupção e fisiologismo político. Boa parte de seus ministros são acusados, o presidente do PT e o tesoureiro do partido são igualmente envolvidos e a “estrela” do PT caiu ao chão. O STF entra em cena e condena boa parte dos acusados, dentre os quais, a principal liderança do PT no Brasil. Em outras palavras, o que parecia uma mudança, se revelou em uma continuidade.
Depois de dois mandados, Lula, assim como seu antecessor, procurou, também, eleger seu sucessor. E conseguiu. Em janeiro de 2011 foi eleita presidente do Brasil a mineira Dilma Rousseff (PT). Ela – que era ministra das Minas e Energia, Presidente do conselho diretor da PETROBRAS, passou a ser Ministra-Chefe da Casa civil, substituindo José Dirceu, que seria preso mais tarde -, era agora, a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil. Seu mandato durou de 2011 até 2014. Embora com gestos voltados para a defesa dos direitos humanos, logo em seu primeiro ano de mandato, sete ministros (Antônio Palocci da Casa Civil, Alfredo Nascimento dos Transportes, Wagner Rossi da Agricultura, Pedro Novais do Turismo, Orlando Silva do Esporte e Carlos Lupi do Trabalho) demitiram-se depois de denúncias de corrupção. Mesmo o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, pediu demissão, acusando o governo Dilma de “atrapalhado”. No fim do seu governo Dilma “maqueou” toda a realidade econômica “represando” uma série de aumentos para poder ser eleita.
Dilma assume seu segundo mandato em 1º de janeiro de 2015 depois de ter vencido Aécio Neves no segundo turno. Eis que, pouco tempo depois de tomar posse, não só os aumentos – na energia, na gasolina, etc. -, e os escândalos começam a ocorrer, levando o Brasil a um dos piores momentos de recessão e de crise política e moral. A chamada “Operação Lavajato” atinge ministros de seu governo e o próprio Lula que, para ser “blindado”, é nomeado Ministro para poder ter “foro privilegiado” e escapar da ação do Juiz Sérgio Moro, de Curitiba.
Durante esse momento, o vice-presidente, Michel Temer (PNDB) passa a se “descolar” da presidente para não ver cair sobre si qualquer forma de acusação. Ele lança um programa próprio de governo para o PMDB e se aproxima mais de Renan Calheiros (Presidente do Senado) e Eduardo Cunha (presidente da Câmara dos Deputados). Quanto a Eduardo Cunha, que mentiu ao afirmar que não tinha contas fora do Brasil, em seu pronunciamento à Operação “lava jato”, e que foi denunciado na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, vem procrastinando e atrapalhando as reuniões da Comissão a sete meses. Essa, além de outras acusações, foi a causa de ter sido afastado da presidência da Câmara dos Deputados.
Tendo sido afastada por meio do processo de Impedimento, Temer assume a presidência interina e nomeia seu ministério. O primeiro problema que ele tem é que 8 de seus ministros estão respondendo a processos de corrupção. Já no primeiro mês de governo Temer perdeu dois ministros por se manifestarem contra a Operação “Lava jato”, e se calou quando surgiram denúncias contra seu ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves. Diante de todo esse turbilhão, sabemos que as delações de Delcídio do Amaral ainda vão render muito.
Na última semana, paradoxalmente, aumentou as carreiras de estado justamente em um momento em que temos um déficit de 170 bilhões de reais, beneficiando apenas quem ganha mais na sociedade – e no caso do judiciário, promovendo um efeito cascata – apenas para receber apoio.
O presidente interino é também citado na delação de Leo pinheiro e, em razão desse e de outros fatores, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, pediu a prisão de José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá, que tentavam interferir na operação “Lava jato”.
Lamentavelmente, o presidente interino, ao invés de começar com uma substancial reforma política e tributária, procura fazer uma reforma previdenciária. Porque? Porque mais uma vez a classe média pagaria a conta.
Qual o resumo de tudo isso? Toda a nossa história demonstra que as grandes mudanças ocorridas em nosso pais, na realidade, não foram mudanças, mas apenas uma espécie de “faz de conta”, para satisfazer ou enganar à população. Lamentavelmente, essa população se satisfaz com o “pão e circo” que lhe é apresentado diuturnamente. A educação, que poderia mudar a realidade, é deixada de lado, e qualquer outro tema assume seu lugar.
Temos um presidente do Senado corrupto, um presidente da Câmara dos Deputados corrupto e manipulado seus comparsas para manter-se no poder e um Presidente interino que não pode repetir a mesma frase que Lula disse com respeito à José Dirceu: “Eu não sei de nada!”. Na realidade, se há uma verdade que pode ser dita sobre o PMDB é que esse é um partido “camaleão” que se alia com quem precisar se aliar para se manter no poder. Sempre foi assim e continua sendo.
O brasileiro, lamentavelmente, foi muito bem caracterizado pela obra de Gilberto Freire chamado Casa Grande e Senzala. Nesta obra, na qual o autor perguntava o que é ser brasileiro? Ele responde dizendo o que ocorreu na formação da identidade do brasileiro foi uma degradação das raças atrasadas pelo domínio das raças adiantadas. O que ele queria dizer com isso? Que a casa-grande dava abrigo e sustentação a uma rotina comandada pelo senhor de engenho, cuja estabilidade patriarcal se apoiava no açúcar e no escravo. Era o suor do negro que dava o alicerce da casa-grande e a transformava em uma fortaleza. Em resumo, ou bem rompemos com esse modelo de colonização onde os donos de engenho, os coronéis, os latifundiários e a elite rural e industrial dominam os políticos e os mantêm como lacaios que lutam por seus interesses e repensamos seriamente a sociedade e a política no Brasil, ou nada mudará.
O Brasil é um pais em que as coisas mudam para continuar do mesmo jeito e onde as rupturas vêm sempre acompanhadas da continuidade. É em razão disso tudo que encerro minhas palavras com a citação de um diplomata Brasileiro na França entre 1956 e 1964, chamado Carlos Alves de Souza Filho que disse: “O Brasil não é um pais sério!”.
ACERCA DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Discutir acerca da desobediência civil é sempre trilhar um caminho tortuoso, principalmente por que as pessoas preferem viver em uma sociedade injusta, mas estável, que lutar por seus direitos e desobedecer as leis ou os comandos estabelecidos por quem exerce o poder político.
Antes de iniciar este tema seria interessante buscar uma breve definição sobre o que seria desobediência civil. Chris Rohmann nos diz que a desobediência civil é o “desacato intencional e não-violento à lei, ou ao governo ou a seus representantes, considerados injusto ou ilegítimo” (ROHMANN, 2000, p. 105). Este termo foi criado pelo filósofo, historiador e pesquisador Henry David Thoreau (1817-1862) quando, em 1849 publicou sua obra mais famosa: Desobediência Civil.
Apesar de aceitar a importância da existência de um governo ele acreditava que as pessoas não eram obrigadas a aceitar ou concordar com seus atos injustos ou imorais. Muito ao revés, ele argumentava que as pessoas tinham o dever de fazer alguma coisa para expor e derrotar o que estava errado, preservando, assim, a integridade moral. Rohmann (2000, p. 105) nos lembra que ele passou um curto período preso “quando se recusou a pagar um imposto individual porque o governo dos EUA permitia a escravidão e estava tentando ampliá-la na Guerra do México de 1846-48”. Este fato foi bastante interessante. Conforme cita Valter Costa (Apud Jim Powell, In Filosofia, nº 45, sd, p. 13) “Em 1840, alguém adicionara seu nome à lista de membros da First Parish Curch de Concord, e o tesoureiro da cidade exigiu que Thoreau pagasse o dízimo” (…) “Quando ele se recusou a pagar, funcionários públicos ameaçaram prendê-lo. Thoreau exigiu que seu nome fosse retirado da lista de membros da igreja. ‘Eu, Henry Thoreau’, escreveu, ‘não desejo ser considerado membro de nenhuma sociedade à qual eu não tenha me associado’”. Como já vimos ele acabou preso, ainda que por uma noite, vez que sua Tia Mary, pagou sua dívida.
Para este pensador, a existência da escravidão nos EUA, tornava seu governo injusto e ilegítimo e, portanto, não deveria ser reconhecido pelas pessoas. Ele dizia que “o Estado facilmente se tornava o veículo para esse tipo de injustiça quando os seus cidadãos concordavam, passivos, com ele. Ele comparou os homens de sentimentos morais indiferentes a paus ou pedras usados na máquina da opressão. Para ele, não eram só os senhores de escravos que seriam moralmente culpados pela escravidão” (KELLY, 2013, p. 186, 187). Qualquer cidadão que nada fizesse ou dissesse contra a escravidão, estava tacitamente, concordando com ela. Ouçamos suas próprias palavras: “Será a democracia, tal como a conhecemos, o último desenvolvimento possível em matéria de governo? Não será possível dar um passo mais além no sentido do reconhecimento e da organização dos direitos do homem? Jamais haverá um Estado realmente livre e esclarecido até que este venha a reconhecer o indivíduo como um poder mais alto e independente, do qual deriva todo seu próprio poder e autoridade, e o trate de maneira adequada. Agrada-me imaginar um Estado que, afinal, possa permitir-se ser justo com todos os homens e tratar o indivíduo com respeito, como um seu semelhante; que consiga até mesmo não achar incompatível com sua própria paz o fato de uns poucos viverem à parte dele, sem intrometer-se com ele, sem serem abarcados por ele, e que cumpram todos os seus deveres como homens e cidadãos. Um Estado que produzisse esse tipo de fruto, e que o deixasse cair assim que estivesse maduro, prepararia o caminho para um Estado ainda mais perfeito e glorioso, que também imaginei, mas que ainda não avistei em parte alguma” (THOREAU, Apud COSTA In Filosofia, nº 45, sd, p. 15).
Enquanto este Estado que respeitasse a pessoa e sua dignidade não surgisse, caberia ao cidadão, para registrar sua desaprovação, ir muito muito mais além do que o simples voto contra no dia da eleição. Nosso senso de justiça natural deveria nos impulsionar a gestos concretos tais como: o não reconhecimento do Estado, a não cooperação com seus funcionários, não pagar impostos, etc.
Apesar de ter cunhado este termo, o tema não tem origem nele. Na realidade é bem anterior. Quando nós nos voltamos para a história encontramos nas obras de Sófocles (Antígona) as primeiras teses levantadas contra as leis injustas escritas por homens e que ferem às leis eternas escritas pelos deuses.
Na Idade Moderna João Calvino (1509-1564) representou um prenúncio dessas teses. Teólogo, filósofo e jurista humanista, Calvino se tornou administrador da cidade de Genebra e lá desenvolveu sua obra política e de reformador religioso. Seu pensamento teológico e político pode ser encontrado em suas Instituições da Religião Cristã. Lá veremos que ele compreendia que os homens deveriam obedecer às autoridades e ao direito dos príncipes e magistrados, porque instituída por Deus. No entanto, “porque toda a autoridade legítima, seja na igreja, seja na sociedade civil, é derivada de Deus, deve ser restrita e condicional, subordinada à lei divina” (HÖPFL, In REFHEAD, 1989, p. 93). Calvino, que no início de sua vida defendia a monarquia, passou a identifica-la com toda sorte de poder sem controle e arbitrariedade, passando a admitir elementos da democracia (politia, a forma não corrompida de democracia em Aristóteles) como uma posição mais adequada ainda que imperfeita.
No entanto, as autoridades deveriam sempre lembrar – e a igreja tinha um papel fundamental nisso – que foram colocada em seu lugar pelo próprio Deus. Höpfl nos lembra que era “dever dos cristãos apoiar ativamente esses ‘magistrados populares’, onde estivessem estabelecidos, na sua resistência à tirania” (HÖPFL, In REFHEAD, 1989, p. 97). Embora ele cessasse por aqui, seus seguidores passaram a defender o que passou a ser chamada de “resistência política” contra todos os que criam leis que contrariam a vontade de Deus.
Resumindo a situação, Paul Tillich diz que embora Calvino entendesse que os cidadãos individuais não devessem iniciar a revolução, “os magistrados menos graduados poderiam fazê-lo sempre que a lei natural, a que todos se submetem, começasse a ser violada”. E conclui dizendo: “todos nós, numa democracia como a nossa, em que somos magistrados menos graduados, temos a mesma possibilidade” (TILLICH, 1988, p. 249).
Por isso podemos compreender que Thoreau recebeu uma sólida influência, não apenas de sua formação clássica (ele era formado em literatura clássica e línguas), mas também de sua formação calvinista – já que sua família era participante da tradição hunguenote francesa.
Depois dele uma plêiade de pensadores e ativistas seguiram suas teses. Dentre eles, os mais famosos são Tolstoi (1828-1910), Gandhi (1869-1948) e Martin Luther King Jr (1899-1968) que escreveu as seguintes palavras enquanto estava preso na cadeia de Birminghan em 1963: “Qualquer lei que eleve a personalidade humana é justa. Qualquer lei que degrade a personalidade humana é injusta… Permito-me afirmar que o indivíduo que infringe a lei que a consciência lhe diz ser injusta… está, na verdade, expressando o mais alto respeito pela lei” (KING, Apud ROHMANN, 2000, p. 105). Para King era dever de qualquer cristão se insurgir de forma não-violenta, contra qualquer lei ou decisão judicial que ferisse o direito natural, a dignidade da pessoa humana ou às Escrituras Sagradas.
Lamentavelmente Thoreau é confundido com um anarquista. Mas o que ele defendia não era bem isso. Sua principal tese diz que ele não pede especificamente por nenhum governo, mas pede por um governo melhor, “o melhor governo é o que não governa”. Quando os homens estiverem devidamente preparados, esse governo virá. Para Thoreau, o homem rico sempre está vendido ao Estado que o tornou rico. Ou falando de outra forma, para ele, quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos virtude revela. Para esta pessoa a única e difícil questão que ele enfrenta é: de que forma vai gastar seu dinheiro. Estas pessoas jamais poderão ter suas teses fundadas no terreno da moral.
Referência bibliográfica
COSTA, Valter. Henry David Thoreau, In Filosofia, nº 45, São Paulo: Mythos, sd
KELLY, Paul [et al]. O livro da política. São Paulo: Globo, 2013
REFHEAD, Brian (Org.) O pensamento político de Platão à otan. Rio de Janeiro: IMAGO, 1989
ROHMANN, Chris. O livro das ideias. Rio de Janeiro: Campus, 2000
TILLICH, P., A História do Pensamento Cristão, São Paulo, ASTE, 1988
ACERCA DA ANGÚSTIA
Talvez este seja um dos temas mais importantes e necessários para ser discutido em nossos dias. Mas nossa aproximação não deve se dar de forma acrítica, porém, com um sério embasamento filológico e filosófico.
Etimologicamente, a apalavra angústia nos vem do latim (angor) e significa, tormento, aperto, estrangulamento. Não é sem razão que as pessoas angustiadas se sentem oprimidas e com um aperto em sua garganta.
No entanto, quando trabalhamos este termo de uma perspectiva filosófica ele não tem, necessariamente, uma conotação negativa. Na metafísica, por exemplo, ela nos fala de nosso destino no mundo.
Quem primeiro trouxe esse termo até um patamar mais elevado foi o filósofo dinamarquês Sorem Kierkegaard, pai do pensamento existencialista, no século XIX. Vamos citar três autores e ver, em cada um deles como esse conceito se tornou importante.
- Em Kierkegaard. Escrevendo em seu O conceito de angústia, ele nos diz que “A angústia é a vertigem da liberdade”. Como podemos perceber, nosso autor faz referência a uma experiência bem peculiar quando fala de angústia: a vertigem. Vertigem é o sentimento de que as coisas estão girando em torno de si o que faz com se sinta tontura ou que se pense que vai cair. A angústia, portanto, só ocorre quando se está nas alturas. Essa metáfora é muito usada por Nietzsche para descrever a condição do filósofo que, estando nas alturas, consegue ver o que ninguém percebe. Por outro lado, a angústia, também está ligada à liberdade. Só se angustia aquele que, em razão de sua consciência, sabe que é livre. O escravo, porque não tem escolha, não se angustia. Desta forma, a angústia é um sentimento nobre somente experimentado pelos que são livres para poder escolher com autocontrole e autodeterminação a via ou o caminho que pretende seguir. A angústia é a abertura para as possibilidades.
- Em segundo lugar, para o conhecido filósofo francês Jean-Paul Sartre, em seu O ser e o nada, “A angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser; é na angústia que a liberdade é em seu estar em questão para si mesma”. Como vemos, ele segue na mesma linha de pensamento de Kierkegaard associando a angústia à liberdade.
- Finalmente, segundo o ilustre pensador alemão Martin Heidegger, a angústia toma um sentido novo. Para ele, escrevendo em O que é a metafísica?, “A angústia é esta situação efetiva fundamental que nos coloca diante do nada”. Na angústia, escreve o filósofo alemão, o homem “sente-se na em presença do nada, da impossibilidade possível da sua existência”. Com essas palavras Heidegger nos deixa claro que seu conceito de angústia constitui essencialmente o que ele chama de “o ser para a morte”. Em outras palavras, a aceitação da morte como “a possibilidade absolutamente própria, incondicional e insuperável do homem” (sein und zeit, § 53). Mas nem por isso a angústia deve ser vista como algo negativo. Saber que somos um “ser-para-a-morte” não deve nos entristecer, antes, deve nos fortalecer para vivermos uma vida autêntica, ou seja, uma vida cujas decisões foram tomadas livremente e não impostas por um outro ser. A verdadeira consequência da angústia deve ser o destino, ou seja, ela nos liberta das possibilidades nulas e nos abre as portas para as autênticas (Ibid. § 68b). Quando falamos em autenticidade estamos falando daquilo que emana da personalidade de quem é livre. Para Heidegger, em seu (sein und zeit), “[A realidade humana está colocada] […] diante da possibilidade de ser ela mesma, mas de ser ela mesma numa liberdade apaixonada, libertada de ilusões do ‘se’ [on], numa liberdade efetiva, certa de si mesma e que se angustia de si mesma”. A angústia, portanto, ao colocar o homem frente à sua finitude, o coloca, também, diante das escolhas que tem que fazer in-der-welt-sain, ou seja, o ser-no-mundo, pleno de sua mundanidade e de sua temporalidade.
Somente os livres e os que têm ciência de sua finitude se angustiam. Se angustiam porque querem viver o que ainda têm de vida da forma mais autêntica que podem. Os animais e os escravos, os que não têm escolhas a fazer, porque já foram feitas por eles, não precisam se angustiar, porque já estão mortos.
REFLEXÕES SOBRE A REVOLUÇÃO DIGITAL
Se há uma realidade inarredável de nossas vidas hoje é a da onipresença das tecnologias ligadas à internet e à comunicação. Parece que as crianças de hoje já nascem “chipadas” e com um conhecimento muitas vezes superior à de seus pais, no quesito manusear um computador ou um “smartfone”.
Sabemos que, de uma perspectiva tecnológica, o mundo passou por uma grande mudança em meados do século XVIII com a Revolução Industrial. Muito da vida cotidiana das pessoas foi afetada pela energia à vapor, pelas novas tecnologias têxteis e pelo incremento de novas máquinas e ferramentas.
Da 2º metade do século XIX até a 1ª Guerra Mundial o mundo assistiu a 2ª Revolução Industrial, também chamada de Revolução Tecnológica. Com ela tivemos a produção de ferro e aço em alta escala; a utilização do petróleo e de produtos químicos; o desenvolvimento da energia elétrica e, com ela, da comunicação.
A 3ª Revolução Industrial é chamada de Revolução Digital e é marcada pela substituição de uma realidade analógica, mecânica e eletrônica por tecnologias digitais que surgem em meados do século XX, chegando até ao desenvolvimentos dos PC’s e arquivos digitais oriundos do Vale do Cilício. Foi com a década de 90 que as coisas parecem ter dado um “boom” e atingido proporções nunca antes imaginadas.
Hoje, este mundo da hiperinformação, exerce uma enorme influência sobre nossas vidas, nossos relacionamentos e nossos comportamentos. Parece que, de uma perspectiva filosófica, nós voltamos ao dualismo platônico que dividida o mundo entre o mundo das ideias e o mundo real.
Para Platão, o mundo das ideias era perfeito, pleno e servia de modelo para o mundo real, que era apenas uma “sombra” imperfeita daquele mundo superior e eterno. Hoje, também estamos divididos entre e vida digital e a real. E, à semelhança dos filósofos platônicos, acreditamos que o mundo real é apenas uma “sombra” daquilo que é muito mais importante, o mundo digital.
Nossa comunicação foi afetada por essa crença. Não há como negar que as relações humanas foram afetadas pelo surgimento da internet. Não olhamos mais nos olhos das pessoas. Temos que ter um smartfone, um tablete, um netbook ou notebook para poder acessar as outras pessoas. Sem isso estamos perdidos no mundo.
Além do mais, precisamos estar conectados em algum tipo de “rede social” tal como o facebook para que tenhamos existência. Quem não tem um, não “existe”. Ademais, se para existir nesse mundo temos que ter o facebook, temos que utilizá-lo para que todos saibam onde estamos e o que estamos fazendo. Pior, sem ele não teríamos “amigos” e ninguém “curtiria” nossas postagens. Imagine a pessoa que conseguiu chegar a ter 2.000 amigos no facebook. Agora imagine o que aconteceria se ela postasse algo e ninguém, nenhum de seus 2.000 amigos curtisse ou compartilhasse sua postagem. Você tem ideia da depressão que isso pode gerar em uma pessoa que vive no mundo digital? Isto é real! Há estudos que mostram que pessoas entram em depressão se suas postagens não forem “curtidas”. Até que ponto chegamos?! Não se engane, você não tem 2.000 “amigos”. Você está só em um mundo de ícones, informação e bytes. Seja sincero consigo mesmo, se você tiver muitos amigos, terá, no máximo, uns quatro ou cinco. O resto não conta pra nada.
Conheço inúmeras pessoas que já nem falam pelo telefone. Não adianta ligar. Elas só estarão disponíveis pelo WhatsApp. E mesmo a linguagem não é mais escrita em língua corrente, mas em um código cifrado que envolve contrações de palavras e a utilização de “emojis”. Concordo com a opinião de Noam Chomsky, quando diz: “(…) diz-se que aumenta a comunicação entre as pessoas. Mas trata-se de uma comunicação muito superficial. O que os jovens têm que aprender é a relacionar-se uns com os outros como seres humanos. Isto implica estar frente a frente. Nós não somos marcianos! (…) os jovens relacionam-se com pessoas imaginárias. E nesse sentido a internet é um perigo porque cria a ilusão de que se está em contacto com outros quando, na realidade, se está completamente isolado” (sic) (CHOMSKY, In CAVALCANTI. s.d. p. 40). Esta é a grande mudança que está ocorrendo na comunicação mundial. Estamos vivendo em um mundo de relacionamentos superficiais onde a profundidade está cada vez mais perdida.
Este é o mundo que é valorizado em nossa geração. O mundo onde os fatos só são verdades se fazem parte e aparecem no mundo virtual. O real não nos interessa mais. O toque, o cheiro, o olhar, o tom da voz, tudo isso foi substituído pelo teclado de seu smartfone e pela “conexão” que o WhatsApp promete proporcionar.
Afinal, não estaríamos mesmo ressuscitando o dualismo platônico? Será que nosso tempo, dinheiro, atenção, enfim, será que toda a nossa vida não está voltada hoje para o mundo digital? Será que nosso sonho de consumo não é comprar o novo lançamento da Apple? Se nossa resposta for positiva, então realmente podemos começar a ter uma séria preocupação com o futuro de nossos filhos e de nossa humanidade. Sim, porque diante de nós, nos espera um mundo onde as dores reais e concretas de nada valerão; um mundo onde os valores mais cobiçados estarão relacionados ao consumismo e à aquisição, ao invés da justiça, da solidariedade e do amor. Quem viver verá.
BONS TEMPOS AQUELES….
Muito pouca gente hoje em dia conhece uma linda letra de Altemar Dutra (1940-1983) chamada “Meu velho”. Aquele ilustre menestrel dos anos 60s-80s, em certo momento da música dedicada a seu pai, diz: “Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes”.
Eu, com pouco mais de cinquenta anos devo confessar que as vezes sinto o mesmo. Lamentavelmente não conheci meu pai, que faleceu quando eu tinha apenas um anos e meio. Mas me recordo muito bem de uma época em que o respeito era comum. Quando o professor entrava na sala, todos ficavam de pé; quando se queria dizer algo, levantava-se a mão; quando se queria sair, pedia-se licença.
Hoje as chamadas “três palavras mágicas” (por favor, obrigado, com licença) são esquecidas. Principalmente nas chamadas redes de comunicação, como o whattsap. Lá as pessoas já não dizem nem “bom dia”, nem “obrigado”, nada… Porque esse desrespeito? Porque as pessoas perderam seu valor ontológico e são vistas a partir de uma leitura econômica. Ou seja, você já não vale nada pelo fato de ser uma pessoa humana, mas pelo fato de ter dinheiro ou um posição social elevada. Se você estiver bem vestido e for um reconhecido membro da sociedade, as portas se abrem e você entra antes de todos. Mas se for uma pessoa “qualquer”, espere na fila. Lamentavelmente vivemos em uma sociedade onde o Ter é mais importante que o Ser.
A segunda frase da letra diz: “…e dos mais crentes”. De fato, faz tempo em que a palavra das pessoas valia algo. Recentemente marquei um encontro com um casal para conversarmos em um determinado horário. Me desloquei por cerca de 20Km para ir até o local marcado. Estava lá dez minutos antes. Esperei quarenta minutos e liguei para o casal para saber se já estavam chegando. Eis que o noivo disse que não poderiam ir e deu sua desculpa. Pergunto: custava ter ligado antes para avisar? Não, não custava nada. Mas a palavra, hoje, parece não ter mais valor.
Certo domingo, enquanto esperava o momento de iniciar o batizado de uma criança conversava com seu pai. Ele, um estrangeiro, me disse como era difícil aceitar a “lógica” dos brasileiros. Ele marcava toda a agenda com um mês de antecedência e, quando chegava no Brasil, para se encontrar com as pessoas, no horário marcado, ouvia desculpas do tipo: vamos ver se depois conversamos…, ou, você pode voltar mais tarde? Porque isso ocorre? Porque o que se diz não vale mais nada, hoje.
Eu lamento e sofro com essa situação e faço coro com os tantos – que eu sei que existem – que ainda levam a sério o respeito e a palavra. Mas tenho a impressão que essa é uma guerra que acabaremos perdendo. Parece que o mundo não entende que com a perda do respeito e da fé nos outros, todos perdem. Mas, como ainda sou do “tempo do respeito e dos mais crentes”, continuo acreditando que um milagre possa acontecer e, quem sabe, um surto de educação e civilidade não possa acontecer nesse pais. Finalmente, acredito piamente que a saída está na possibilidade do encontro. Lembro de Martin Buber que dizia: “O ser humano se torna eu pela relação com o você, à medida que me torno eu, digo você. Todo viver real é encontro.” Quando as pessoas tiverem possibilidade de se encontrarem, se reconhecerem e se identificarem, talvez aprendam a desenvolver a empatia e não façam ao “outro” o que não desejam para “si”.
PROTÁGORAS E O PRAGMATISMO
Um dos maiores representantes da filosofia pré-socrática foi o famoso sofista Protágoras. Nascido em Abdera, na Trácia, em 481 a.C., ainda jovem mudou-se para Atenas onde angariou um grande número de discípulos, particularmente entre os jovens ricos que desejavam seguir uma carreira política. Protágoras é um daqueles contado entre os que seriam chamados de sofistas, ou seja, aqueles “professores itinerantes que prosperaram em Atenas no século V e no início do século VI a. C. O termo ‘sofista’ deu origem às palavras ‘sofisma’, ou argumento enganoso, e ‘sofisticado’, com a conotação de ‘falsa intelectualidade’; mas a palavra grega sophistes denotava apenas o mestre de uma arte, um especialista hábil, ou um sábio” (ROHMANN, 2000, p. 372).
Protágoras também foi muito valorizado por políticos como Péricles, que o encarregou de redigir a legislação para a colônia de Turi, em 444 a.C. Sobre sua morte pouco sabemos, exceto que deve ter ocorrido antes do fim do 5º século.
Sobre Protágoras o que temos é advindo de duas fontes: um texto que ele próprio escreveu, chamado As Antilogias, da qual temos apenas poucos relatos, e o testemunho de Platão que lhe dedicou um de seus maiores diálogos (Protágoras), conservando seu pensamento, e no Teeteto, onde Protágoras aparece como um das personagens.
No que diz respeito à doutrina do conhecimento de Protágoras, ou à sua gnosiologia, podemos perceber que ele recebeu uma certa influência de Heráclito ao reagir contra um mundo “dado” e “estável” onde as coisas são o que são e não existem mudanças. Por isso, não seria errado afirmar que seu pensamento gnosiológico pode ser resumida em sua famosa frase: “O homem é a medida de todas as coisas; das que são, enquanto são, e das que não são, enquanto não são” (PROTÁGORAS Apud PLATÃO, In MONDIN, 1985, p. 41), que no grego original, teria sua primeira parte escrita da seguinte forma: Pânton chremáton metron estin ánthropos. O verdadeiro significado desta expressão, contudo, ainda é bastante controvertido entre os filósofos. Para Mondim (1985, p. 41), por exemplo, enquanto no Teeteto “Protágoras entende por homem o indivíduo”, levando-nos a compreender que o verdadeiro conhecimento variaria de homem para homem, “no Protágoras ele parece entender por homem não o indivíduo, mas a humanidade em geral” (MONDIN, 1985, p. 41). Em ambos os casos, contudo, estamos diante de um pensamento relativista que seria absoluto, no primeiro caso, e mais moderado no segundo. Em todo caso, para ele, não existe uma verdade absoluta.
Com o seu famoso princípio, enunciado acima – também chamado de princípio do homo mensura -, ele pretendia, afirmam Giovanni Reale e Dario Antiseri, “negar a existência de um critério absoluto que discrimine ser e não-ser, verdadeiro e falso. O único critério é somente o homem, o homem individual: ‘Tal como cada coisa aparece para mim, tal ela é para mim; tal como aparece para ti, tal é para ti’. Este vento que está soprando, por exemplo, é frio ou quente? Segundo o critério de Protágoras, a resposta é a seguinte: ‘Para quem está com frio, é frio; para quem não está, não é’. Então, sendo assim, ninguém está no erro, mas todos estão com a verdade (a sua verdade)” (REALE & ANTISERI, 1990, p. 76, 77).
A importância de Protágoras dentro do ambiente político de Atenas é bastante significativa e demonstrada pelo fato de que “No século V a.C., Atenas tornou-se uma cidade-estado importante e próspera e, sob a liderança de Péricles (445-429 a.C.), entrou em sua ‘Era de Ouro’ de erudição e cultura. Isso atraiu pessoas de toda a Grécia – e, para aqueles que conheciam e sabiam interpretar a lei, havia vantagens. (…) Não havia advogados, mas uma reconhecida classe de conselheiros logo se desenvolveu. Nesse grupo estava Protágoras” (VÁRIOS, 2011, p. 42). Ter alguém que ensinasse a arte da retórica e da persuasão, seria muito significativo.
Conforme ensina Diógenes Laércio (In REALE, 1993, p. 202), Protágoras afirmava nas Antígonas que “em torno a cada coisa existem dois raciocínios que se contrapõem entre si”. Em outras palavras, acerca de qualquer coisa é possível dizer e contradizer, invocando razões que se anulam reciprocamente. Na Retórica, Aristóteles conclui dizendo que Protágoras ensinava a “tornar mais forte o argumento mais frágil” (ARISTÓTELES, In REALE, 1993, p. 202, n.8). E é seguindo nesse sentido que podemos deduzir ou reconstruir seu objetivo. Assim Escreve Léon Robin em seu texto Storia del pensiero grego: “Posto que o seu objetivo é o de armar o aluno para todos os conflitos de pensamento ou de ação dos quais a vida social pode ser a ocasião, o seu método será, portanto, essencialmente antilogia ou a controvérsia, a oposição das várias teses possíveis sobre determinados temas ou hipóteses, convenientemente definidas ou catalogadas; trata-se de ensinar a criticar e a discutir, a organizar um torneio de razões e contra razões” (ROBIN, In REALE, 1993, p. 202, n.9). Por isso Protágoras dá muito valor à arte da retórica, ou seja, da “faculdade de ver teòricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão” (sic) (ARISTÓTELES, 1959, p. 24).
Existe, por certo, uma evidente relação entre as teses relativistas de Protágoras e o pragmatismo. José Renato Salatiel, nos informa que, “Em sua formulação original, feita por Charles Sanders Peirce (1839-1914) em 1877-78 e reformulada em 1905, o pragmatismo é um método filosófico cuja máxima sustenta que o significado de um conceito (uma palavra, uma frase, um texto ou um discurso) consiste nas consequências práticas concebíveis de sua aplicação” (SALATIEL, http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/pragmatismo-1-uma-filosofia-para-a-vida.htm). Destas palavras, poderíamos dizer que haveria uma certa influência utilitarista sobre o pragmatismo, mas esse seria um tema para outro texto.
O fato é que em Protágoras o homem surge, sim, como uma forma de “metron”, ou “medida” que estabelece o certo e o errado. Mas, perguntamos agora, e quando às demais questões da vida? Segundo Reale (1993, p. 206) “se o homem (cada homem como ser ciente e perceptivo) é medida do verdadeiro e do falso, não é, ao contrário, medida do útil ou do prejudicial. (…) enquanto o homem é medida com relação à verdade e à falsidade, é medido com relação à utilidade: parece, pois, que ao útil deve-se reconhecer uma validade objetiva (embora não absoluta). O bem e o mal são, respectivamente, o útil e o prejudicial; o melhor e o pior são o mais útil e o mais prejudicial”.
Desta citação parece-nos que temos uma confirmação da relação entre sua gnosiologia, seu pragmatismo e seu utilitarismo. No entanto, parece que a relação entre seu relativismo gnosiológico e seu pragmatismo utilitarista dependeria de uma série de correlações específicas. Uma demonstração dessa correlações pode ser encontrada no Teeteto, onde Platão entabula um diálogo entre Sócrates e Protágoras acerca das “coisas boas”, no qual Protágoras assim se expressa: “Eu conheço muitas coisas que são nocivas aos homens: alimentos, bebidas, remédios e muitíssimas outras que também são úteis; outras, ao invés, não são nem úteis nem prejudiciais aos homens, mas o são aos cavalos, e outras que o são só aos bois ou aos cães; outras, enfim, que não são úteis a nenhum animal, mas o são às plantas. (…) O bom é algo tão variado e multiforme que, mesmo no caso citado [sobre o óleo], enquanto é boa para o homem, para as partes externas do seu corpo, a mesma coisa é danosíssima para as internas” (PLATÃO, In REALE, 1993, p. 206, 207).
Ao que parece, portanto, o conceito de bom ou de útil está relacionado a uma série de circunstâncias individuais e específicas que não nos permite dizer que o que é bom ou útil para uma pessoa possa ser bom ou útil para outra pessoa, para um animal ou para uma planta. Mesmo o que é bom e útil para uma pessoa, pode ser apenas bom e útil para a pele do homem e não para seus intestinos.
Saindo da esfera do indivíduo e caminhando na direção da sociedade ou da cidade (polis) o homem sábio ou retórico será, dessa forma, aquele que conhecer “o bem e o útil à cidade e faz com que este pareça como justo à cidade (o justo não é, portanto, o verdadeiro, mas o útil público), e educa consequentemente aos cidadãos” (REALE, 1993, p. 207). Ora, parece-nos claro que não apenas Protágoras eleva o sábio à condição de supremacia, como também que foram suas as teses que influenciaram Platão sobre a necessidade de uma República governada por filósofos.
Mas este sábio, que governaria a cidade, teria sua sapiência formada à parte da verdade ontológica. Muito ao revés, na base de sua sapiência não se encontra a ontologia, mas o empirismo, ou, para falarmos de uma forma mais moderna, a fenomenologia. Desta forma, assim como quem determina que o que é útil à planta é o agricultor e o que é o útil para o homem é o médico, em relação a cidade quem determina o que é útil é o sofista, embora não saiba “dizer em relação a que o sofista pode proceder a esta determinação” (REALE, 1993, p. 208).
Decerto que uma comunidade de cidadãos sapientes seria muito mais próspera e desejável do que uma em que apenas uma pequena classe de pessoas sábias decidisse o que seria útil e bom. Portanto, encerro dizendo que se a base da verdade está no aspecto empírico e não no ontológico, a verdade de uma comunidade pode ser diferente da verdade de uma outra. O mesmo pode ser dito às sociedade em um mundo cada vez mais plural.
Referências bibliográficas:
ARISTÓTELES, Arte retórica e arte poética. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1959
MONDIN, Battista. Curso de filosofia. Vol 1. São Paulo: Edições Paulinas, 1985
REALE, Giovanni & ANTISERI, Dario. História da filosofia. Vol 1. São Paulo: Edições Paulinas, 1990.
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. Vol 1. São Paulo: Loyola, 1993
ROHMANN, Chris. O livro das idéias. Rio de Janeiro: Campus, 2000
VÁRIOS. O livro da filosofia. São Paulo: Globo, 2011
SALATIEL, José Renato. Pragmatismo: Uma filosofia par a vida. http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/pragmatismo-1-uma-filosofia-para-a-vida.htm. Acessado em 09/07/2016.
A FENOMENOLOGIA E A VERDADE
Quando se fala em “fenomenologia” a impressão que temos é que estamos tratando, conforme os manuais, àquela forma de pensamento que foi primeiramente esboçada por Edmund Husserl (1859-1938). Jacqueline Russ, por exemplo, ao definir “fenomenologia” nos diz: que ela é o “Estudo dos fenômenos ou de um conjunto de fenômenos; Husserl desenvolveu plenamente essa disciplina, como ciência rigorosa, operando uma volta às próprias coisas” (RUSS, 1994, p. 111). O próprio Husserl, citado por Russ (1994, p. 11) afirma que a fenomenologia pura é uma ciência dos fenômenos, mas que deve “estabelecer-se como uma ciência da essência, uma ciência a priori ou, como o diremos também, uma ciência eidética”. É preciso lembrar que a palavra eidético vem do grego, eidetikos, e diz respeito ao conhecimento do eidos, ou seja, da forma de algo em seu espirito, ideia ou essência. Os fenomenólogos preocupam-se em conhecer a essência das coisas.
Ao enfrentarmos o tema mais a miúde, veremos que antes de Husserl outros pensadores já refletiam sobre o tema. Dentre eles podemos citar Lambert, que em sua obra Neues Organon (1764) nos apresentou este termo para fazer a distinção entre verdade e aparência. Também Kant usa o termo para distinguir o mundo sensível do mundo inteligível, afirmando que somente temos acesso ao mundo sensível e que jamais conseguiremos acessar o mundo inteligível. Mais tarde, Hegel escreveria sua Fenomenologia do Espírito dizendo ser ela a “ciência que mostra a sucessão das diferentes formas ou fenômenos da consciência até chegar ao saber absoluto. A fenomenologia do Espírito representa, segundo ele, a introdução ao sistema total da ciência: a fenomenologia apresenta o ‘devir da ciência em geral ou do saber’” (MORA, 1998, p. 289).
Portanto, conforme se pode perceber, antes mesmo de Husserl o tema da fenomenologia já era discutido. E continuará sendo e obtendo novas leituras, por exemplo, nas obras de Heidegger, Scheler, Hartmann, Marcel, Sartre, Merleau-Ponty e Paul Ricoeur. Diante de tantas contribuições, é comum, hoje em dia, acrescentar um adjetivo à palavra “fenomenologia”, dizendo que ela pode ser uma fenomenologia transcendental (associada à autores como Husserl e seus seguidores); fenomenologia existencial (mais associado à autores como Sartre e Merleau-Ponty) e, finalmente, uma fenomenologia hermenêutica (Heidegger, Gadamer e Ricoeur). Estou convencido de que esta terceira forma de leitura da fenomenologia nos será mais útil, no momento.
Quando partimos para estudar o momento hermenêutico da fenomenologia, descobrimos três verdades – por exemplo em Heidegger – sobre as quais não podemos fugir. Elas nos são expostas por Giles (1993, p. 61) da seguinte forma: “1. Fazer ver, a partir de si mesmo, aquilo que se manifesta, tal como se manifesta efetivamente. 2. Para tanto, exige a volta para às próprias coisas. 3. É seguindo esse caminho que se encontram as possibilidades do caminho para o Ser, pois o Ser é aquilo que se oculta naquilo que se manifesta, mas constitui o fundamento de tudo o que se manifesta”.
A questão da fenomenologia dentro da obra de Heidegger pode ser vista claramente em seu principal texto: Ser e Tempo, no qual a questão do ser e o projeto de uma ontologia é expressa. Vejamos o que nos diz von Zuben sobre o assunto: “A intenção que preside, como um fio condutor, a todo o desenvolvimento da obra de Heidegger, e lhe confere uma perspectiva unificadora, se expressa na necessidade de reexaminar –repetir – a questão do sentido do ser em geral ou, mais precisamente, a questão da unidade do sentido do ser na multiplicidade de suas acepções. Se tal tarefa se impõe como função primordial da ontologia, é porque a questão do ser foi esquecida. ‘A questão do ser caiu, hoje, no esquecimento, embora nossa época considere como um progresso aceitar novamente a ‘metafísica’’ (HEIDEGGER, 1960, p.2). Esse tema do esquecimento do ser, que abre Ser e Tempo, já anuncia o binômio velamento-desvelamento como constituindo o ritmo interno do fenômeno ontológico, as duas possibilidades radicais da manifestação do ser. Com efeito, se o sentido do ser veio historicamente a ser esquecido – velado – é porque este, de si mesmo, comporta essa possibilidade. De outra parte, a referência à história da metafísica como história da ocultação do sentido do ser já antecipa o tema do tempo como horizonte onde o ser alternadamente se revela ou se dissimula” (In http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732011000200006).
Como sabemos Heidegger inicia seu Ser e Tempo a partir de uma crítica radical à tradição filosófica originada em Platão e que serviria de base para toda a metafísica ocidental – responsável pelo “esquecimento do ser” – e a tentativa de dar um novo sentido à filosofia por meio da retomada da ontologia como sendo algo mais fundamental e originário. Conforme exposto no texto de von Zuben, a questão do velamento/desvelamento do ser é, antes de mais nada, uma questão fenomenológica pois trata da possibilidade mesma de se ter acesso ao ser, cuja questão foi esquecida e substituída pela metafísica, que o ocultou seu sentido.
Ora, conforme sabemos, a crítica que Heidegger faz à tradição filosófica ocidental se funda no fato de ser ela, basicamente, essencialista, ou seja, uma tentativa de se chegar às realidades verdadeiras. O essencialismo confunde a ideia de ser e ente, o que acaba por dividir – como em Aristóteles – o ser entre substância e acidente. Essa inclinação para se classificar e categorizar o ser acaba por objetificá-lo. É justamente contra essa tendência majoritária na filosofia Ocidental que Heidegger se insurge, para superá-la. E isso só ocorrerá por meio da recuperação da ontologia.
Para superar esta tendência objetivante do ser que Heidegger procura trazer o ser à luz, estudando seu sentido enquanto uma manifestação e desvelamento. É preciso, então, uma análise ontológica e hermenêutica – ou seja, interpretativa – que seja capaz de chegar a uma compreensão (vestehen) do sentido, que revele “o ente que somos”, ou seja, o Dasein, ou o ser-aí. O único ente que busca o ser, segundo Heidegger, é o homem. Para tanto ele precisa, para poder efetivamente chegar ao Ser, empreender o que designa de “analítica do Dasein”, o único ente capaz de acessar o seu ser.
O termo Dasein surge no pensamento heideggeriano para substituir termos como “sujeito” ou o “eu”, em função do sentido de ser que é atribuído a esses termos na filosofia da consciência e na subjetividade moderna, tão própria das ideias de Husserl.
Desta forma compreendemos que a fenomenologia se apresentou para Heidegger como um meio para se alcançar o Ser por meio de uma analítica do Dasein. É nesse sentido que se afirma que, em Heidegger, a fenomenologia é ontológico-hermenêutica, já que por sua analítica podemos atingir uma compreensão dos aspectos mais essenciais do Dasein. Ademais, sua analítica do Dasein, foi utilizada por Heidegger para revelar fenomenologicamente, ou seja, como se manifesta, a retomada do ser-aí.
Como percebemos, o homem é o único ente do qual se pode extrair o sentido do ser o do qual a abertura do ser tem início. A primazia para este estudo é do homem, porque ele não qualquer ente. Ele é um ente que tem uma relação privilegiada com o ser. Nas palavras de Heidegger: “Este ente se caracteriza pelo fato de que, através do seu ser, o próprio ser lhe está aberto. A compreensão do ser é, ao mesmo tempo, uma determinação do ser do homem” (HEIDEGGER, In MONDIN, 1983, p. 188).
O homem é, desta forma, a porta de acesso ao ser, afirma Heidegger. Mas para se chegar a contemplar completamente o ser por meio do homem é preciso que nosso conhecimento esteja livre de todo engano ou erro. Para nos assegurarmos disso, explica Battista Mondin (1983, p. 188) precisamos questionar tudo o que acerca do homem já foi dito pelas ciências e aplicar a epoché – o isolamento de tudo o que não lhe é próprio para se atingir sua pureza – a todas essas informações. Desta forma, Heidegger está utilizando a fenomenologia husserliana, ou seja, ele quer partir do homem de fato, deixando que ele se revele, se mostre, tal qual é, e procura compreender sua manifestação.
E é por intermédio desse instrumento que Heidegger descobre que o homem é o ser-no-mundo, ou seja, afetado pelo “círculo de interesses, de preocupações, de desejos, de afetos, de conhecimentos, nos quais o homem se acha sempre imerso. Por este seu achar-se sempre colocado numa situação, Heidegger chama o homem de Dasein, ‘ser-em-situação’” (MONDIN, 1983, p. 188) ou ser-aí.
O ser-aí é sempre um ser-no-mundo, portanto que interpreta o mundo como fazendo parte dele. Sendo o ser, aquilo que se oculta naquilo que se manifesta, entendemos que essa verdade heideggeriana nos leva a uma hermenêutica circular já que ao olharmos para o mundo, olhamos para um quando do qual fazemos parte. Não existe, portanto, plena objetividade na aproximação hermenêutica e sim o império do ser na interpretação. Restam as palavras de Nietzsche: “não existem verdades, somente interpretações”.
Referências bibliográficas:
GILES, Thomas Ransom. Dicionário de filosofia. São Paulo: EPU, 1993
MONDIN, Battista. Curso de Filosofia. São Paulo: Paulus, 1983
MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998
RUSS, Jacqueline. Dicionário de filosofia. São Paulo: Scipione, 1994
VON ZUBEN, Newton Aquiles. A fenomenologia como retorno à ontologia em Martin Heidegger. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732011000200006. Acessado em 10 de julho de 2016.
O HOMEM EM HEIDEGGER
“Em minha busca de resposta para a pergunta da vida, senti-me exatamente como um homem perdido em uma floresta”. (Leon Tolstoi)
Sempre tive muita dificuldade em compreender a totalidade do pensamento heideggeriano. Desde o meu mestrado – no qual paguei duas disciplinas acerca de seu mais famoso livro, Ser e Tempo – venho guardando material para estudar acerca do que este ilustre filósofo alemão ensinou em sua vasta obra. Hoje, depois de tanto tempo passado, posso perceber que, diante da envergadura de seu trabalho, tal pretensão seria impossível. No entanto, gostaria, ao menos, de me acercar de um tema que, ainda considero um grande desafio para aqueles que se aproximam do filósofo de Meskirch, sua concepção de homem.
- Sua vida e influências. Iniciaremos nossa reflexão falando um pouco sobre o contexto da vida deste ilustre filósofo, uma vez que, quer queiramos ou não, o sitz in leben (contexto vital) inevitavelmente, influencia nosso pensamento e nossas perspectivas e leituras da realidade. Se esse pensamento for verdadeiro – e estou convencido que é – iniciaremos falando sobre seu contexto histórico, para depois, falar sobre o contexto filosófico.
Martin Heidegger nasceu na pequena cidade de Meskirch, no sul da Alemanha, aos 26 de setembro de 1889. Seus primeiros estudos foram com os jesuítas, responsáveis pela vasta cultura clássica vista em seu pensamento. Depois de seus estudos ginasiais em Konstanz e Freiburg-im-Breisgau, onde obteve uma sólida formação humanística, ele se dirige à Faculdade de Teologia na Universidade de Freiburg. Por razões de saúde sua vocação sacerdotal é sufocada e ele se volta para a filosofia, e, em 1915 é nomeado Livre-Docente em Freiburg e, no ano seguinte, publica sua tese de habilitação intitulada A Teoria das Categorias e das Significações em Duns Scoto. Entre os anos 1917 e 1919 Heidegger está servido na frente de combate durante a Primeira Guerra Mundial, experiência que o influenciará definitivamente. Em 1919 ele está ao lado de Husserl, como seu assistente, ministrando aulas semanais sobre temas relacionados à fenomenologia, tendo como texto base, a obra Investigações Lógicas de Husserl. Em 1923 ele é nomeado Catedrático na Universidade de Marburgo, onde desenvolve uma grande produção. Em 1933 ele é nomeado, com a quase unanimidade dos votos, reitor da Universidade de Freiburg, onde fica até sua renúncia em 1935. Enquanto esteve lá, “mostrou-se um administrador ativo e até obsessivo. Entrou no Partido Nacional-Socialista. Tentou, além disso, envolver a universidade no movimento nacional-socialista, ou melhor, controlar esse movimento a partir dela. (…) Heidegger propõe no seu ‘Discurso de posse’, de maio de 1933, a restauração pelo povo alemão, do poder de irrupção original da filosofia grega” (LOPARIC, 2004, p. 24). Obviamente sua renúncia foi inevitável. Mesmo fora da reitoria, ele permanece ensinando na Universidade até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois do término do conflito, ele é licenciado da Universidade e só mais tarde volta a dar aulas. Manter-se-á em silencio até sua morte, em 26 de maio de 1976, em razão das acusações de ter se relacionado com o nazismo, que pesaram sobre ele. Da importância de que sua experiência de vida influenciou grandemente sua obra, particularmente o Ser e Tempo, vejamos o que nos diz Thomas Ransom Giles (1989, p. 83): “O pensamento de Heidegger surgiu em meio a uma geração conturbada, sacudida em seus valores tradicionais e no orgulho de sua civilização, mutilada pelo espanto da Primeira Guerra Mundial”.
No que diz respeito ao seu contexto filosófico, é importante ressaltar que para compreendermos seu pensamento precisamos compreender como ele elaborou seu pensamento e quais caminhos sua mente trilhou até chegar à sua maturidade intelectual.
Para fazermos isso, podemos afirmar que existiram algumas influências bem claras que delinearam seu pensamento. A primeira dessa influências vem de seu estudo sobre Duns Scotus (1266-1308), para a confecção de sua tese de habilitação. Segundo Safranski, Scotus ensinava “que não apreendemos a verdadeira natureza de Deus com nossa razão, e como o mundo é criação de Deus e por isso participa da impenetrabilidade racional de Deus, também as coisas ao nosso redor, por mais acertadamente que às vezes as possamos compreender, mantém o seu enigma”. (SAFRANSKI, 2000, p. 90).
Com esta perícope Scotus queria dizer que, a partir de seu nominalismo, era possível demonstrar que a verdadeira fé supera o conhecimento, mas não o substitui. No estudo de Scotus, Heidegger com certeza se lembrou dos textos de Bretano, que havia ganho de seu mestre Conrad Gröbel em 1907. Em Bretano, que seria mais tarde professor de Husserl, já é possível encontrar um certo nominalismo. Bretano, diz Safranski (2000, p. 52), nos previne a não se atribuir falsamente uma substância aos objetos conceituais. A substância, segundo o pensamento do professor de Husserl, não está nos conceitos gerais, mas nos objetos concretos isolados.
A segunda grande influência que Heidegger recebeu foi do filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard. Dele Heidegger herdou a noção de momento, que, para Kierkegaard, falava do instante em que Deus irrompe sobre a vida de alguém e este alguém sente que precisa tomar uma decisão, a ousar ou a atrever-se no salto na fé. Aquele que ama o seu momento não se preocupar muito com sua segurança, mas vive os perigos com coração aventureiro.
Uma terceira influência que marcaria seu pensamento também seria oriundo de Kierkegaard, qual seja, sua visão anti-metafísica. Assim como o pensador dinamarquês, Heidegger entendia que a noção totalizadora da história proposta por Hegel, ou invés de produzir descanso e confiança às pessoas, às leva a uma condição de angustia, vez que transforma seres humanos em meros observadores da história e de suas leis inexoráveis. Uma vida assim seria, pois, um absurdo. Para Kierkegaar, neste mundo absurdo, somente o compromisso sincero com a vida pode atribuir sentido à própria vida. Daí a necessidade de se reconhecer seu momento e viver autenticamente sua vida.
A quarta influência presente no pensamento de Heidegger pode ser vista na figura de Wilhelm Dilthey. Com ele, nosso pensador aprendeu que todas as verdades têm sua história e que, portanto, estabelece o critério de que o sentido e a importância só surgem no homem e na sua história. Ademais, note-se que este pensamento de Dilthey também corrobora sua crítica à metafísica na proporção em que “a idéia radical da historicidade destrói qualquer exigência universalista de validez” (sic) (SAFRANSKI, 2000, p.185).
A quinta influência que plasmou o pensamento heideggeriano vem de seu mestre Edmund Husserl, segundo quem existe uma interação entre a nossa consciência e as coisas ou com o mundo vivido. Desta forma, somente no momento em que reconhecermos que somos um ser-em (In-Sein), reconheceremos que nem experimentamos primeiro a nós mesmo e depois o mundo, nem, por outro lado, primeiro o mundo e depois a nós mesmos. Muito ao revés, as duas experiências se dão simultaneamente em uma ligação indissolúvel. Este pensamento corresponde ao conceito husserliano de intencionalidade.
A sexta e última influência que podemos vislumbrar em Heidegger é sua reação ao neo-kantismo de Emil Lask. Desde os escritos de Dilthey que a comunidade científica procurava definir e catalogar as ciências. E, de fato, Dilthey vai classifica-las em “Naturwissenschaften” ou “Ciências da natureza” e “Geisteswissenschaften” como “Ciências do espírito”, uma referências às Ciências Humanas. Cada ciência, então, passaria a ter o seu objeto ou seu ente para ser estudado. E o homem passou a ser o objeto, ou o ente, de inúmeras ciências. Dessa forma, o homem seria objetivado e estudado pela medicina, história, sociologia, biologia, etc. Mas, em sua genialidade, Heidegger compreende que a filosofia, ao invés de ser mais uma ciência a estudar o homem, deveria voltar-se não para o ente, mas para o “ser do ente”. A partir da fenomenologia, Heidegger se indaga sobre que postura deve escolher para que a vida humana se mostre em toda a sua singularidade. Como resposta ele entende que é preciso criticar a objetivação. Para ele a vida humana nos escapa pelas mãos quando pretendemos compreende-la a partir de uma postura teórica e objetivadora, como acontece com Hegel e Conte. Objetivar, portanto, é fazer desaparecer o reino das relações entre mundo e vida, é desvivenciar a vivência e desmundar o mundo.
- Sua contraposição com a filosofia posta. O pensamento heideggeriano representa uma ruptura com a forma de se fazer filosofia, de Platão até ele. Sua proposta, na realidade, era justamente a “recolocação dos problemas fundamentais da Filosofia em função do problema axial do caminhar reflexivo que é a questão sobre o Ser, tema que coincide, conforme Heidegger, com o destino do próprio Ocidente, pois tal como Heidegger a considera, a História do Ser é a história autêntica do Ocidente; a questão mais fundamental de todas será, pois, a questão sobre o Ser, e na medida em que o Ocidente configura o mundo, essa questão atingirá dimensões planetárias” (GILES, 1989, p. 83).
Conforme veremos mais adiante, toda a obra de Heidegger é uma crítica ao que conhecemos por “metafísica clássica”, que de uma forma mais expressiva, compreende a história da filosofia que vai de Aristóteles até Hegel. Segundo Heidegger, Parmênides foi quem primeiro procurou descobrir o ser. No entanto, esta tentativa será encerrada na obra de Platão, aquele que o ocultou ao tentar encontrar o sentido do ser nos entes. Desde então, até Heidegger, todos os filósofos laboraram em erro por não compreender o ser, identificando-o com a objetividade. Por isso ele registra em Ser e Tempo que o erro de Descartes foi “não ter visto que o absoluto se define pelo primado da existência sobre a essência” (HEIDEGGER, In COLETTE, 2009, p. 55).
Quem apresenta de uma forma bem clara e didática a postura heideggeriana em criticar esse esquecimento do ser é o conhecido professor espanhol Eudaldo Forment (Barcelona, 1946) que escreveu: “Em seu nascimento, a Metafísica, segundo Heidegger, concentrou-se no ente e se esqueceu do ser. Com Platão e Aristóteles, pais da Metafísica ocidental, ‘o ser como elemento do pensar é abandonado’, enquanto no pensamento pré-metafísico dos pré-socráticos ‘busca-se o ente como ele é. A filosofia encontra-se no caminho para o ser do ente, isto é, para o ente com respeito ao ser’. A partir de então, estima-se que ‘em nenhuma parte encontramos a experiência do próprio ser. Em nenhuma parte nos encontramos com um pensar que pense a verdade do próprio ser (…) A história do ser começa (…) com o esquecimento do ser’. Explica-se assim a identificação do ser com o ente. ‘O esquecimento do ser, no qual está imersa a metafísica, é o esquecimento da diferença do ser frente ao ente. A história do ser, a metafísica, é o esquecimento do ser diante do ente’. A crítica heideggeriana parece válida, pois o esquecimento do ser tem sido o responsável pela redução do ente à ordem essencial, cujo ponto culminante se dá na modernidade, que se consuma em Nietzsche” (FORMENT Apud VILLA, 2000, p. 684).
- Sua antropologia. A forma como os filósofos tentaram se acercar do problema da definição do que seria um ser humano é bastante variada. Todos lembramos da forma como os seguidores de Platão, diante desta questão, chegaram à conclusão de que o homem era “um bípede implume”. Todos ficaram satisfeitos com essa resposta até que Diógenes, o cínico, entrou na sala segurando uma galinha viva e sem penas gritando: “Vejam! Eis um ser humano!”. Este fato nos mostra como nem sempre é simples fazer uma definição geral e abstrata sobre o que vem a ser o homem.
A grande questão que interessava a Heidegger era justamente essa: “como podemos analisar o que é ser humano?”. Sua tentativa de apresentar uma resposta foi completamente dispare das anteriores. Ao invés de uma definição abstrata, a partir do exterior, “ele arriscou uma análise muito mais concreta do ‘ser’ a partir do que poderíamos chamar de perspectiva interna. Ele afirmou que, já que existimos entre as coisas – em meio à vida -, se quisermos entender o que é ser humano, temos de fazer isso examinando a vida humana a partir do interior dessa vida” (VARIOS, 2011, p. 253). Para a fenomenologia a grande questão não é “o que é um ser humano?”, mas “como é ser humano?”. Esta era a grande questão da filosofia para Heidegger, e ela a estudará a partir do ramo filosófico conhecido como ontologia (do grego “tó on”, ou “o ser”), que é o exame das questões sobre o ser e sobre a existência.
Segundo afirma Da Silva (ibid., sd, p. 50) “sua visão antropológica, desvela a essência do homem e seu significado existencial”. Podemos afirmar que, para Heidegger, “a essência do homem depende de sua relação com o ser, não de algum tipo de racionalidade”. Não que ele não seja racional. Mas não é sua racionalidade que o define em sua essência. De fato, na visão heideggeriana, “a essência do homem reside na sua ek-sistência e a ek-sistência é a clareira do ser” DA SILVA, sd, p. 50). Do que foi dito aprendemos a primeira grande lição de Heidegger, a essência do homem está em sua relação com o ser. Ou, dizendo de outra forma, para este filósofo, “o homem não pode ser compreendido apenas do ponto de vista da racionalidade. O homem é ser-aí, isto é, Dasein e a sua essência é a própria existência, marcada pelo conjunto de possibilidades de vir a ser” (Ibid., sd, p. 51).
Os filósofos e teólogos, quando estudam as questões relativas à antropologia, geralmente assumem a posição tricotomista. Desta forma, comumente se compreende o homem como constituído por três elementos: o corpo (Leib), a alma (Seele – ou seja, aquele princípio que anima ou nos dá vida e que é responsável, também, pelas nossas inclinações mais primitivas como os apetites e as emoções), e o espírito (Geinst – nossa razão e nossa capacidade de dizer “eu”).
Heidegger, no entanto, rejeita essa visão de homem como um ser dotado de uma natureza intrínseca, porque entende que ela pretende reunificar o homem que seria, portanto, um ente destituído de uma relação com o ser.
O que encontramos em Heidegger é uma forte crítica à metafísica clássica (que vai de Aristóteles à Hegel) afirmando que fôra Parmênides o responsável por descobrir o ser e que, por outro lado, fôra Platão o responsável por ocultá-lo ao buscar o sentido do ser nos entes. Desde então, até Heidegger, todos os filósofos laboraram em erro por não compreender o ser, identificando-o com a objetividade.
Como sabemos, em Heidegger encontramos uma profunda refundação da ontologia, ou uma busca pelo sentido e a recolocação do problema do ser. Por isso ele pergunta: “porque antes o ser e não antes o nada?”. Esta é a pergunta pelo ente que corporificaria exemplificarmente o ser, e este ente é o homem por ser o único ente que tem consciência do ser, sendo comparado por ele como o “pastor do ser”, ou seja, aquele que está apto para guardar e escutar o ser.
Portanto, para este ilustre filósofo, o homem é designado de Dasein, ou Ser-aí, “o único que existe” individualmente e finitamente, que está aí e cujo modo de ser (essência) é a existência, ou seja, “o conjunto de possibilidades de vir a ser”. As demais coisas apenas são, mas não existem. Somente o homem existe. Sendo a existência a capacidade de projetar-se instrumentalizando as coisas, jamais vendo-as como objetos de contemplação. Isto significa que o ser das coisas está em ser utilizadas pelo homem. Em outras palavras, o homem compreende as coisas quando consegue descobrir para que servem ou qual sua utilização. Da mesma forma, compreende a si mesmo na proporção que é capaz de descobrir o que pode ser. Desde já podemos perceber que há um forte distanciamento entre as coisas e o homem. Por isso não podemos tratar homens como coisas, ou seja, instrumentalizá-los como se meros objetos fossem. Eis a segunda grande lição que aprendemos com Heidegger.
A terceira grande lição que aprendemos com o ilustre professor de Marburgo que o homem é um ser em eterno devir ou “vir-a-ser”. Dos Santos (ibid., sd. p. 51) nos diz que “O Dasein ou a existência significam que nós não apenas somos, mas percebemos que somos, mas nunca estamos acabados, como algo presente. Não podemos rodear a nós mesmos, mas em todos os pontos, estamos abertos para um futuro e temos de conduzir a nossa vida”. Em outras palavras, ele está nos dizendo que estamos condenados a sermos aquilo que nos tornamos.
A filosofia tem, para ele, como questão fundamental, não o homem, ou seja, um ente, mas o ser. De fato se ele colocasse o homem no centro de seu estudo ele estaria fazendo uma antropologia. Mas assim como todas as ciências possuem seu objeto, a filosofia também possui o seu: o Ser-Do-Ente, ou seja, o Dasein. E mesmo assim, seu interesse nem seria por sua existência e sim pela questão do ser em seu conjunto e enquanto tal. Desta forma, afirma Dos Santos (ibid., sd, p. 51) “o principal objetivo da obra Ser e Tempo é investigar o sentido do ser”, a para tanto começa investigando o ser que nós próprios somos. Note que ele substitui a pergunta clássica dos filósofos – o que é o ser? por outra mais significativa – qual o sentido do ser?
Segundo nosso pensador, para determinar rigorosamente, o ser-do-ente ou Dasein, em geral, temos que partir do estudo do homem, em particular. E é assim porque, de todos os demais entes, somente ao homem é colocado à questão da existência. Por isso, Heidegger designa o modo-de-ser do homem, ou seja, sua existência, com a palavra Dasein, que significa “ser-aí”, ou “estar-aí”.
Um dos pensadores que expõe de forma simples, no entanto precisa, o pensamento heideggeriano é filósofo francês Emmanuel Levinas (1906-1995), professor em Estrasburgo. Para ele, “Los hombres comprenden ya, antes de toda ontología explícita, el verbo ser. Lo comprenden de manera preontológica y, por tanto, sin entenderlo plenamente sino, por el contrario, con una subsistencia de preguntas. Es dicir, en la comprensión preontológica del ser está la cuestión del ser, que es uma pregunta con respuesta previa. Por ello hay que acercarse al sentido del ser a partir del hombre, que es un ente que comprende el ser y que se pregunta y se interroga por él. (…) Esta interrogación no es una particularidad psicológica sino que, al contrario, sería essencial al hombre (…). Dicha pregunta sería essencial en la medida en que es precisamente la manera de ser del hombre. El atributo essencial del honbre consiste en ser de una manera determinada” (LEVINAS, 1993, p. 35, 26).
Do que vimos acima entendemos que, em Heidegger, a filosofia é uma interrogação constante sobre a estrutura que compreende aquele que empreende a própria interrogação, ou seja, a questão do Ser. Portanto, em linhas gerais, afirma Dos Santos (sd, p. 52) Heidegger buscará a compreensão do homem “enquanto Ser-aí, revelado por meio das relações com o ser”.
- Sua relação com a fenomenologia
Heidegger teve uma relação muito íntima com Edmund Husserl (1859-1938), filósofo alemão que rompe com o positivismo e cria a escola fenomenológica. Quando falamos em fenomenologia, nos referimos a uma epistemologia ou uma “arte de desvelar aquilo que, no comportamento quotidiano, ocultamos de nós mesmos” (DOS SANTOS, sd, p. 52). Também poderíamos dizer que essa abordagem filosófica “investiga os fenômenos (como as coisas aparecem) pelo exame de nossa experiência em relação a eles” (VÁRIOS, 2011, p. 253)
Mas Heidegger não recepciona a fenomenologia sem fazer algumas adaptações para analisar as temáticas existenciais. Conforme Dos Santos (sd, p. 52) “Ele percebeu, no método fenomenológico, a possibilidade de uma descrição dos mais variados aspectos da existência em sua total nudez, livre dos entraves das tradições filosóficas e religiosas ou dos constructos científicos”. Assim por meio da fenomenologia, Heidegger se viu apto para refletir sobre a questão fundamental da filosofia, qual seja, a problemática do Ser.
Colette (2009, p. 33, 34), citando uma carta de Heidegger à Huserl datada de 22 de outubro de 1927, nos dirá que: “É afastando-se da perspectiva última de uma retomada teórica total do sentido pelo pensamento que Heidegger se separa de Husserl. A ‘maravilha’ (ele retoma o termo) não deve se buscar no ego puro, mas na constituição mesma da existência (Existenzverfassung). Para fazer aparecer o sentido de ser de tudo o que se dá, é necessário o retorno à existência do homem concreto, à totalidade concreta desse ente que não é da ordem do dado sempre objetivamente oferecido”. Esta colocação nos revela claramente que entre Heidegger e Husserl existe uma continuidade e uma ruptura claras. Por isso o próprio Heidegger vai dizer que “A filosofia é ontologia fenomenológica universal que parte da hermenêutica do ser-aí; enquanto analítica da existência, esta fixou o termo do fio condutor de todo questionamento filosófico, termo de onde esse questionamento surge e ao qual retorna” (HEIDEGGER, In COLETTE, 2009, p. 34). Por isso o próprio Colette afirma: “Não se poderia dizer melhor que a filosofia é fundamentalmente ontologia, que seu método é fenomenológico, e que a existência é seu ponto de partida e seu horizonte” (COLETTE, 2009, p. 34).
Mas uma das maiores mudanças que Heidegger fará com a fenomenologia será sua dissociação com o idealismo das ideias. Nosso filosofo, ao invés de fundar seu estudo nas intenções transcendentais, resolve partir da vida real. Desta forma, diz Dos Santos, a função da fenomenologia passaria a ser “inserir-se nessa realidade que foge à total autotransparência, e nela manifestar aquilo que ali se oculta da reflexão, assim como a partir de si manifestar-se, isto é, ocultando-se para a radicalidade reflexiva. É só assim que podemos atingir o ser do ente, muito além das dissimulações da vida em seu acontecer concreto, assumindo o Ser como velamento e desvelamento reciprocamente entranhados”.
Deve-se notar, contudo, que Heidegger não assumirá a fenomenologia como Filosofia existente, mas apenas como possibilidade metodológica. Para ele, a fenomenologia não é apta para distinguir o “que” dos objetos, mas apenas, o “como”, com base na forma como entramos em contato com as coisas. Para ele a fenomenologia é um movimento que poderia ser qualificado como “hermenêutica da facticidade”. Este conceito, segundo Dos Santos (sd, p. 53, n.4) “indica a situação característica da existência humana que, lançada ao mundo, está submetida às injunções e necessidades do fato”.
O ser, por sua própria natureza ontológica, jamais se manifesta claramente, diretamente ou imediatamente, em si mesmo, “mas sempre como o ser deste ou daquele ente, como o ser de um homem, de um cão, de uma mesa etc.” (MONDIN, 1983, p. 187). Por isso, continua comentando Mondin, para que se possa determinar a natureza do ser é preciso partir do estudo do ser de algum ente em particular. Uma vez que sejamos capazes de voltar toda nossa atenção à esse ente e isolá-lo de tudo o que não pertence a ele, atingiremos o ser enquanto tal. Neste momento, pergunta Heidegger: “Mas nós chamamos ‘ente’ a muitas coisas e em sentidos diferentes. Ente é tudo aquilo de que falamos, tudo aquilo a que, de um ou de outro modo, nós nos referimos; é também o que nós somos e como o somos (…) Qual é o ente do qual poderemos extrair o sentido do ser? Qual é o ente do qual deve ter início a abertura do ser? O ponto de partida é indiferente ou existe um ente que pode reivindicar a primazia?” (HEIDEGGER, In MONDIN, 1983, p. 187, 188). Para nosso ilustre pensador alemão, esta primazia existe e somente pode ser dada ao homem. E deve ser assim porque o homem não é um ente qualquer, mas um ente que se relaciona com o ser de uma forma única. Ouçamos mais uma vez Heidegger falar em seu Ser e Tempo: “Este ente se caracteriza pelo fato de que, através do seu ser, o próprio ser lhe está aberto. A compreensão do ser é, ao mesmo tempo, uma determinação do ser do homem” (HEIDEGGER, In MONDIN, 1983, p. 188). Desta forma, para ele, a porta de entrada para o ser é o próprio homem. No entanto, para que se possa chegar a ver, através do homem, o próprio ser, precisamos fazer com que nosso conhecimento do homem esteja absolutamente livre de qualquer erro, ou seja, é preciso operar uma epochê, no sentido husserlliano e questionar tudo o que sabemos sobre o homem. Em outras palavras, Heidegger utiliza a fenomenologia como método, conforme já afirmamos.
- O homem como Ser-aí. Antes de adentrar na profundidade desse tema é importante lembrar que quando falamos em “ser” estamos nos referindo a um verbo – que portanto denota ação -, derivado do latim esse e do grego eimi, que se traduz “eu sou”, ou do particípio ente, que corresponde ao ens latino e ao tó ón, em grego. A proposta de Heidegger é recolocar a questão que foi abandonada pela filosofia, qual seja, a questão do sentido ser.
A relação entre o ser-aí e a existência é desenvolvida em uma passagem na qual Colette assim se expressa: “O que o termo existentia designa tradicionalmente se aplica a todo ente apreensível, subsistente e realizado, coisa ou objeto que, em Ser e Tempo, Heidegger nomeia com a ‘expressão interpretativa da Vorhandenheit’, que designa o simplesmente dado que está aí ao alcance da mão, disponível no interior do mundo constituído. Isso permite reservar o termo existência ao ser do ente que somos e que devemos ser no mundo, isto é, o Dasein” (COLETTE, 2009, p. 51). Por isso Heidegger é enfático ao afirmar que “a essência (Wesen) do Dasein reside em sua existência” (HEIDEGGER, In COLETTE, 2009, p. 52).
Para ele, quem coloca essa questão novamente em voga somos nós mesmos enquanto Dasein. E “quando o Dasein, ente que nós mesmos somos, tem a possibilidade de pôr essa questão”, afirma Benedito Nunes, “se estabelece uma relação circular entre quem questiona e o questionado, entre quem interroga, o ente que somos e o ser interrogado” (NUNES, 2002, p. 11).
Portanto, compreendemos que se o homem é sempre um ser-ai, ou seja um Da-sein, ele o é porque sempre se encontra em uma situação na qual ele se lança e com a qual ele se relaciona. Por isso, afirmam, Reale e Antisseri: “O ser-aí, isto é, o homem, não é somente aquele ente que propõe a pergunta sobre o sentido do ser, mas é também aquele ente que não se deixa reduzir à noção de ser aceita pela filosofia ocidental, que identifica o ser com a objetividade, ou seja, como diz Heidegger, com a simples presença” (REALE & ANTISSERI, 1991, p. 583).
De sua pesquisa sobre o homem Heidegger descobre três traços fundamentais que caracterizam seu ser e que ele chama de existenciais. O primeiro deles é descrito como ser-no-mundo. É imperativo compreender que quando ele fala em “mundo” não pretende se referir ao que chamamos de phisis ou natureza. “Mundo” para ele, é “o círculo de interesses, de preocupações, de desejos, de afetos, de conhecimentos, nos quais o homem se acha sempre imerso” (MONDIN, 1983, p. 188). E é por estar justamente nessa condição de imersão na concretude, na situação e na condição daquilo que nos caracteriza como homens que Heidegger chama esse homem de Dasein, ou seja, de Ser-aí. Eis o primeiro existencial que nos aprisiona e nos coloca em um círculo de interesses e afetos, marca fundamental de nossa humanidade. Colette nos lembra que “O Dasein existe em vista de si mesmo e para o que pode se realizar (projeto) no mundo onde ele está lançado, no seu ser-no-mundo e com outrem. (…) Ao compreender-se ele próprio como compreensão de ser inclusive em sua facticidade, o Dasein ‘é seu mundo’” (COLETTE, 2009, p. 64, 65). Dessa informação, aprendemos que o fato de sermos um ser-no-mundo (in der-Welt-sein) também significa que somos ser-com-os-outros (Mit-sein). Se não há um sujeito sem mundo, tampouco existe um eu sem o outro, islado. Por isso, lembra-nos Reale e Antisseri: “assim como oser-no-mundo do homem se expressa pelo cuidar das coisas, do mesmo modo o seu ser-com-os-outros se expressa pelo cuidar dos outros, coisa que constitui a estrutura basilar de toda possível relação entre os homens” (REALE & ANTISSERI, 1991, p. 585).
Um segundo existencial estaria ligado à sua liberdade. Apesar de ser-no-mundo, o homem não está absolutamente determinado e preso por sua situação. Muito ao revés, “ele está sempre aberto para tornar-se algo novo. A própria situação presente é determinada por aquilo que ele pretende fazer no futuro” (MONDIN, 1983, p. 188). Sartre vai pintar esse elemento com tintas mais fortes contrariando a psicanálise. Esta diz que o passado determina o meu presente. Heidegger e Sartre dizem que é o meu presente que determina o meu futuro. Este existencial faz com que o homem seja um ser fora de si e diante de si. Segundo Colette (2009, p. 35), “O que é exigido do homem concreto é ser-aí, não para fazer isso ou aquilo, mas para chegar à sua mais íntima liberdade”.
O terceiro existencial é a temporalidade. O homem está intrinsecamente e essencialmente ligado ao tempo. Esta ligação é extremamente forte porque, uma vez que a existência é a possibilidade de projetos, é dentro do tempo que eles se concretizam. E, considerando que dentre as possibilidades da temporalidade existem o passado, o presente e o futuro, sua determinação mais fundamental será o futuro, pois é nele se projeta para o em-vista-de-se-mesmo. Segundo Mondin (1983, p. 189) isto faz com que o homem, enquanto existente, “não repouse no ser, mas que, no seu verdadeiro ser, ele se encontre sempre além de si mesmo, nas suas possibilidades futuras. Nesse sentido o homem é futuro”. E é por estar preocupado com o futuro ou em ter cuidado com o futuro que, conforme Colette, se pode dizer que “Ontologicamente o sentido do cuidado é temporalidade” (COLETTE, 2009, p. 64). No entanto, para que essas possibilidades se atualizem, ele parte do fato, no qual está, e, pelo qual ainda é passado e, ao fazer uso das coisas que o cercam ele é presente. Desta forma concluímos que “A temporalidade tem a função de unir a essência com a existência” (ibid, p. 189). Ou, nas palavras de Heidegger, “A temporalidade torna possível a unidade da existência, ser de fato e ser decaído, e por isso, ela constitui originalmente a totalidade das estruturas do homem” (HEIDEGGER, In MONDIN, 1983, p. 189).
Do que vimos acima, concluímos que a estas três “estases” do homem (passado, presente e futuro) correspondem a três modos de conhecer, quais sejam: o sentir, o entender e o discorrer. Pelo sentir ele se comunica e se liga ao passado; pelo entender ele se comunica e se liga ao futuro e suas possibilidades, e pelo discorrer ele está em comunicação com o presente.
Segundo postula Mondin (1983, p. 189), “Entre os dois primeiros existenciais, ser-no-mundo e existência, há uma clara diferença: um prende o homem ao passado, o outro o projeta no futuro. A vida do homem será inautêntica ou autêntica conforme deixa-se ele guiar pelo primeiro ou pelo segundo”.
Para Heidegger assumir uma vida inautêntica ou banal significa deixar-se dominar pela situação, ou seja, pelo ser-no-mundo, e pelo cuidado com as coisas. Ao ver nossa vida “apenas em termos dos projetos nos quais estamos envolvidos, perdemos uma dimensão mais fundamental da existência e, desse modo, para Heidegger, vivemos de maneira não autêntica” (VÁRIOS, 2011, p. 255). O homem, em sua existência inautêntica, se serve das coisas, “projeta o seu uso mediante a ciência, estabelece relações sociais com os outros homens etc. Mas as relações com os outros se tornam anônimas pela bisbilhotice; o desejo de saber se torna vão pela curiosidade; a individualidade das situações se desvanece pelo equívoco. Na vida inautêntica quem dita a lei é a massa (das Man): o inautêntico sabe aquilo que a massa sabe, diverte-se como se diverte a massa, julga sobre literatura, arte, esporte, etc. como julga a massa. E se submete prazerosamente à lei da massa porque, observa Heidegger, ela o exime de responsabilidades, p. ex., da responsabilidade de tomar iniciativas e decisões: e tudo já está decidido na vida de cada dia” (MONDIN, 1983, p. 189). Em nossa relação cuidado para com o outro, quem vive uma vida inautêntica assume, apenas, a forma de coexistência em relação aos demais.
Por outro lado, quem vive uma vida autêntica, a assume como sua, sendo responsável por construí-la e forja-la à partir de seus próprios planos. Vive uma vida autêntica aquele que é capaz de ouvir os apelos do futuro, ou seja, das próprias possibilidades. E mais, em nossa relação cuidado para com o outro, quem vive uma vida autêntica assume, agora, a forma de coexistir em relação aos demais. E, considerando que entre as possibilidades humanas, a última delas é a morte, quem vive autenticamente quem leva a possibilidade da morte em consideração ou seja, considera a cessação de sua existência.
Para Heidegger, a morte faz parte da estrutura fundamental do homem e, por isso, é um existencial. Foi ele quem popularizou a ideia de que o homem é um ser-para-a-morte (Sein zum Tode). Para ele, eSta realidade “é algo mais do que acontecimento ôntico-pontual, acantonado no limiar da vida. É possibilidade perpetuamente presente, ‘modo de ser, que o homem assume tão logo é’” (DE LA PEÑA, Apud VILLA, 2000, p. 498). É justamente “Quando nos tornamos cientes da morte como limite final de nossas possibilidades, começamos a alcançar uma compreensão mais profunda do que significa existir”. Daí percebemos que há uma forte ligação da ciência da realidade da morte e a vida autêntica. A morte, para ele, deve ser vista como uma realidade e uma presença constante e jamais como, apenas, uma possibilidade distante. O ser está sempre sob esta realidade. Para o pensador de Messkich, “A possibilidade mais própria, não relativa e não superável do homem é a morte: ela não sobrevém ao homem no decurso da sua vida, porque o homem, apenas começa a existir, já está atirado nesta possibilidade” (HEIDEGGER, In MONDIN, 1983, p. 189, 190). É, portanto, por meio da morte que o homem, finalmente, conquista a totalidade da sua vida. Enquanto ela não vier faltará a ele algo que ainda pode ser, e que será. A morte é a possibilidade extrema que simultaneamente limita e determina a totalidade do seu ser. Ou, conforme ensinam Reale e Antisseri: “A morte é a possibilidade mais própria, já que diz respeito à essência da existência, vale dizer, o poder-ser do homem. É a possibilidade intransponível, no sentido de que a morte é a última possibilidade da existência, mas que aniquila a própria existência. É uma possibilidade incondicionada, enquanto pertence exclusivamente ao indivíduo” (REALE & ANTISSERI, 1991, p. 587). E uma vez que a morte pertence a cada um e a todos os indivíduos, em particular, escreve Heidegger: “Ninguém pode assumir o morrer do outro (…). Cada Ser-aí deve assumir a sua própria morte. Enquanto a morte ‘é’, ela é sempre radicalmente a minha morte” (HEIDEGGER, In REALE & ANTISSERI, 1991, p. 587).
Ao tomar ciência da possibilidade de sua morte o homem sente a angústia, mais uma disposição fundamental do seu ser. Segundo Heidegger, “a situação afetiva que pode manter aberta a constante e radical ameaça em torno de si mesmo, ameaça nascente do mais próprio e isolado ser do Ser-aí, é a angústia” (HEIDEGGER, In REALE & ANTISSERI, 1991, p. 588). A angústia tem a capacidade de pôr o homem diante do nada absoluto, do nada de sentido, de existir, e da possibilidade de nadificação de seus projetos. O homem é incapaz de retirar a angústia de si. Se o fizesse, estaria escondendo e negando o caráter próprio de seu ser que é sua sujeição à própria morte. Para Heidegger, a morte é um principium individuationis, ou seja, um “princípio de individuação”, aquele princípio formal da vida humana: “à semelhança do fruto, que é conservado como um todo pela casca que o limita, também a vida humana se torna um todo somente mediante a morte, que a limita, a enforma, a preserva de desnaturar-se, de desfigurar-se. Só a morte permite ao homem ser completo” (MONDIN, 1983, p. 190).
Eis, em breves palavras, o pensamento heideggeriano sobre o homem. Sua influência não se ateve apenas sobre a filosofia, mas se estendeu, também, sobre a teologia – particularmente nas figuras de Tillich, Bultmann e Barth -, fazendo surgir toda uma nova escola teológica que influenciaria o mundo na década de sessenta e setenta do século passado.
Referências Bibliográficas
COLETTE, Jacques. Existencialismo. Porto Alegre: L&PM, 2009
DOS SANTOS, Luciano Gomes. O homem na filosofia de Martin Heidegger. In Filosofia: Ciência & Vida. Nº 22, São Paulo: Escala, sd, p. 50-63.
GILES, Thomas Ransom. História do existencialismo e da fenomenologia. São Paulo: EPU, 1989
LEVINAS, Emmanuel. Dios, la muerte y el tempo. Madrid: Cátedra,1998
LOPARIC, Zeljko. Heidegger. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004
MONDIN, Battista. Curso de filosofia. Vol 3. São Paulo: Paulus, 1983
NUNES, Heidegger & Ser e tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002
REALE, Giovanni & ANTISSERI, Dario. História da filosofia Vol. 3. São Paulo: Edições Paulinas, 1991
SAFRANSKI, R. Heidegger: Um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. Geração Editorial, São Paulo, 2000
VARIOS, O livro da filosofia. São Paulo: Globo, 2011
VILLA, Mariano Moreno. Dicionário de pensamento contemporâneo. São Paulo: Paulus, 2000
PRAGMATISMO, EPISTEMOLOGIA E EMPIRISMO
Tratar do pragmatismo significa, antes de mais nada, deixar de lado a filosofia continental e voltar-se para a construção que marcou a produção intelectual norte-americana, tão desconhecida em nossas academias, contudo, com uma gama de informações extremamente significativas.
Quando pensamos em pragmatismo o primeiro nome que nos vem à mente é o do médico, psicólogo, educador e filósofo americano William James (1842-1910). Embora tenha iniciado sua carreira acadêmica na esfera da psicologia, James, voltou-se logo cedo para assuntos relacionados à filosofia.
Muito embora tivesse ensinado psicologia em Harvard por mais de 35 anos (iniciando em 1873), sendo, inclusive, o responsável pela criação do primeiro curso de psicologia experimental dos Estados Unidos, no final do século XIX ele se voltou para estudo das questões relacionadas ao pragmatismo. Na realidade, costuma-se estabelecer como marco inicial de sua relação com o pragmatismo uma palestra que pronunciou em Berkeley, em 1898, sobre Concepção filosóficas e resultados práticos. Outras palestras versando sobre o tema foram feitas nos anos seguintes no Wesley College (1905), no Lowell Institute e na Universidade de Columbia entre 1906 e 1907, culminando com a publicação de seu livro Pragmatismo em 1907. Foi ele, afirma Paulo Ghiraldelli Jr.(2007, p.12), “sem dúvida, quem forjou a face do pragmatismo em sua versão clássica”. Dentre seus “descendentes” intelectuais podemos citar os nomes de John Dewey (1859-1952), Willard Quine (1908-2000) Hilary Putnam (1926-2016) e Richard Rorty (1931-2007).
Uma das grandes características do pragmatismo é sua tendência em ser absolutamente refratária ao dualismo metafísico. Ghiraldelli (2007, p. 16) nos informa que “A ideia principal do pragmatismo era a eliminação dos dualismos característicos da metafísica, como ‘realidade’ e ‘aparência’, ‘corpo’ e ‘mente’, ‘sujeito’ e ‘objeto’ etc., por meio da noção de experiência” (sic). Tendo sido formado dentro da escola da clareza francesa, James não era afeito e realmente detestava a obscuridade da metafísica alemã. Conforme afirma Will Durant, citado por Valter Costa (p.12) “Ele estava convencido de que tantos os termos como os problemas da metafísica alemã eram irreais; e procurou à sua volta algum teste de significado que demonstrasse, a todas as mentes imparciais, o vazio destas abstrações”. A resposta para seus problemas viria de um texto publicado por Charles Pierce em 1878 na Popular Science Monthly, chamado “Como tornar claras as nossas ideias”. Neste texto, Pierce asseverava que “para julgar o significado de uma idéia temos de examinar a consequência às quais ela leva quando em ação; caso contrário, as discursões sobre ela poderão não terminar nunca, e não há dúvida que não darão fruto” (sic) (DURANT, In COSTA, sd, p. 12). Com este teste nas mãos, ele seguiria para uma definição sobre a verdade, que para ele, diz respeito ao “valor corrente” de uma ideia.
Acerca do que é a verdade, ouçamos as palavras de James em seu texto mais representativo, Pragmatism, de 1907: “O verdadeiro (…) é apenas o conveniente no caminho de nosso pensamento, assim como ‘o direito’ é apenas o conveniente no caminho do nosso comportamento. Conveniente é quase qualquer moda; e conveniente a longo prazo e de modo geral, é claro; porque aquilo que satisfaz convenientemente a todas as experiências à vista não irá necessariamente atender a todas as experiências seguintes de forma igualmente satisfatória (…). A verdade é uma espécie de bem, e não, como em geral supõe, uma categoria distinta do bem e coordenada por ele. Verdadeiro é o nome de tudo aquilo que se mostrar bom no caminho da crença” (JAMES, In COSTA, sd, p. 13). Richard Rorty, afirma Ghiraldelli (1999, p. 39) “quer que levemos a sério a frase de William James que diz que ‘o verdadeiro é o nome seja lá do que for que se comprove bom de se acreditar, e bom, ademais, por razões assinaláveis e definidas’. O objetivo de James em ‘comparar a verdade com o certo e o bom’, comenta Rorty, é ‘que uma vez que se entende tudo sobre a justificação de ações, incluindo aqui a justificação de afirmativas, entende-se tudo que há para ser entendido sobre o bom, o certo e a verdade’”. Seguindo este modelo de pensamento concluímos que a verdade é um processo que acontece à uma ideia e que a veracidade seria sua confirmação.
Ao invés de questionar-se sobre o surgimento da ideia ou sobre seus pressupostos, o pragmatista se volta para seus resultados. Desta forma, fica claro que o pragmatismo é proativo, vez que olha para a frente. O pragmático, diz Costa (p. 13) desvia o olhar das primeiras coisas, dos princípios, das categorias e das necessidades e se volta para a frente, para as coisas finais, para os frutos, as consequências e os fatos. Citando Durant, Costa registra que “enquanto a escolástica indagava: O que é a coisa? – e perdeu-se em quididades; o darwinismo perguntava: Qual é a sua origem? – e perdeu-se em nebulosas; o pragmatismo pergunta: Quais as consequências? – e volta o rosto do pensamento para a ação e o futuro”. O pragmatismo, como se vê, é muito mais um instrumento de trabalho do que uma resposta aos enigmas da vida.
Inevitavelmente, se James via o pragmatismo como um método para a verdade, essa noção teria implicações sobre a relação existente entre a metafísica e à epistemologia. Em primeiro lugar o pragmatismo deveria superar as divergências metodológicas existentes entre os “racionalistas” e os “empiristas”. Segundo afirma Ghiraldelli (2007, p. 18) “No plano da metafísica os pragmatistas não queriam afirmar que o mundo material ‘está ali’, como um elemento em parte ou totalmente construído pela razão, nem que o mundo ‘é dado’, como um elemento alheio e completamente independente do intelecto, exclusivamente trazido à mente pelos sentidos”. No entanto, James não teve como evitar assumir uma postura empirista radical, o que significava, em seu entendimento, “fazer da experiência uma pedra de toque melhor para obter resultados sobre decisões que se necessitava tomar, quando do julgamento a respeito de se um enunciado é ou não verdadeiro” (GHIRALDELLI, 2007, p. 19). O pragmatista não precisa abandonar a tese correspondentista ou a coerentista, mas, sendo um instrumento mais do que um baú de respostas, o pragmatista agirá de forma instrumental na busca de uma alternativa procedimental que seja a mais clara e apta a nos fazer tomar decisões no âmbito de nossa vida cotidiana.
Eis que entra em cena, agora, a vida cotidiana de cada um dos indivíduos que compõem nossa sociedade e que acabam por contribuir, por meio de uma espécie de consenso social constantemente refeito, para afirmar o que é o bom, o certo e a verdade. Por isso, Richard Rorty, bem como Habermas e tantos outros pensadores modernos, levam tão a sério, hoje, a solidariedade das convicções criada na convivência cotidiana da sociedade. Vejamos, as palavras de Rorty citadas por Gideon Calder (2006, p. 19): “Ao contrário dos ‘realistas’, que desejam fundamentar a solidariedade na objetividade, aqueles que desejam reduzir a objetividade à solidariedade – vamos chamá-los de ‘pragmatistas’ – não necessitam nem de uma metafísica nem de uma epistemologia. Eles vêem a verdade como, na frase de William James, no que é bom que nós acreditemos… Para os pragmatistas, o desejo pela objetividade não é o desejo de escapar das limitações de nossa comunidade, mas simplesmente o desejo por tanto acordo intersubjetivo quanto possível, o desejo de estender a referência do ‘nós’ tão longe quanto possamos” (sic). Essa alternativa procedimental se apresenta hoje para os pragmatistas como a saída para as propostas correspondentista ou a coerentista.
Referências bibliográficas
CALDER, Gideon. Rorty. São Paulo: UNESP, 2006
COSTA, Valter. William James. In Grandes temas do conhecimento: filosofia. Nº 46, São Paulo: Mytos, sd.
GHIRALDELLI Jr., Paulo. Richard Rorty. Petrópolis: Vozes, 1999
GHIRALDELLI Jr., Paulo. O que é pragmatismo. São Paulo: Brasiliense, 2007
O INFERNO SÃO OS OUTROS
Esta famosa frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre, aparece uma de suas peças teatrais chamada Huis clos (Entre quatro paredes), de 1944, marcada pelo existencialismo, no qual a personagem Garcin diz: “Vocês se lembram: o enxofre, a fogueira, as grelhas… do inferno? Ah! Que brincadeira. Não há necessidade de grelhas: o inferno são os outros!” (In ALMEIDA, 1988, p. 41).
Explicando esta que seria uma das frases mais famosas de Sartre, Danto (1978, p. 83) nos diz que “O inferno são as ‘outras pessoas’, no sentido de que cada uma dessas personagens está eternamente aprisionada em impasses morais e eróticos, dos quais nenhum deles pode permitir que qualquer dos outros escape. A base do tormento espiritual deles é, porém, mais profunda do que suas psiques diabolicamente desajustadas implicam (…). Cada qual exige dos outros ser aceito pelo valor que ele ou ela gostariam fosse visto neles”.
Quando voltamo-nos para o pensamento desse ilustre filósofo, vemos em sua maior obra, O ser e o nada, que ele aponta a liberdade radical como a característica fundamental do homem. Desta forma ele quer dizer que o homem é ontologicamente livre em seu ser.
Ora, todos conhecemos a famosa expressão de Sartre no qual ele diz que a “existência precede a essência”. O que isso significa? Significa que primeiro o homem, antes de realizar algo pelo qual possa ser essencialmente descrito ou denominado – e isso inclui profissão, crença, gostos, etc. – ele existe, ou seja, ele é. Antes de ser médico, ou cristão, ou feio, ou amável, ele é um homem. Na mesma peça que citamos acima, Sartre nos diz que um homem “nada mais é do que a soma das escolhas que fez durante a sua vida”. Em outras palavras, só nos referimos à essência de um homem em função de sua existência, que a precede.
Como consequência dessa realidade de prioridade da existência sobre a essência, descobrimos que o homem é e sempre será livre para tomar suas decisões. Ainda que esteja com seu corpo aprisionado, ninguém nunca poderá dominar sua consciência, ou seja, o lugar onde reside a sua liberdade. Isso significa que existe uma diferença ontológica fundamental entre um Ser e um Objeto. O homem será sempre um Ser e jamais poderá ser reduzido à condição de Objeto. Sempre que alguém tentar realizar este ato de coisificação ou objetização do homem, nossa consciência, munida de nossa liberdade radical, grita.
Ora, em todas as relações humanas sempre temos em foco o Eu e o Outro. O Outro sempre será tratado como Objeto, e suas escolhas sempre entrarão em conflito com as minhas escolhas bem como minha liberdade com a liberdade do Outro.
Mas as coisas não se resumem a esse conflito. O Outro é necessário para o Eu porque o Eu não existiria sem o Outro ou, sem relação a um Outro. O Outro é necessário para que eu me conheça plenamente, ou seja, para que eu possa abandonar a minha “má-fé”, ou seja, “essa espécie de mentira que contamos a nós mesmos para fugir da angústia, que se origina da responsabilidade que temos por nossas escolhas” (VINÌCIUS, acessado em 13 de maio de 2016). Se você preferiu romper relações com seu melhor amigo, assuma a responsabilidade pelo que fez e não fique criando desculpas para encobrir seu ato livre e responsável. Assumir as consequências do que fazemos significa que agimos “autenticamente”, ou seja, não colocamos nos outros (no diferente – do grego héteros) a responsabilidade que é nossa. Agindo assim, agimos heterônomamente.
Lamentavelmente, porém, as pessoas optam por viver uma vida de “má-fé”, nos enganando e culpando os outros pelos erros que cometemos livremente ou pelas escolhas equivocadas que fizemos. Todos humano livre já viveu a angústia de ter que escolher autonomamente uma postura. E sua liberdade o impele a isso. Por isso Moutinho (1995, p.77) assim postula: “A angústia, portanto, é a experiência vivida em face da descoberta de liberdade”. Mas, é mais fácil deixar que os outros escolham por nós e que abramos mão de nossa liberdade, e, portanto, de nossa angústia.
É neste momento que o Outro, com seu olhar julgador, nos diz quem somos e não quem achamos que somos ou quem queremos que os outros pensem que somos. E quando o Outro nos olha ele nos julga e nos avalia. É por isso que “O inferno são os outros”. Porque nas nossas relações o signo mais comum é a tensão e o confronto. Conforme nos ensina Vinícius, “porque o outro também é livre, não podemos controlar completamente o que ele pensa, o que ele nos diz, o limite que ele impõe à nossa liberdade (…); mas, ao mesmo tempo (daí vem a tensão), preciso dele, de seu olhar (ainda que, muitas vezes, esse olhar veja algo em nós que não gostamos), para me conhecer e poder agir no mundo, pois apenas por nossas ações (sobretudo as que interferem positivamente na vida dos outros), e no nosso contato intersubjetivo autêntico (que ocorre quando encaro o outro como um ser igualmente livre, e não como um simples objeto), que podemos superar nossa situação e dar um sentido legítimo à nossa existência” (VINÌCIUS, acessado em 13 de maio de 2016).
Ora, se somos seres sociais, inevitavelmente estaremos vivendo constantemente em conflito com o Outro e sendo julgados por eles. Principalmente em nossa sociedade midiática na qual quase todos participam das novas tecnologias e acabam expondo em sites de relacionamento sua vida privada por meio de fotos, vídeos, pessoas, etc. O que Sartre nos ensina é que nunca poderemos nos esconder do olhar e do julgamento do Outro, ou seja, daquilo que nos incomoda e nos inferniza.
No entanto, Meireles nos faz uma pergunta intrigante: “Será que sem o outro a vida poderia ser mais fácil?” (MEIRELES, acessado dia 13 de maio de 2016). Será que coisificar ou nadificar o Outro seria a melhor escolha para evitar ser “queimado pelo fogo do inferno?” a proposta de Meireles é nos desafiar a “aprender a conviver com esse ‘sujeito infernal’ e julgador”, ou seja, esse ser que insiste em discordar de nós e que, talvez, tenha razão no que afirma, ainda que isso nos perturbe.
Em uma sociedade fragmentada e onde as verdades deixaram de ser duras e absolutas, talvez o “inferno” seja necessário para nos fazer conviver com o diferente, com o Outro e com a alteridade. Talvez o “inferno” nos torne mais tolerantes com os que pensam diferentes de nós.
É preciso que tenhamos a coragem de ser quem somos e de reconhecer o que pensamos e fazemos. Isso é viver autenticamente. Precisamos evitar a “má-fé” e jogar a culpa pelo que fizemos ou pensamos de errado nos outros. É preciso vencer a angústia e assumir nossa condição humana existencial. É preciso reconhecer que o que somos é, também, resultado de uma construção social realizada pelos grupos aos quais pertencemos. Mas, também precisamos entender que o Outro tem seu espaço no Eu, que, afinal, sou, Eu, em relação ao Outro.
Referências Bibliográficas
ALMEIDA, Fernando José de. Sartre: É proibido proibir. São Paulo: FTD, 1988
DANTO, Arthur C. As idéias de Sartre. São Paulo: CULTRIX, 1978
MOUTINHO, Luiz Damon S. Sartre: existencialismo e liberdade. São Paulo: Moderna, 1995
MEIRELES, Jacqueline. O inferno são os outros. In (http://www.psicologiaemanalise.com.br/2011/06/o-inferno-sao-os-outros.html, acessado dia 13 de maio de 2016).
VIEIRA, Luiz Carlos Garcia. O inferno são os outros: Filósofo Sartre. In (http://profluizfala.blogspot.com.br/2016/02/o-inferno-sao-os-outros-filosofo-sartre.html?view=snapshot acessado em 13 de maio de 2016).
VINICIOS. In O inferno são os outros. (http://filosofiaecoisasdavida.blogspot.com.br/2010/07/um-dos-temas-filosoficos-que-mais-me.html acessado em 13 de maio de 2016).
AS GRANDES METÁFORAS DA ÉTICA
Os primeiros a discutir o tema da ética, dentro da filosofia ocidental, foram os gregos. Foi dentro do debate sobre se certo comportamento era ou não justo, que surge o debate sobre a vida justa. Para os primeiros escritores gregos a vida ética era uma exigência, em função de nossa relação com os deuses. Para Homero, se somos descendentes dos deuses devemos viver uma vida digna de nossa ascendência. Esta era uma ética aplicada apenas aos setores dominantes da sociedade, ou a alguns (aristoi) privilegiados. Enquanto o povo estava livre para viver como quisesse, os aristoi deveriam viver uma vida que agradasse aos deuses.
Hesíodo virá, logo em seguida, dizendo que a vida justa não é uma exigência apenas para a aristocracia, mas para todos os homens. Todos temos que nos envolver nesta luta que é a busca por viver uma vida justa.
E é na busca de formas adequadas para se fundamentar esta luta em busca da vida ética, que os gregos pensaram em algumas metáforas importantes que poderiam ser usadas por cada um de nós que desejamos um Brasil melhor. São três as grandes metáforas éticas dos gregos, a do cosmos, a do corpo e a da navegação. A primeira metáfora é a do cosmos. De que forma o cosmos poderia ajudar para meu embasamento ético? Os gregos, como as culturas antigas, tinham o costume de contemplar o céu à noite e dele retirar algumas lições. Ao olhar e estudar o céu e as estrelas, os gregos perceberam, em primeiro lugar seu caráter ordeiro. A própria palavra grega cosmos, significa “ordem”. Viver uma vida cósmica seria, portanto, viver uma vida de ordem, uma vida na busca da ordem e de rejeição ao caos, à desordem. O segundo elemento importante retirado da contemplação do cosmos, diz respeito a circularidade. Os gregos, observando o céu, todas as noites, perceberam que havia uma certa circularidade no que viam. As próprias estações do ano revelavam que havia uma sucessão de ciclos constantes no tempo. O inverno, portanto, sempre dava lugar à primavera, e esta ao verão, para que, depois, viesse o outono. Em nossa vida, portanto, precisávamos compreender que cada momento faz parte do grande círculo no qual estamos. Nascemos, crescemos, nos tornamos fortes e guerreiros, mas também minguamos e, em seguida, morremos. E isto não deveria ser visto como algo necessariamente mal, mas como algo que faz parte da vida. É a partir desta visão de circularidade que surgem as ideias sobre transmigração da alma. Em último lugar, a observação do cosmos influencia nossa visão ética porque cria em nós uma certa tranquilidade. Ao ver o céu estrelado da noite, os gregos compreendiam que havia ordem no universo, que tudo andava dentro de seu caminho e que, havia uma certa tranquilidade nas coisas. Os movimentos eram leves e lentos, mas certos e previsíveis. Nossa vida, para ser uma vida cósmica – afinal nós também fazemos parte do cosmos (somos cósmios) – também deve refletir mais tranquilidade e serenidade, uma vez que o futuro é inevitável.
A segunda grande metáfora que os gregos usavam para embasar nossa ética, era a metáfora do corpo. Ao refletir sobre seus próprios corpos, os gregos concluíram que havia três verdades sobre o corpo que precisavam ser consideradas. A primeira era sobre sua unidade/diversidade. Ao observar o corpo imediatamente nos damos conta de quão diverso ele é. Há uma enorme variedade de órgãos, cada um deles com seu papel e sua função; há uma intrincada rede de vasos e veias que levam o sangue para todo corpo; há ossos, cartilagens, e tecidos os mais variáveis, e tudo, apesar de sua variedade, funciona em perfeita harmonia. Nosso corpo, portanto, sendo múltiplo é apenas um. Com o mesmo olhar com o qual vemos o nosso corpo, também podemos ver a nossa cidade e nosso país, assim como nosso papel nele. A cidade é grande, variada, mas nós fazemos parte dela. A segunda verdade que precisava ser considerada sobre o corpo é a sua saúde/doença. Assim como quando nosso corpo está saudável tudo está bem, quando alguma coisa vai mal com um elemento do corpo, todo o corpo sente. Da mesma forma, se não formos cidadãos responsáveis toda a sociedade sentirá a dor. Nós acabaremos por criar uma disfunção social em função de atos irresponsáveis que não veem a coletividade. Finalmente, quando os gregos refletiam sobre o corpo, eles refletiam em torno de sua beleza/feiura. Os gregos sempre representavam seus heróis com corpos bonitos. Isto era uma projeção do que eles acreditavam. Quando percebemos que fazemos parte de um corpo, e quando compreendemos que devemos fazer o possível para que este corpo seja saudável, o fim será a beleza, a harmonia. Novamente a estética é usada para discutir os assuntos da ética. Como cidadãos, deveríamos primar por termos uma sociedade mais bela, mais saudável e, que respeite a diversidade de condições em que cada um está.
A última grande metáfora que os gregos usavam para embasar um discurso ético, era a metáfora da navegação. Os gregos eram um povo em cuja vida sempre esteve presente a navegação. E refletir sobre a navegação e sobre sua influência sobre a nossa vida nos levará a reconhecer três elementos importantes para elaborar nossa ética. Em primeiro lugar, contemplando os navios que iam e viam cruzando o Mediterrâneo, os gregos compreenderam que a vida é uma inevitável viagem. Todos estamos “de passagem”, navegando pela vida e enfrentando suas ondas turbulentas, seus vagalhões, mas também singrando os mares na calmaria. Por isso o general romano Pompeu (106-48 a.C.) diria mais tarde “navegar é preciso, viver não é preciso”. Não estamos aqui para sempre, estamos de viagem. Somos viajantes neste mundo. Mais do que humanos, somos mortais. E é isso que nos diferencia dos deuses. Em segundo lugar, contemplar os navios no mar, nos faz pensar na técnica necessária para a viagem. Não podemos viajar sem técnica, não podemos viajar de qualquer forma. Não podemos empreender uma viagem sem que saibamos manobrar a nau, compreender os ventos, ler as estrelas, etc. sem que saibamos manobrar o barco, sem que saibamos a técnica necessária para a viagem, partir é uma irresponsabilidade. Da mesma forma, na vida precisamos desenvolver algumas técnica para podermos viver de forma adequada, de forma justa, de forma que nosso barco não soçobre. Somente de posse de uma técnica poderemos enfrentar os ventos, as tormentas as tempestades próprias de nossa existência; somente com uma técnica adequada poderemos sobrevier nessa vida cheia de revezes e tribulações. Em terceiro lugar, quando olhamos os viajantes, inevitavelmente nos perguntamos sobre o rumo que estão tomando. Toda viagem, só começa quando temos para onde ir. Por isso alguém já disse que “quem não sabe para onde vai, nunca chega a lugar algum”. Em nossa vida precisamos ter o alvo sempre diante de nós, sob a pena de nos perderemos pelo caminho. De fato, aquela pessoa que não tem a menor ideia sobre de onde veio ou para onde vai é descrita como um perdido. Na nossa existência não podemos permitir que os dias passem e nos ache perdidos. É preciso um norte, uma bússola, um sonho, um alvo, ou seja, algo que nos sirva de referência para que nos achemos em meio ao mar revolto e possamos navegar seguro até o porto. Que possamos aplicar estes três princípios simples para nos tornarmos pessoas melhores em nossa vida e em nossas relações.
A QUESTÃO DO TEMPO
Santo Agostinho, quando se referiu ao tempo, disse que “Se ninguém me perguntar, eu sei o que é; mas se eu desejasse explicá-lo a alguém que me fizesse a pergunta, simplesmente não sou capaz” (AGOSTINHO, In ENGSTROM & MACKENZIE, 1980, p. 23).
Este fim de semana encontrei com uma pessoa com quem geralmente encontro quando vou celebrar casamentos. Notei que ele estava um pouco mais magro e perguntei: está fazendo regime? Ele me respondeu calma e simplesmente: Não. Estou com câncer. Assim é a vida. Ela passa inexoravelmente. Ou será que somos nós quem passamos por ela?
De fato, falar sobre o tempo é uma questão extremamente difícil. Tão difícil que poucos autores se enveredaram por esse tema. Se buscarmos uma simples definição, alguém poderia dizer que o tempo “é a duração relativa das coisas que cria no homem a ideia de presente, passado e futuro. O tempo é o período contínuo no qual os eventos se sucedem”.
- O tempo e o valor. Eu nasci em uma época em que as coisas tinham seu valor muitas vezes associado ao tempo, ou seja, à duração. Um boa geladeira era aquela que durava muito. O mesmo poderia ser dito sobre qualquer outro objeto. Hoje, no mundo exageradamente mutante em que vivemos, as coisas possuem uma duração muito curta. Troca-se o celular a cada ano; troca-se de roupa à cada moda; e, lamentavelmente, hoje, troca-se de cônjuge, a cada crise. Segundo afirmou a escritora Maria Julia Paes de Silva, “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. É verdade que a durabilidade das coisas é importante. Mas, será que um casamento de quarenta anos de violência doméstica ou traição valem mais do que uma relação de quatro anos de experiência intensa, companheirismo, confiança e fidelidade? Claro que não. Quando colocamos a durabilidade ao lado da virtude, descobrimos que esta é algo supremo e superior. Por isso Já dizia Marco Aurélio: “Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os homens. A vida é curta” (In MORRIS, 1998, p. 137).
- O tempo medido e o vivido. Quando voltamo-nos para a língua grega, percebemos que nela existem duas palavras que podem ser traduzidas por “tempo”. A primeira delas é “cronos” e a segunda é “kairós”. O Cronos difere do kairós porque ele pode ser medido e contabilizado. É por isso que temos em português a palavra “cronômetro”, que é um instrumento que usamos para contar o tempo. Já o Kairós, diz respeito ao tempo dos deuses; àquilo que ocorre no momento certo, ou no instante em que tinha que acontecer. Esses eventos não podem ficar à mercê de um instrumento que os meça e os estabeleça.
Existem algumas diferenças entre estes dois tempos que as pessoas precisam saber distinguir. Mas a mais séria é que o tempo medido é inimigo do tempo vivido. Os dois se digladiam constantemente na busca de obter a vitória, um sobre o outro. O tempo medido nos escraviza, particularmente, no trabalho; ao passo que o tempo vivido nos liberta. Lembrem do trabalhador que fica olhando para o relógio na expectativa de chegar o tempo de largar o trabalho, ou ainda aquele que fica contando o tempo na espera da aposentadoria. O que eles querem depois do toque ou da aposentadoria?
O tempo certo das coisas acontecerem chegará. Eu já passei por essa experiência. Depois de muito tempo buscando alguém que fosse diferente e que pensasse diferente do padrão de igualdade no qual nossa sociedade se impôs e procura nos impor, no único dia em que eu não estava procurando, ela me encontrou.
- O tempo e a vida. Quando relacionamos o tempo com a vida temos que fazer algumas reflexões. Essas reflexões podem ser vistas em textos filosóficos como O ser e o Tempo, de Martin Heidegger ou O Ser e o Nada de Jean-Paul Sartre. Neste dois textos temos a mesma perspectiva de nossa existência, ou seja, somos, antes de qualquer coisa Seres para a morte e Seres para a autenticação.
Em primeiro lugar, quando Heidegger diz que somos Seres para a morte ele está destacando o fato inarredável de que o homem – o Ser-ai, ou Dasein – é ciente de sua finitude e, portanto, de suas limitações enquanto Ser-no-mundo. Esta verdade, no entanto, não deve nos paralisar mas, ao revés, nos fazer viver o tempo que temos da melhor forma possível, uma vez que, por outro lado o homem é também Ser-de-projeto.
Em segundo lugar, quando Sartre diz que somos Seres para a autenticação, ele está querendo dizer que, quando vivemos cientes da primeira verdade dita acima, e não vivemos a vida da melhor forma possível, antes, vivemos a vida para agradar aos outros e não a nós mesmos, vivemos uma vida inautêntica. Só vive autenticamente quem assume os riscos de suas convicções e de suas crenças; só vive autenticamente que não se importa com o que pensa a maioria e sim com o que a sua consciência diz e só vive autenticamente quem realiza seus projetos e não os projetos alheios.
É preciso levar essas verdades à sério, porque todos temos o mesmo tempo no dia, mas nem todos teremos os mesmos dias. Do Gari ao Presidente da República, todos têm apenas 24 horas no dia para tomar as grandes decisões da vida. Mas não sabemos quantos dias teremos para tomarmos essas decisões. Por isso elas não podem, jamais, serem adiadas. Ademais, devemos levar em consideração as palavras do Dalai Lama que, certa vez, afirmou: “Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver”.
Sim, concordo com ele quando diz que o que há de mais importante na vida é amar, acreditar, fazer e viver. Em nossa sociedade consumista só valorizamos o trabalho e o lucro; os bens e o capital; o Ter e não o Ser; a aparência e não a existência. Mas aprendemos com Jesus que nosso coração deve estar focado onde está o nosso tesouro. Qual é seu tesouro? O trabalho, o lucro, os bens, o capital, o Ter? Que seu tesouro seja o amor de sua vida. Aquela pessoa que é mais valiosa do que tudo o mais, e para quem, você doará toda a sua existência. Afinal, Renato Russo também disse: “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã”. Ame, portanto, intensamente hoje, como se no amanhã o objeto de seu amor não mais existisse.
Devemos de uma forma imperiosa atentar para as verdades absolutamente fascinantes expressas no lindo texto de Mário Quintana chamado “O Tempo”, que diz:
“A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal…
Quando se vê, já terminou o ano…
Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado…
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas…
Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo…
E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo.
Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.
A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará”.
Com Quintana aprendemos que a vida passa, e passa rapidamente diante de nós. Não permita que ela passe de forma irresponsável e inconsequente. Não deixe que com ela passem também as oportunidades únicas de se ser feliz e de amar eternamente. Talvez, quem sabe, Renato Russo não tenha lido essa poesia quando compôs a letra de Por enquanto que diz:
“Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar…
Que tudo era pra sempre,
Sem saber, que o ‘pra sempre’,
Sempre acaba …”.
A grande verdade, meu querido leitor, é que neste “grande vale de lágrimas”, que é nosso mundo, não temos todo o tempo do mundo, temos pouco tempo para fazer o que precisa ser feito. E dizer isso é o mesmo que afirmar que nossa vida só tem sentido se nosso tempo for gasto da forma correta. Afinal, perguntam Ted Engstrom e Alec Mackenzie (1980, p. 26): “Se o espaço é a dimensão na qual as coisas existem, por que, segundo a sugestão de Robert MacIver, não aceitar o tempo como a dimensão na qual as coisas se alteram?”. Se você aceitar essa sugestão, gostaria que você refletisse sobre o que tem feito com seu tempo e dedicasse mais atenção ao que é realmente importante. Não adianta vir com explicações, fugindo dos fatos, dizendo que não tem tempo. Lembro-me das palavras que dizem que “Na sociedade moderna muitos trabalhadores se parecem com o Coelho Branco, personagem do livro Alice no pais das maravilhas, de Lewis Carroll: vivem correndo, olhando para o relógio e dizendo: ‘Estou atrasado!’, ‘Estou atrasado!’” (DOUGRAS & LAGO, 2016, p. 87). Não! não! Você é livre para fazer o que quiser com seu tempo. Portanto, aceite o velho conselho do sábio poeta satírico Romano Quinto Horácio Flaco (65 aC. – 8 dC.) que disse em seu Livro I de “Odes”, aconselhando sua amiga Leucone e afirmando: “…Carpe diem, quam minimum crédula postero”, que numa tradução livre diria: “aproveite o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã”. Ame com toda a força da sua alma e se entregue plenamente a este amor, ainda que os outros achem que isto seja uma loucura. Tenha a coragem de fazer como diz a linda letra de Sergio Endrico:
“C’è gente che ama mille cose
e si perde per le strade del mondo.
Io che amo solo te,
io mi fermerò
e ti regalerò
quel che resta
della mia gioventù”.
Que pode ser traduzida assim:
Há gente que ama mil coisas
e se perde pelas estradas do mundo.
Eu que amo somente você,
eu pararei
e lhe doarei
o que resta
da minha juventude.
Sim, doe-se de forma plena, completa e livre ao amor de sua vida e seu tempo terá, somente assim, sentido. Pois somente quando nosso tempo é dedicado ao tesouro de nosso coração há sentido na vida que nos resta.
Referências Bibliográficas
DOUGRAS, Willian & LAGO, Davi. Formigas. São Paulo: Mundo Cristão, 2016
ENGSTROM, Ted & MACKENZIE, R. Alec. Administração do tempo. Miami: Vida, 1980
MORRIS, Tom. A nova alma do negócio. Rio de Janeiro: Campus, 1998
14. A QUESTÃO DOS UNIVERSAIS
Embora a relação entre a fé e a razão seja a questão central que mobilizará toda Idade Média, esta questão vai se tornar mais palpável e concreta quando passamos a discutir o grande tema que mobilizou este período, ou seja, a questão dos universais.
Esta questão foi herdada pelos medievais de Porfiro e Boécio, os quais, na tentativa de fazer uma conciliação entre Platão e Aristóteles, se viram diante de um dilema: a existência ou não das ideias universais à parte das coisas, isto é, das coisas mesmas. Para ilustrar o problema nos serviremos de um exemplo dado por Mondin: “Por exemplo, o conceito de homem pode ser predicado de César, de Sócrates, de Constantino e outros. Mas César, Sócrates, Constantino e outros são seres singulares ou individuais, não universais, e cada indivíduo é diferente dos outros. Mas, se os conceitos são universais, e os objetos, particulares, em que consiste a verdade dos conceitos universais? Como se pode dizer que eles correspondem às coisas?” (MONDIN, vol. 1, p. 1981, 161).
Vamos nos deter um pouco mais sobre esta ilustração. Além de imagens sensíveis, variáveis e particulares (César e Sócrates), também possuímos conceitos universais (de homem) que são “representações intelectivas, necessárias, imutáveis e aplicáveis a um número indefinido de indivíduos” (FRANCA, 1990, p. 89). Ora, uma vez que a realidade está sujeita à nossa experiência mutável e contingente, qual o valor objetivo destes conceitos?
Uma outra ilustração nos é dada por Cláudio Costa que diz: “Podemos dizer de muitas folhas que elas são verdes, de muitos seres vivos bastante diversos que eles são seres humanos, de muitas ações que elas são justas, mesmo que nos pareçam completamente diferentes umas das outras” (COSTA, 2002, p. 29). O professor Cláudio, nesta citação, faz alusão a três elementos representativos. De um lado estão os seres humanos – seres animados, inteligentes e que têm consciência de sua existência, do outro estão as folhas – seres inanimados, e, finalmente os atos justos, ou seja, os gestos e as atitudes que são resultados das volições. A questão que se impõe é a seguinte: como poderemos compreender que coisas tão diferentes (os diversos tipos de folhas) possam compartilhar da mesma propriedade (ser verde)? Como um mesmo predicado (ser humano) pode ser aplicado a seres tão diversos (brancos, negros, magos, baixos, etc.)?
A questão de fundo é, como se pode ver, a relação entre as palavras e as coisas, ou entre as voces e as res, entre o pensamento e o ser. Com efeito, diz-nos Reale, “o problema dos universais diz respeito à determinação do fundamento e do valor dos conceitos e termos universais – por exemplo, ‘animal’ e ‘homem’ – aplicáveis a uma multiplicidade de indivíduos” (REALE-ANTISERE, vol. 1, 1990, p. 520). Diante da questão dos universais é possível assumir pelo menos três posições: os universalia são ante rem, in re ou post rem? Ou seja, antes da coisa, na coisa ou depois da coisa?
- Os realistas
Esta escola teve como seu mais forte defensor Guilherme de Champeaux (1070-1121) que acreditava haver uma perfeita adequação ou correspondência entre os conceitos universais e a realidade. Ou seja, ele procurava salvar uma perfeita e total correspondência entre o conhecimento e o objeto, afirmando a existência de realidades objetivas universais. Desta forma, “as coisas que vemos e tocamos realmente são cópias de arquétipos eternos que, dalguma maneira, as trouxe à existência” (sic) (BROWN, 1983, p. 17). Os chamados realistas se baseiam, como podemos ver, em Platão, que afirmava que os universais têm uma existência objetiva em algum lugar do universo chamado “mundo das ideias”. O tipo de existência destes universais ou Ideias é completamente independente das coisas particulares. Ele acreditava existir universais da beleza, da bondade e da verdade à parte do que é belo, bom e da justiça praticada por alguém. Nas palavras de Cláudio: “O realismo dos universais afirma que podemos distinguir a mesma propriedade ou atributo em muitas coisas diversas, posto que essa propriedade é um universal puro ou abstrato (uma entidade abstrata, a idéia, a forma), o qual é de algum modo compartilhado por todas essas coisas, talvez por serem elas próprias, como pensava Platão, cópias imperfeitas desse universal” (sic) (COSTA, 2002, p. 29).
Desta forma, todos os seres vivos que compartilharem da propriedade universal da humanidade poderão ser chamados de seres humanos e todos os atos morais que compartilhem daquela propriedade universal da justiça serão agora identificados como atos morais justos. Para ela os universais realmente existiam antes das coisas criadas: universalia ante rem. Esta postura nos faz procurar para uma realidade última além desta vida. Nossos atos justos nada mais são do que reflexos da realidade da justiça que existe além da nossa dimensão. Nós deveríamos nos inspirar nestes universais para buscar viver sua realidade no aqui e no agora.
- Os conceitualistas ou realistas moderados
Aristóteles, embora discípulo de Platão, discordava em parte de seu mestre sobre a questão dos universais. Sua visão mais moderada sobre a natureza da realidade afirmava que os universais têm sim uma existência objetiva, contudo não de forma autônoma ou à parte das coisas individuais e sim nelas. Os universais estão nas coisas: universalia inre. Entre os conceitualistas ou realistas moderados estão Abelardo e Tomás de Aquino. Para Abelardo a realidade existia primeiro na mente de Deus, depois aqui e agora nos indivíduos e coisas, não acima e além desta vida, e finalmente na mente do homem.
- Os nominalistas
A terceira e última escola citaremos é a nominalista. Esta escola está intimamente relacionada à figura de Guilherme de Ockham (1295-1350). De forma bem simplista “os universais são abstrações a partir de experiência do particular” (VÁRIOS, 2011, p. 332). Esta postura ensinava que “não é necessário recorrer a um universal para justificar o compartilharmento de uma mesma propriedade por coisas diferentes” (COSTA, 2002, p. 30). Na realidade, a simples expressão: “compartilhar da mesma propriedade” não passa de uma maneira de falar. Vejamos o que nos diz Cláudio: “Quando dizemos que muitas folhas são verdes, que alguns seres vivos são humanos, que certas ações humanas são justas, o que queremos dizer é que muitas folhas são semelhantes umas às outras pelo fato de serem verdes, que alguns seres vivos são semelhantes uns aos outros em suas propriedades empíricas de humanidade, que certas ações são semelhantes umas às outras por serem empiricamente qualificáveis como justas” (COSTA, 2002, p. 30).
Para os nominalistas não precisamos recorrer a um universal do tipo “o verde”, “a humanidade” ou “o justo” para poder explicar porque é possível falar algo único sobre tantas coisas distintas e múltiplas. Para Guilherme de Ockham, uma das graves consequências do realismo, é que ele multiplica desnecessariamente as entidades produzindo um reino supérfluo de “entidades abstratas cuja natureza ninguém jamais conseguiu precisar e cuja existência ninguém pode provar” (COSTA, 2002, p. 30).
Para os nominalistas, os universais são apenas ideias subjetivas formadas pela mente como resultado da observação de coisas particulares. A justiça, por exemplo, nada mais seria do que a ideia decorrente da observação que o homem faz da justiça em ação. Guilherme de Ockham, conhecido como princeps nominalistarum, além de pregar a não existência de universais objetivos, também sustentava que os universais eram apenas nomes ou conceitos mentais formados pelo homem em sua mente. Para os nominalistas os universais eram: univesalia pos trem. Para Ockham, nenhum universal poderia ser visto como uma substância fora da mente (referência ao platonismo). Para Ockham, se o universal fosse uma substância existente nas substâncias singulares e fosse distinta delas, segue-se que poderia existir sem elas, uma vez que todas as coisas anteriores à outras podem existir sem elas. Mas isso seria um absurdo. Em nosso autor, o “universal” é apenas uma “intenção mental” ou, como ele também diz, um “sinal voluntariamente instituído” e convencionado entre as pessoas.
Sobre a possibilidade de se provar a existência de Deus ele é muito claro: ela não pode ser provada a priori, mas apenas a posteriori, e mesmo assim, admitindo que estas provas – baseadas na experiência – não têm poder absoluto, apenas provável.
Esta escolha pelo nominalismo fez com que sua teologia também fosse bastante peculiar, uma vez que segundo ele não dispomos de conceitos que sejam apropriados para nos referirmos a Deus e à sua natureza. Todos os nossos conceitos são análogos e dizem respeito às criaturas, eles só servem realmente para indicar e para apontar em uma determinada direção e não para representar Deus ou descreve-lo.
Os nominalistas têm sido identificados com os precursores dos empiristas, dos positivistas e dos pragmáticos contemporâneos. Na realidade, ao negar qualquer valor aos universais, o nominalismo se mostra um tanto cético “porque anula alguns instrumentos do conhecimento humano que se torna uma simples atividade analítica de fatos concretos e individuais, incapazes de ascender a níveis de caráter geral” (REALE-ANTISERE, vol. 1, 1990, p. 522).
A crítica nominalista à existência de um mundo das Ideias, do tipo em que Platão acreditava, são de extrema importância porque, em primeiro lugar, quebra a visão dualista de mundo, fazendo com que as realidades sejam encaradas como uma realidade unificada; em segundo lugar porque fará do conhecimento das coisas algo particular e pessoal, e não algo geral; algo que tenha a ver com a minha leitura dos fatos e não com a “apreensão” clara e absoluta da realidade; e porque, em último lugar, me fará ver os meus próprios condicionamentos ao me aproximar das coisas, tornando-me mais humilde e evitando que eu imponha sobre os outros uma visão que é minha.
Referências Bibliográficas
BROWN, Colin. Filosofia e fé cristã. São Paulo: Vida Nova, 1983
COSTA, Claudio. Uma introdução contemporânea à filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2002
FRANCA, Leonel. Noções de história da filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1990
MONDIN, Battista. Curso de filosofia. vol. 1. São Paulo: Edições Paulinas, 1981.
REALE, Giovanni & ANTISERE, Dario. vol. 1. História da filosofia. São Paulo: Edições Paulinas, 1990
VÁRIOS. O livro da filosofia. São Paulo: Globo, 2011
15. DA ARQUEOLOGIA DO SABER EM FOUCAULT
Escrever sobre Foucault é um prazer e, simultaneamente, um desafio. É um prazer pela originalidade de sua obra e um desafio porque sua profundidade não pode ser resumida em um texto com poucas laudas, como é meu interesse. Pensando nisso, resolvi trabalhar apenas um dos temas fulcrais do pensamento foucaultiano, qual seja, sua arqueologia do saber.
Michel Foucault (1926-1984) foi um dos mais influentes e amplos pensadores franceses do século XX. Sua obra tangenciou tanto a filosofia quanto a psicologia, a história, a sociologia e o direito. Rotulá-lo como estruturalista, pós-estruturalista ou existencialista, não bastava. Ele simplesmente fugia a todas essas rotulações. Ele mesmo se considerava apenas um “historiador dos sistemas de pensamento”. Ele foi o responsável por significativas mudanças em temas tradicionais como a verdade, o poder, a história e a moralidade.
Foucaut, como enfim todos os demais pensadores da época, foram fortemente influenciados pelas obras de Sartre e Heidegger. Não é sem propósito que Paul Strathern (2003, p. 16) registra que: “Na época, a filosofia de Heidegger era assunto de profundos debates nos cafés da margem esquerda do Sena. A desilusão do pós-guerra e um desespero com os valores tradicionais promoveram uma adesão entusiasmada ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, ele mesmo influenciado por Heidegger. O existencialismo de Sartre era basicamente subjetivo e acreditava na ‘existência antes da essência’. Não havia algo como essência humana ou a subjetividade. Essa essência nós mesmos a havíamos criado pela maneira como existíamos, fazíamos as nossas escolhas e agíamos no mundo. Além disso, nossa subjetividade não era nenhum elemento constante, aberto a uma definição estática e limitante. Estava sendo criada continuamente, evoluindo constantemente como resultado da vida que levávamos”. As teses sartrianas sobre a inexistência de uma “essência” humana, estará presente nas obras de Foucault, principalmente em As palavras e as coisas.
Segundo registra Paul Strathern (2003, p. 36) quando Foucault fala em “arqueologia”, “ele pretende a exumação das estruturas de conhecimento ocultas que dizem respeito a um período histórico particular. Isso consiste dos pressupostos e preconceitos (literalmente, pré-juízos), em geral inconscientes, que organizam e delimitam objetivamente o pensamento de qualquer época”. É claro que não estamos diante de uma proposta epistemológica – que tem a ver com ciência – feita por Foucault, mas de uma forma de saber.
O que Foucault fez foi se servir de uma palavra da peleontologia para descrever o processo de escavação e de buscas do sentido de uma categoria, uma palavra ou uma ideia, expondo sua colocação nos estratos da história e as mudanças que ocorreram com o passar do tempo. Segundo Machado (In YAZBEK, 2012, p. 40) “a arqueologia tem por objetivo descrever conceitualmente a formação dos saberes, sejam eles científicos ou não, para estabelecer suas condições de existência, e não de validade, considerando a verdade como uma produção histórica cuja análise remete a suas regras de aparecimento, organização e transformação no nível do saber”. Percebe-se claramente que, ao desvincular-se da verdade, a arqueologia pretende ser uma crítica “à própria ideia de uma racionalidade global e unitária” (YAZBEK, 2012, p. 40) o que, no fim das contas, implica em uma crítica ao próprio sujeito racional.
Ao se referir a este “conjunto de pressupostos, preconceitos e tendências que estruturavam e delimitavam o pensamento de qualquer época em particular” (STRATHERN, 2003, p. 36, 37), Foucault a denomina de episteme – palavra de origem grega que significa “conhecimento”. É interessante notar que no mesmo momento em que Foucault fala em episteme, do outro lado do Atlântico, Thomas Kuhn cria a ideia similar de paradigma. Cada período histórico, portanto, terá seu próprio conjunto de valores e ideias que são chamados por ele de episteme.
Um segundo elemento fundamental no estudo da arqueologia foucaultiana, e consequência lógica do primeiro tema, é a noção de discurso. Para o lustre pensador Paul Strathern (2003, p. 37), “A episteme determina os limites da experiência do período, a extensão de seu conhecimento e até sua noção de verdade. Uma determinada episteme tende a originar uma determinada forma de conhecimento. Foucault chamou-a discurso, isto é, a acumulação de conceitos, práticas, declarações e crenças produzidas por uma determinada episteme”. Desta forma é possível dizer que cada período da humanidade tinha uma episteme diferente, que produzia um discurso igualmente diferente e que só seria conhecido por meio de um processo arqueológico para chegar e atingir esta episteme.
Como vemos, as epistemes mudaram ao longo do tempo e, em função disso, também mudaram os discursos. É por isso que uma “arqueologia” é necessária, “para desenterrar tanto os limites quanto as condições do modo como as pessoas pensavam e falavam em tempos antigos” (VÁRIOS, 2001, p. 302). Por isso não podemos supor que a noção que temos, por exemplo de “ser humano” seja a mesma em todas as épocas da história. Um exemplo de criação de discurso, nos é dado por ROHMANN (2000, p. 168) quando diz que “para Foucault, o principal exemplo de tal mudança na história ocidental ocorreu no Iluminismo do século XVIII, quando o culto à razão gerou modelos do que é ‘normal’ segundo princípios supostamente racionais que eram, na verdade, tão arbitrários e tão repressivos quanto as autoridades que substituíram”.
A conclusão lógica que retiramos do pensamento foucaultiano é que a verdade não é uma realidade sólida, mas fluida e mutante, amoldando-se à cada realidade histórica e social relacionando-se, basicamente, com o poder. Na base desse pensamento é possível encontrar a figura de Kant, que operou o que foi chamado de “revolução copernicana” no pensamento, fazendo a filosofia “abandonar a velha questão ‘Por que o mundo é como é?’ para fazer a pergunta ‘Por que vemos o mundo do modo como vemos?’” (VÁRIOS, 2001, p. 303). Suas três análises arqueológicas mais conhecidas são: sua História da loucura, onde ele demonstra que a relação entre razão e loucura não pode ser encontrada na esfera de uma teoria médica, jurídica ou psiquiátrica, e sim, em critérios sociais e discursivos; em O nascimento da clínica, onde ele abdica do mero critério epistemológico de cientificidade para buscar o somatório do discurso médico, bem como suas ações não verbais, por meio das quais se fala enfaticamente sem nada dizer; e, finalmente, em As palavras e as coisas, onde ele, discutindo o surgimento das ciências humanas, opondo os saberes clássicos às ciências modernas, demonstrava como a “episteme moderna introduz nas coisas uma dimensão de interioridade, e o homem aparece sobre o fundo de sua própria finitude” (ROUANET, In YAZBEK, 2012, p. 43.). Por isso Foucaut confessa: “No fundo, talvez eu não passe de um historiador das idéias, mas envergonhado ou, se quiserem, presunçoso. Um historiador das idéias que quis renovar inteiramente sua disciplina; que desejou, sem dúvida, dar-lhe o rigor que tantas outras descrições, bastante próximas, adquiriram recentemente; mas que, incapaz de modificar realmente a velha forma de análise, incapaz de fazer com que transpusesse o limiar da cientificidade (…), declara, para iludir que sempre fez e quis fazer outra coisa. (…) Eu não teria o direito de estar tranqüilo enquanto não me separasse da ‘história das idéias’, enquanto não mostrasse em que a análise arqueológica se diferencia de suas descrições” (sic) (FOUCAULT, 2002, p. 156).
De que forma, então, podemos falar com propriedade sobre verdades e, sobre tais “verdades”, julgar e condenar pessoas, ou ao menos dizer o que é e o que não é certo? Afinal com Wilhelm Dilthey (1833-1911) aprendemos que toda verdade tem uma história e com o bispo Anglicano Robinsom Cavalcanti (1944-2012) aprendemos que aquilo que hoje é tradição, um dia foi novidade.
Devemos manter nossa mente sempre aberta ao diálogo com a sociedade e sempre pronta a não confundir o que pensamos com a verdade absoluta. Isso, no mínimo, exigirá um grande exercício de humildade, mas será benéfico para olharmos para o “outro” como para um “igual”.
Referências bibliográficas
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002
YAZBEK, André Constantino. 10 lições sobre Foucault. Petrópolis: Vozes, 2012
ROHMANN, Chris. O livro das idéias. Rio de Janeiro: Campus, 2000
STRATHERN, Paul. Foucault em 90 minutos. Rio de Janeiro, 2003
VÁRIOS, O livro da filosofia. São Paulo: Globo, 2001
16. A EPISTEMOLOGIA EM RICHARD RORTY
Antes de iniciar nossa exposição sobre o pensamento epistemológico de Richard Rorty, creio ser necessário uma palavra introdutória sobre esse que foi um dos maiores representantes da filosofia pragmatista americana no século XX. Nascido em 1931 e morto em 2007, este pensador entrou para a Universidade de Chicago com apenas 15 anos e fez seu doutoramento em Yale, escrevendo sobre o conceito de potencialidade. Embora tivesse uma relação bastante conflituosa com a filosofia clássica, finalmente permitiu-se tornar-se professor na Universidade de Princeton, em 1982. Acerca dele, no momento em que recebeu o prêmio Meister Eckhart, em 2001, Habermas se pronunciou, afirmando ser ele: “um dos mais significativos filósofos da atualidade”.
Nosso autor pode, muito acertadamente, ser identificado como um dos seguidores do projeto pragmatista de Charles Peirce (1839-1914), William James (1841-1910) e John Dewey (1859-1952). Quando falamos em pragmatismo estamos nos referindo àquele pensamento que tinha como ideia inicial “a eliminação dos dualismos característicos da metafísica, como ‘realidade’ e ‘aparência’, ‘corpo’ e ‘mente’, ‘sujeito’ e ‘objeto’ etc., por meio da noção de experiência” (GHIRALDELLI JR., 2007, p. 16). Por meio da experiência o pragmatismo clássico procurava alcançar o objetivo da filosofia desde a Grécia antiga, ou seja, a verdade. No entanto, não a “natureza da verdade”, mas “o modo pelo qual na prática da vida, na prática social, podemos apostar que não corremos relativo perigo de errar quando, diante de um enunciado, dizemos: ‘é verdadeiro’” (GHIRALDELLI JR., 2007, p. 18). Os pragmatistas, portanto, não pretendiam definir a verdade, mas examinar “se uma proposição, ou mesmo um enunciado ou teoria, é alguma coisa que pode ser adjetivada como verdadeira ou falsa” (GHIRALDELLI JR., 2007, p. 22). Desta forma é possível ver que há uma relação entre o pragmatismo americano e a virada linguística (linguistic turn).
É exatamente aqui que entra nossa primeira indagação. O que é epistemologia? Em seu Dicionário de filosofia, José Mora associa o termo epistemologia à gnosiologia, dizendo que “são frequentemente considerados sinônimos; trata-se, em ambos os casos, de ‘teoria do conhecimento’” (MORA, 1998, p. 216). A epistemologia, portanto, está preocupada com questões do tipo: o que é o conhecimento? Podemos conhecer? De que forma? Como posso validar meu conhecimento? Quais são seus limites? Que relação existe entre o sujeito que conhece e o objeto do conhecimento?
Conforme ensina Rohmann (2000, p. 130, 131), existem pelo menos três tipos de epistemologias entre os filósofos. Para os primeiros, “o conhecimento é parte inerente da nossa existência no mundo; por exemplo, a teoria platônica de que possuímos uma apreensão intrínseca, porém imperfeita, do mundo das formas ideais e a convicção hegeliana de que o conhecimento é produzido pelo nosso envolvimento no processo dialético da história. A segunda declara que nossa faculdade da inteligência e da razão nos capacitam a descobrir a verdade que o mundo contém; essa é a teoria de Aristóteles, Descartes e Bertrand Russell, entre outros. A terceira explicação, entre cujos adeptos figuram Nietzsche, Marx e os fenomenólogos, afirmam que nós criamos o que pensamos ser conhecimento a partir da nossa experiência, que é tão dependente de nossa condição psicológica, histórica ou social que não pode, de jeito algum, ser considerado conhecimento objetivo”. Diante da exposição destas três escolas de pensamento epistemológico, podemos perceber que as duas primeiras defender ser possível um conhecimento da realidade, mesmo que seja por representação, enquanto a última entende que todo conhecimento é mediado pela experiência ou por fatores ideológicos e psicológicos. Os dois primeiros grupo defendem uma verdade correspondencial, segundo a qual a verdade corresponde à relação entre o que eu digo e os fatos. Do outro lado estão aqueles chamados de deflacionários que dessubstativam o termo “verdade”.
Para demonstrar que ele se posiciona entre os que deflacionam a ideia de verdade, podemos ver, logo no início de seu livro, A filosofia e o espelho da natureza, que Rorty deixa claro que seu propósito com aquele texto é “abalar a confiança do leitor na ‘mente’ como algo sobre o que deveríamos ter uma concepção ‘filosófica’, no ‘conhecimento’ como algo sobre o que deve haver uma ‘teoria’ e ‘fundamentos’, e na ‘filosofia’ tal como tem sido concebida desde Kant. São imagens, em vez de proposições, metáforas em vez de enunciados, que determinam a maior parte de nossas convicções filosóficas. A imagem que mantém unida a filosofia tradicional é que a mente é um grande espelho, com diversas representações – algumas exatas, outras não – e é passível de ser estudada por métodos puros e não-empíricos. Sem a noção da mente como um espelho, a noção de conhecimento como uma representação exata não se teria sugerido” (RORTY, In CALDER, 2006, p. 15).
Uma segunda questão que precisamos saber é que tipo de epistemologia é a defendida por Richard Rorty? O pensamento epistemológico deste ilustre pensador é conhecido como antifundacionalismo ou antiessencialismo. Quando lemos suas principais obras – Filosofia e espelho da natureza e Contingência, ironia e solidariedade – descobrimos que para ele “a filosofia não é o fundamento racional a partir do qual se pode perceber a essência da realidade, mas simplesmente uma voz em uma conversação social incessante acerca da natureza do conhecimento, da verdade e da identidade” (ROHMANN, 2000, p. 353). Como se pode perceber, Rorty se enquadra entre os teóricos que deflacionam a verdade e a dessubstantivam, entendendo a verdade não como uma realidade “lá fora” e que pode ser aprisionada, mas relacionada à nossa linguagem. Falando acerca dos bons antiessencialistas, Calder nos diz que eles “insistem que nada (pernas, nabos, a palavra ‘combustão’) significa nada, ou que possa ser descrito isoladamente. Eles são holistas: contra Wittgenstein, eles insistem em que todas as entidades – inclusive as sentenças e os objetos que elas descrevem – existem apenas de modo relacional” (CALDER, 2006, p. 24). Isso significa que nem palavras nem sentenças individuais se ligam ou se associam automaticamente a algum aspecto do mundo que nos cerca – como se existisse uma correspondência direta -, mas estão sempre à mercê do contexto interpretativo construído socialmente.
O que nos leva à terceira e última questão: como temos acesso à verdade? Para começar, devemos compreender que ele critica a própria noção de objeto, ou seja, que existe algo passível de ser descoberta por indivíduos que estão em condição de conhece-las, sejam essas condições, empíricas, lógicas ou espirituais. O que Rorty faz é substituir a visão objetivista pela visão intersubjetiva, que é produto da interação interpessoal e que acaba gerando uma espécie de consciência coletiva que pode mudar com o tempo. Essa teoria da verdade como coerência propõe, diz-nos Ghiraldelli (2007, p. 119) “que a verdade se estabeleça como o que é produzido na relação de apoio mútuo entre as crenças de um mesmo indivíduo ou de uma mesma comunidade”.
Bodei nos lembra que em sua obra, Rorty contrapõe a noção de objetividade à de solidariedade. Em outras palavras, ele define a verdade “em relação àquilo que uma comunidade específica acredita e argumenta, ao ‘nós’ dos falantes ou dos pensantes” (BODEI, 2000, p. 269). A verdade seria, portanto, a tese que encontraria menos resistência para ser aceito pelos que seguem práticas comunicativas aceitas socialmente.
Conforme nos lembra Rohmann, “Na opinião de Rorty, conhecemos o mundo por intermédio do que ele chama de nossos ‘vocabulários finais’ – expressão com a qual define nossa identidade cultural e pessoal – que resultam do processo contínuo de interação social” (ROHMANN, 2000, p. 353). Acerca desses “vocabulários finais” podemos dizer que, primeiro eles nos definem social e culturalmente; segundo que eles, longe de serem absolutos e necessários, são contingentes e transitórios e, finalmente, que eles são elaborados metaforicamente por aqueles que Rorty chama de “poetas fortes”, ou seja, “indivíduos que se tornam monumentos intelectuais, que criam perspectivas e modos de expressá-las que abrem novos caminhos na conversação social” (ROHMANN, 2000, p. 353). Dentre os exemplos citados por Rorty estão figuras como Einstein, Freud, Martin Luther King e os Beatles. Do que foi escrito até aqui, somos obrigados a concordar com as palavras de Habermas, segundo as quais, “Rorty se aproxima, quer queira quer não, da minha descrição do ‘discurso racional’ e da fórmula de Putnam da verdade como ‘aceitabilidade racional sob condições idealizadas’” (HABERMAS, In GHIRALDELLI JR., 1999, p. 43).
Para encerrar, devemos lembrar que as estruturas sociais, para Rorty, não estão condenadas à estagnação institucional, por isso novas metáforas sempre surgirão produzidas por outros “poetas fortes”. Se formos coerentes com o pensamento epistemológico deste ilustre pensador, fatalmente nos tornaremos pessoas mais sensíveis e menos dogmáticas – abrindo mão do essencialismo clássico e nos aproximando do nominalismo – aprendendo a interagir e a nos abrirmos a novas ideias, fruto de nossa relação com os diferentes.
Referência bibliográfica
BODEI, Remo. A filosofia do século XX. Bauru: EDUSC, 2000
CALDER, Gideon. Rorty. São Paulo: UNESP, 2006
GHIRALDELLI JR. Paulo. Richard Rorty. Petrópolis: Vozes, 1999
GHIRALDELLI JR. Paulo. O que é pragmatismo. São Paulo: Brasiliense, 2007
MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998
ROHMANN, Chris. O livro das idéias. Rio de Janeiro: Campus, 2000
17. ACERCA DE MAQUIAVEL
Poucos pensadores têm sido alvo de uma discriminação tão irresponsável quanto o pensador italiano Nicolau Maquiavel (1469-1527). Sua pessoa é tão incompreendida que seu nome deu origem ao adjetivo “maquiavélico” que, segundo o dicionário Houaiss aponta para aquilo que se caracteriza pela “astúcia, duplicidade, má-fé, ardiloso, velhaco”.
Nascido na cidade de Florença, filho de um advogado e de uma nobre da cidade, o contexto histórico em que ele viveu acabou por moldar sua inclinação intelectual. Do ponto de vista político, ele nasce em um período extremamente conturbado no qual a família Médici controlava extraoficialmente a cidade havia 35 anos. A Itália, neste período ainda não existia enquanto Estado. Ela era apenas um amontoado de pequenos principados, reinos, repúblicas e ducados, lutando entre si. Florença, especialmente, era um principado marcado por um ambiente de conspiração, traições e radicalizações políticas.
Do ponto de vista intelectual, toda a Europa vivenciava o que se conhecia por Renascimento. Este movimento intelectual, artístico e filosófico, foi marcado pela tentativa de retornar às fontes resgatando os valores da civilização em que o homem teria obtido suas maiores realizações, qual seja, a greco-romana. Esta condição fez com que o jovem Maquiavel, já com sete anos de idade conhecesse o latim e tivesse suas primeiras aulas de grego. Se comparado aos demais humanistas, sua educação deixava a desejar. No entanto, ele foi um autodidata que se aproveitou dos clássicos existentes na biblioteca de seu pai. Ele também aproveitou a presença em Florença de grandes nomes como Michelangelo, Rafael, Botticelli e Leonardo da Vinci que, encontravam em Florença, um centro intelectual que atraia grandes talentos.
Na condição de diplomata e de conselheiro dos governantes da cidade, Maquiavel presenciou tanto as lutas pelo centralismo monárquico na França, Portugal, Inglaterra Espanha, etc., quanto o surgimento da burguesia comercial.
Diante dessa realidade política e intelectual, Maquiavel empreendeu em sua obra, particularmente em O Príncipe, a tentativa de apresentar uma nova ideia de sociedade para uma nova realidade histórica. De fato, nesta obra ele apresenta, pela primeira vez o que chamaríamos de realismo político. Para tanto, ele precisava, primeiro, rejeitar os pressupostos dos teólogos, que tinham como base a Bíblia ou o Direito Romano, bem como, rejeitar o pressuposto dos próprios renascentistas, que partiam dos clássicos e da cosmologia grega para construir sua teoria política. Ele, obviamente, contrariava a tendência comum até aquele momento, do bom governo. Maquiavel, em reação à metafísica, resolve construir sua teoria política com base na experiência real e pessoal que ele mesmo vivenciara desde que entrou para a política aos 29 anos. Em outras palavras, o poder é o resultado de gestos concretos feitos neste mundo e não a projeção de um mundo ideal.
Ele assistiu à ascensão e queda de Savonarola, conviveu com César Bórgia, filho do papa e político astuto e determinado e, durante seu trabalho de diplomata, percebeu como as artimanhas e intrigas estavam presentes nas grandes decisões políticas. Diante de tudo o que assistiu, e ao escrever sua obra, ele se transformou no fundador do pensamento político moderno. Apesar de admirado por muitos e condenado por tantos, O Príncipe se tornou o livro de cabeceira de qualquer pessoa que lide com política e, segundo alguns, Napoleão Bonaparte representa a encarnação mais próxima do “príncipe” descrito por nosso autor.
Em O Príncipe, – que contrariando a prática comum da época, foi escrito em italiano – teve a primeira edição em 1513 e foi dedicada à Lourenço II de Médici, na tentativa de ganhar a confiança do Duque e reassumir seu posto de secretário da Segunda Chancelaria, perdido em 1512. Este esforço foi em vão.
Neste livro Maquiavel se utiliza de um gênero literário comum à época, que é o conselho a um príncipe, para que ele obtenha ou se mantenha no poder a qualquer preço. O livro, de fato, é controvertido, porque ele ensina aos príncipes a sobreviverem no mundo tal qual ele é e não como ele deveria ser.
Conforme Catarina A. Souza, descrevendo o conteúdo do texto, “o autor descreve duas formas de se adquirir um principado: pelo exercício da virtú (virtude) ou pelo dom da fortuna. Apresenta, portanto os dois tipos de principados: o hereditário e o adquirido” (SOUZA, sd, p. 63). Estas duas expressões usadas por Maquiavel para descrever a ação do príncipe devem ser bem compreendidas. Virtú significa virtude, “no sentido grego de força, valor, qualidade de lutador e guerreiro viril. Príncipes de virtú são governantes especiais capazes de realizar grandes obras e provocar mudanças na história” (ARANHA & MARTINS, 2009, p. 300). Devemos atentar para o fato de que não estamos nos referindo aqui a um príncipe virtuoso, justo e bom, conforme preceitua a moral cristã. Mas aquele que age com energia e força para conquistar.
A segunda expressão usada por Maquiavel, fortuna, significa “acúmulo de bens e de riquezas”. É uma referência à deusa romana Fortuna que representava a abundância. Para agir segundo a fortuna, ou seja, segundo a ocasião oportuna, de nada adianta a virtude. Ele precisa ser precavido e ousado, aguardando a ocasião propícia e aproveitando-se da sorte e das circunstâncias que surgirem diante dele.
No entanto, ressalvam Aranha e Martins (2009, p. 300) “a fortuna de pouco serve sem a virtú, pois pode transformar-se em mero oportunismo. Por isso Maquiavel distingue entre o príncipe de virtú, que é forçado pela necessidade a usar da violência visando ao bem coletivo, e o tirano, que age por capricho ou interesse próprio”.
O que não deve ser esquecido, é que, embora o livro trate do “Príncipe”, não podemos entender por “príncipe”, um indivíduo monárquico e tirânico. De fato, “O príncipe não remete a nenhuma forma de governo, mas é uma figura fundadora do Estado, aquele que lhe assegura bases sólidas. O problema das diferentes formas de regime é abordado numa grande obra de Maquiavel: os Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio” (CAMUS, 2010, p. 139).
Há quem diga que Maquiavel realmente defendia um absolutismo completamente imoral. No entanto, também existem pensadores que acreditam que essa interpretação é rasa e extremamente simplista, vindo a deturpar o que realmente pensava Maquiavel. Para entender melhor o contexto vital da obra, o primeiro passo já foi dado, ou seja, precisamos compreendê-lo dentro de seu contexto mais amplo que é uma crítica à leitura metafísica feita pelos teólogos e cosmológica feita pelos clássicos.
Um segundo passo para compreender o pensamento de Maquiavel é comparar O Príncipe com outro texto escrito por ele: Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. Quem compara muito bem os dois textos são Aranha e Martins (2009, p. 299), quando dizem: “A aparente contradição entre as duas obras é interpretada como a análise de duas circunstâncias diferentes da ação política da ação política: em um primeiro momento, representado pela ação do príncipe na Itália dividida, o poder deve ser conquistado e mantido, e para tanto justifica-se o poder absoluto; posteriormente, alcançada a estabilidade, é possível e desejável a instalação do governo republicano. Além disso, as ideias já democráticas aparecem veladamente também no capítulo IX de O Príncipe, quando Maquiavel discorre sobre a necessidade de o governante ter o apoio do povo, sempre melhor do que o apoio dos grandes, que podem ser traiçoeiros”.
Do que vimos acima podemos chegar a duas conclusões: primeiro, sua leitura é absolutamente realista, vez que se fundamenta no comportamento comum dos príncipes e daqueles que têm poder.
Mas, em segundo lugar, sua leitura é, também, utilitarista, já que, com base no realismo, ele desenvolve uma teoria que se volta para as ações imediatas e eficazes. Trata-se, afirmam Aranha e Martins (2009, p. 300) “do começo da ciência política: da teoria e da técnica da política, entendida como disciplina autônoma, porque desvinculada da ética pessoal e da religião, além de ser examinada na sua especificidade própria”.
Mas essa leitura diz respeito apenas ao Príncipe, portanto, a apenas uma faceta desse autor. Em Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, ele revela sua tendência democrática analisando os riscos da corrupção que faz com que os interesses particulares se sobreponham sobre os interesses públicos. Aqui ele também reconhece que a lei é o instrumento mais eficaz para impelir às pessoas ao respeito ao bem-comum. Seguindo neste mesmo caminho segue Stephen Law quando diz: “Seu Discurso sobre Lívio (1517) é uma análise da história da República romana escrita por Lívio, e a defesa que aí faz do republicanismo está provavelmente mais próxima de suas verdadeiras idéias” (sic) (LAW, 2008, p. 270). Seguindo nesta mesma linha, Barros (In RAMOS, MELO, FRATESCHI, 2012, p. 80) na obra de Maquiavel “o Republicanismo ganhou feições modernas”. De fato, é o próprio Barros que nos lembra que: “Se O Príncipe trata dos principados, Discurso sobre a primeira década de Tito Lívio, obra finalizada em 1519, aborda especialmente o segundo tipo de regime político: as repúblicas. A preocupação de Maquiavel parece ser, na esteira dos humanistas, com a crise que envolvia os fundamentos constitucionais das repúblicas italianas de seu tempo, em particular Florença, e suas possibilidades de sobreviver como comunidades livres num mundo reconfigurado pelas grandes potências territoriais” (BARROS, In RAMOS, MELO, FRATESCHI, 2012, p. 83).
É importante ressaltar que o modelo de pensamento que ele escolhe é o mesmo usado pela medicina e pelo direito da época, qual seja, usar as experiências passadas como modelo para elaborar princípios para uma nova realidade. Partindo desse princípio, ele preferiu escolher Roma como grande modelo de república. No entanto, contrariando a maioria dos humanistas – que preferiam Esparta, na antiguidade, ou Veneza, na sua contemporaneidade -, Maquiavel entendia que as duas cidades experimentaram momentos de estabilidade mas, também, de fechamento e de uma política conservadora. O que implicava tanto em um maior controle da população e uma manutenção de seu território. Roma, ao revés, “desde suas origens, abriu as portas aos estrangeiros e o exército ao povo. (…) Por isso, a política adotada por Roma, que acolheu a natureza mutável dos acontecimentos, permitindo um equilíbrio dinâmico, é a mais indicada e deve ser imitada pelas cidades italianas” (BARROS, In RAMOS, MELO, FRATESCHI, 2012, p. 85).
Outra categoria importante do pensamento maquiaveliano é sua noção de ordem. Aqui ela a entende não como o resultado da imposição de uma hierarquia, mas como o resultado do conflito. Fugindo à noção comum de uma utopia perfeita e produzida com base no mundo das ideias, Maquiavel compreende que a política é o resultado do conflito de ideias, mas que, uma estrutura ditatorial e repleta de intrigas é apenas um momento imperfeito para que se institua aquela realidade que procura o bem de todos, a República. Nas palavras de Aranha e Martins, “Maquiavel percebe que o conflito é um fenômeno inerente à atividade política, e que esta se faz justamente a partir da conciliação de interesses divergentes. A liberdade resulta de forças em luta, num processo que nunca cessa, já que a entre as forças antagônicas é sempre de equilíbrio tenso” (ARANHA & MARTINS, 2009, p. 301).
Para terminar, entendo que os dois textos da lavra deste ilustre filósofo italiano citados acima, não representam uma contradição nem mesmo duas fases de seu pensamento, mas sua visão paradoxal que se adequa ao renascentismo, mas que vai além dele.
Referência bibliográfica
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2009.
CAMUS, Sébastien…. [et al.], 100 Obras-chaves de filosofia. Petrópolis: Vozes, 2010
LAW, Stephen. Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2008
RAMOS, Flamarion; MELO, Rúrion; FRATESCHI, Yara (Org.) Manual de filosofia política. São Paulo: Saraiva, 2012
SOUZA, Catarina A. O Príncipe In Grandes temas de filosofia, São Paulo, sd, nº 44.
18. ACERCA DO MAL
Particularmente acredito que este tema é um dos mais difíceis de serem tratados por alguém que se considera cristão. Qualquer pessoa razoavelmente inteligente e sincera enfrenta o grande dilema do mal que põe em xeque a existência de Deus. Afinal, se Deus é Todo-Poderoso ele não pode ser Bom, já que permitiu que o holocausto ocorresse. Se o holocausto judeu ocorreu, ou bem ele ocorreu porque Deus não podia impedir (e neste caso ele não seria Todo-Poderoso), ou bem ele ocorreu porque ele quis (o que o transformaria em um sádico). Tanto no primeiro quanto no segundo caso, ele não seria o Deus cristão.
Mas vamos começar nossa exposição pensando no que é o mal. Ana Costa, escrevendo sobre a existência do mal nos diz que “o mal é o oposto do bem e da virtude, e nesse sentido se refere a tudo o que não é desejável ou agradável e que deve ser destruído” (COSTA, sd, p. 20). É interessante perceber, logo de início que a definição de Costa inclui o mal natural e o mal moral no mesmo patamar, o que pode ser questionável. Thomas Giles (1993, p. 97), por seu turno, distingue o mal moral, que para ele é “resultado de uma ação humana proposital”, do mal natural, que é “resultado ou decorrência de acontecimentos, alguns comuns e outros incomuns. Por exemplo, doenças, fome, seca etc.”.
Em nossa sociedade judaico-cristã Ocidental, a origem do mal está associada à metáfora utilizada pelo livro de Gênesis no relato acerca da queda do homem. Nesse relato o mal foi o resultado da ação da serpente, usada pelo diabo, que seduziu Eva e, depois, Adão a provarem do fruto da ciência do bem e do mal, desobedecendo, assim a ordem de Deus. E eis que, como resultado deste ato, entram no mundo a morte, a dor (do parto) e o assassinato de Abel, por Cain, seu irmão.
Sabemos, no entanto, que os relatos bíblicos que apontam para a existência de dois seres antagônicos e representantes do bem e do mal – Deus e o diabo, surgem depois que os judeus passaram pelo que ficou conhecido como Cativeiro Babilônico, ou seja, um período de setenta anos em quem os judeus foram deportados para a Babilônia e lá, foram influenciados pelas ideias e pelos valores do lugar.
Uma destas teses é conhecida como Zoroastrismo ou Masdeísmo, uma religião de origem persa, criada pelo profeta Zaratustra (ou Zoroastro) (sec. VI a.C.), cujo ensino principal “é o dualismo entre dois princípios opostos chamados respectivamente Ormuz (Ahura Mazdah) e Ariman (Angra Manyu)” (ABBAGNANO, 2000, p. 1014). Como se pode perceber, temos uma posição dualista na qual o bem e o mal são explicados por meio de uma divisão existente no Universo entre um deus de luz e um de sombra, uma força ativa e outra passiva. O Zoroastrismo, afirma Costa (sd, p. 23) “prescrevia a fé em um deus único, Ahura Mazdá ou Ormuz Mazda, o Senhor Sábio, a quem se creditava o papel de criador e guia absoluto do universo. Ele era o deus do bem, a encarnação da justiça, adorado sob a forma de fogo em altares ao ar livre. Arimã era o deus do Mal, das sombras e da morte. Entretanto, estudos indicam que Arimã não deveria ser observado como um deus, mas como uma energia negativa que se opunha à energia positiva de Ahura Mazda”. A luta entre eles, ou seja, entre o bem e o mal duraria eternamente.
A influência das teses zoroastristas no cristianismo ocorreu no momento em que o dualismo toma forma no eterno confronto entre Deus, que origina e rege o bem, e o diabo, que é o responsável pelo mal. É interessante perceber que, embora considerado criatura e inferior à Deus, ele se tornou a personificação da figura do mal com autonomia e poder semelhante ao de Deus. Afinal, foi ele quem corrompeu toda a criação de Deus e, hoje, a domina, uma vez que o mundo jaz no maligno.
Na esfera da filosofia cristã um dos primeiros pensadores a se deter sobre esse tema foi Santo Agostinho (354-430). Conforme sabemos, ele se deparou com esse problema aos 19 anos quando lia Hortensius. Neste momento de sua vida ele vivia entre a influência de seu pai, um pagão devasso, e sua mãe, uma cristã piedosa. E, lendo Hortensius ele viu a possibilidade de criar uma leitura paradoxal do tema, uma vez que ele acreditava nos axiomas ciceronianos segundo os quais “todos os homens desejam por natureza a felicidade”, mas a realidade do mundo mostrava que os homens teimavam em praticar o mal.
Este paradoxo representa seu primeiro momento na tentativa de explicar l mal. Ele buscaria entre os maniqueístas o dualismo que tanto valorizava a sabedoria que se encontrava em Cícero, quanto trazia em seu bojo, as ideias cristãs. Conforme explica Costa (2012, p. 33), “o maniqueísmo criou um sistema dualista, no qual aparecem dois princípios ontológicos originantes do cosmo: a luz (o Bem) e as trevas ou a matéria (o Mal), ambos de naturezas corpóreas, incriadas ou coeternas, com iguais poderes de criação, ou melhor, de emanação. Da mistura e luta entre esses dois reinos surgiram os diversos seres no universo, sendo o segundo princípio – a matéria – o responsável pelos males no mundo”. Uma vez que o homem é uma mistura de corpo e alma, seu dualismo ontológico explicava a origem do mal no homem. Assim como o corpo era responsável pelo mal físico e moral no homem, sendo o Universo matéria, ele também era eivado de mal. Deus, desta forma, estaria isento de toda a responsabilidade pelos males existentes.
Uma segunda fase no pensamento agostiniano ocorrerá quando ele, com cerca de 30 anos, encontrará na figura do bispo Ambrósio de Milão e na filosofia de Plotino uma superação do maniqueísmo. Este é o momento de sua conversão ao cristianismo e de sua construção conceitual em direção ao grande pensador que hoje conhecemos. Nesse segundo momento ele vai identificar a tese ambrosiana da “substância espiritual” com as três hipóstases espirituais defendidas por Plotino. Neste momento, ele chega a “relacionar, pelo menos num primeiro momento, uma delas – a Inteligência ou Nous – , com o Verbo do Evangelho de São João” (COSTA, 2012, p. 35). Ademais, sua aproximação do neoplatonismo de Plotino o faria atentar tanto para a noção de participação, quanto para o conceito de “não ser como nada” para solucionar o problema do mal – já que no maniqueísmo o mal é visto como substância. Mas ele ainda estava insatisfeito com as dificuldades criadas por essa segunda fase.
Sua conversão – com a aceitação dos elementos próprios do cristianismo -, associado ao neoplatonismo, o levará até a elaboração final de sua tese sobre a origem do mal.
Para resolver à questão quid sit malum? – que é o mal, Agostinho parte do princípio bíblico de que Deus criou o universo ex nihilo, ou seja, do nada. Combatendo o dualismo maniqueísta ele defenderá que “todos os seres do universo, inclusive a matéria, vieram de um único princípio – Deus -, não por emanação, mas por criação; (…) no universo criado por Deus, não há espaço para desordem natural, nem para o acaso (…) não há espaço para o mal físico, e o mal não pode ser definido como uma substância, visto ser toda a natureza um bem” (COSTA, 2012, p. 36).
Ora, partindo do princípio do “não ser como nada”, o mal seria a ausência do que deveria ser mas não é; ele é uma corrupção que procura arrastar tudo ao seu redor para o não ser, como um buraco negro. Sendo apenas a corrupção, o mal não tem consistência ontológica, sendo, apenas um “não-ser” ou um “nada”. Mas eis que surge a questão: o que causa essa força que mesmo nada sendo, leva tantos ao “não-ser”?
Esta resposta será dada no final do livro I de Sobre o livre arbítrio, onde ele defende a tese de que a origem do mal está na livre vontade humana. Segundo Costa (2012, p. 36, 37), “O conceito-chave para entender esse momento está na palavra ‘pecado’, que traz em si uma conotação moral, ou a ideia de culpa (malum culpae) ou responsabilidade por apresentar o pecado (o mal) como fruto do abuso da livre vontade, ou do mau uso da vontade livre por parte do homem”. Questionado se não teria sido melhor criar o homem sem livre-arbítrio, Agostinho responde que o livre-arbítrio é um “bem médio”, mas nem por isso, deixa de ser um bem.
Devemos atentar que, na argumentação agostiniana, o único mal que pode ser propriamente chamado de mal é o mal moral cuja origem se encontra na má vontade do homem em seguir a vontade de Deus e escolher subverter a ordem estabelecida amando mais a criatura que o criador.
Há, além do mal moral ou pessoal, o mal físico. Na antiguidade era comum culpar os deuses pelos terremos, maremotos, furacões ou epidemias. Mas hoje sabemos que os terremotos e maremotos são produzidos pela movimentação das placas tectônicas; sabemos que a emissão de CO2 – e o consequente aumento do efeito estufa -, vem produzindo mais furacões e mudando o clima do planeta; bem como sabemos que o processo de mercantilização (associado às péssimas condições de higiene) trouxeram para a Europa os ratos e suas pulgas, que produziram a peste bubônica que dizimou ¼ da população europeia, fenômeno que ocorreu novamente no século XVI quando os europeus chegaram na América e levaram suas doenças para os autóctones que não tinham anticorpos para combatê-los. Será que Deus é o culpado disso tudo?
Segundo Geisler e Feinberg (1983, p. 265, 266), no teísmo “Deus usa o mal para fins bons. Subtendida no decurso da discussão tem estado a suficiência da explicação teística do mal, a saber: que Deus permite o mal a fim de produzir um bem maior. Há vários elementos nessa teodiceia. Primeiramente, Deus livremente criou o mundo, não porque precisava fazê-lo, mas, sim, porque desejava criar. Em segundo lugar, Deus criou criaturas semelhantes a Ele mesmo que poderiam amá-Lo livremente. Mas tais criaturas poderiam também odiá-Lo. Em terceiro lugar, Deus deseja que todos os homens O amem, mas não forçará nenhum deles a amá-Lo contra sua vontade (…) Em quarto lugar, Deus persuadirá a amá-lo tanto quanto for possível (2 Pe 3:9). Deus outorgará àqueles que não querem amá-Lo a escolha livre deles – eternamente (ou seja, o inferno). Finalmente, o amor de Deus é engrandecido quando retribuímos Seu amor (…), bem como quando não o retribuímos”. Um resumo deste pensamento pode ser colocado da seguinte forma: “um Deus infinitamente bom e poderoso permitiu o mal para produzir o bem maior. Este mundo livre é a melhor maneira de produzir o melhor mundo. Deus fará o melhor possível” (GEISLER & FEINBERG, 1983, p. 267). Seguindo neste mesmo caminho encontramos o ex-ateu, e agora um dos maiores e mais conhecidos defensores da fé em Deus – C.S. Lewis -, dizendo: “Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores: elas são seu megafone para despertar um mundo surdo” (LEWIS, In McGRATH, 2014, p. 158). Para Lewis, que conhecia muito bem a dor – por perder sua mãe de câncer com oito anos de idade, por assistir a morte de inúmeros amigos na Primeira Guerra Mundial, por trazer estilhaços de guerra em seu corpo, por perder sua esposa para o câncer – a dor é o preço que pagamos por estamos vivos. Ela faz parte de nossa condição humana e como humanos precisamos nos acostumar com a facticidade da dor. Disse ele: “Tente excluir a possibilidade de sofrimento que a ordem da natureza e a existência do livre-arbítrio implicam, e verá que excluiu a própria vida” (LEWIS, In McGRATH, 2014, p. 159).
Falando de uma perspectiva do mal moral e pessoal (e não do mal físico), Rosenfield (1988, p. 19) nos diz ser necessário levar em consideração o fato de que “a filosofia que pensou a liberdade como seu próprio princípio é também aquela que pôs a origem do mal na essência inteligível do homem, independentemente dos relatos bíblicos da criação, ou de uma natureza animal do homem, ou mesmo de uma causa temporal. O conceito de mal fará parte doravante da essência do homem, do que o define em sua liberdade, de tal modo que o discurso sobre o mal não terá um estatuto empírico fundado numa descrição do que ocorreu historicamente ou sendo tributário dela ao nível de sua elaboração conceitual, mas sua posição própria será aquela de um discurso filosófico cuja universalidade e necessidade serão igualmente pensadas mediante uma reflexão sobre a natureza humana e seu vir-a-ser na história”.
Além do mais, se é discutível que Auschwitz torna a crença em Deus impossível, é imprescindível afirmar que ela, ainda com mais força – por que trata de uma realidade concreta e não metafísica – acabou com a crença Iluminista de um progresso inevitável e de uma humanidade irremediavelmente boa e com os fundamentos que possibilitariam o surgimento de uma nova civilização. Embora alguns filósofos permaneçam otimistas quanto ao futuro da humanidade, Auschwitz pelo menos negou a crença hegeliana no progresso mostrando que a história pode, também retroceder à barbárie. Mas, registre-se, estamos falando do mal pessoal. Como, enfim acredito ser possível a convivência pacífica da crença em Deus e no mal, encerro minhas palavras citando aquele que estabelece no “outro” a possibilidade de poder conhecer-se em sua totalidade, uma vez que somente através dos olhos dos outros é que conseguimos nos ver como partes do mundo, ou seja, sem a convivência, uma pessoa não se reconhece nem se percebe inteiramente. Por isso Sartre nos diz: “O Mal é o Outro […]. Resultante do medo que o homem comum tem de sua liberdade, [ele] é uma projeção e uma catarse […] o Outro diferente do Ser, o Outro diferente do Bem, o Outro diferente de si” (SARTRE, In RUSS, 1994, p. 175).
Referência bibliográfica
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000
COSTA, Ana. O mal existe? In Grandes temas de filosofia, São Paulo, sd, nº 44.
COSTA, Marcos Roberto Nunes. 10 lições sobre santo Agostinho. Petrópolis: Vozes, 2012
McGRATH, Alister. Conversando com C. S. Lewis. São Paulo: Planeta, 2014
ROSENFIELD, Denis L. Do mal. São Paulo: L & PM, 1988
RUSS, Jacqueline. Dicionário de filosofia. São Paulo: Scipione, 1994
GILES, Thomas Ransom. Dicionário de filosofia. São Paulo: EPU, 1993
19. INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO DE SCHOPENHAUER
Arthur Schopenhauer (1799-1860), foi um dos pensadores que exerceram enorme influência sobre o pensamento moderno. Nascido na cidade de Danzig (Gdansk, Polônia), vem de uma família de comerciantes ricos. Autor de livros como A quadrupla raiz do princípio da razão suficiente (1813), O mundo como vontade e como representação (1818) e Os dois problemas fundamentais da ética (1841), ele se notabilizou por seu pessimismo frente ao pensamento Iluminista que grassava em seu tempo. Já em seu tempo é possível ver sua influência sobre os mais diferentes setores do conhecimento como a filosofia (Nietzsche), a arte (Wagner) e a literatura (Maupassant).
Sua vida pode ser descrita como errática. Depois de sua cidade natal, morou dois anos na França, frequentou uma escola por alguns meses na Inglaterra, foi em seguida para a Suíça e Áustria, voltando, depois do suicídio de seu pai, à Göttingen, na faculdade de medicina e, mais tarde, em 1811, se muda para Berlin, para estudar filosofia. Entre 1813 e 1818, ele se recolhe para escrever sua tese doutoral e, em seguida, seu texto mais influente: O mundo como vontade e representação. Em 1819 ele é nomeado livre-docente na Universidade de Berlin.
Seus conflitos com Hegel, que se encontra no ápice de sua influência, são épicos e redundam, até mesmo, na escritura de textos e de debates entre ambos. Seu pensamento pode, claro que imperfeitamente, ser descrito com três temas fundamentais.
- Sua dependência de Kant. Embora fosse um enorme crítico do idealismo de sua geração – detestando, particularmente, aquele associado à Hegel – ele reconhecia e de uma forma muito profunda o pensamento de Kant como sendo fundamental para ele próprio. A partir da metafísica kantiana Schopenhauer desenvolveu o seu próprio pensamento expresso brilhantemente em suas obras. Em primeiro lugar, ele “Aceitou a visão kantiana de que o mundo se divide entre o que percebemos por meio dos sentidos (fenômenos) e as ‘coisas em si’ (númenos), mas queria explicar a natureza dos mundos fenomênico e numênico” (VÁRIOS, 2011, p. 185, 186).
Ocorre que segundo Kant, cada pessoa constrói uma versão do mundo à partir de sua própria percepção (mundo fenomênico), mas, jamais poderá chegar a atingir o mundo “em si” (mundo numênico), ou seja, como ele de fato o é. Desta forma, cada um de nós está fadado a ter apenas uma visão limitada do mundo, uma vez que nossas percepções são construídas por meio das informações que obtemos do nosso conjunto limitado de sentidos.
Schopenhauer, por sua vez, se distingue de Kant ao afirmar que estes dois mundos (o fenomênico e o numênico), não são duas realidades diferentes, mas iguais, sentidos de maneiras diferentes. Eram o mesmo mundo com dois aspectos diferentes: a Vontade e a Representação. Segundo Schopenhauer, “um ato de vontade, como desejar levantar um braço, e o movimento resultante disso não estão em mundos diferentes – o numênico e o fenomênico – , mas são um mesmo acontecimento sentido de duas formas diferentes. Um é experimentado a partir de dentro, o outro observado a partir de fora” (VÁRIOS, 2011, p. 188). Assim, quando vemos algo que está fora de nós, o que vemos é sua Representação objetiva e externa, e não sua Vontade interna. Desta forma, a realidade toda a realidade é composta das mesmas e simultâneas existências exterior e interior.
- O homem e a tragédia da vida.
Fazendo-nos lembrar das palavras de Aristóteles, Schopenhauer nos diz que o homem é um animal metafísico que se espanta diante de sua própria existência e do espetáculo do mundo. Ele seria um ser que, acima de tudo, busca o absoluto.
Quando ele usa o termo metafísica para designar ou substantivar o homem, ele está se referindo àquela parte da filosofia que “tem a pretensão de ser um conhecimento que ultrapassa a experiência e os fenômenos dados (…), uma especulação que pretende elevar-se acima dos ensinamentos da experiência” (RUSS, 1994, p. 368). Ora, afinal de onde surge a metafísica? Para nosso pensador, ela surge e se enraíza justamente no espanto que temos ao perceber o que há de absoluto por trás da natureza.
Mas dizer que o homem é um animal metafísico é apenas a metade da verdade. Ele é também um ser religioso e, como tal, se apega a mistérios – que passam a ser compreendidos como dogmas – que não podem ser apreendidos pelo pensamento.
Eis que estamos diante da tragédia humana. Este ser, apegado ao mistério e marcado pelo signo da metafísica, está fadado, assim como toda a realidade à infelicidade. Eis o homem: um ser movido por uma vontade de viver, por um “impulso cego e irresistível, desejo inextinguível de viver, que só conduz ao sofrimento” (RUSS, 1994, p. 369). Frente ao desejo insatisfeito, o homem se encontra dominado pelo sofrimento. O homem se vê dominado pelo tédio de buscar sem jamais conquistar a felicidade. O que o faz viver em um eterno pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Como nos ensina Thomas Giles, “Mesmo a satisfação final de um desejo é apenas aparente, pois todo desejo satisfeito abre caminho para um novo desejo” (GILES, 1993, p. 252). É neste contexto que sua obra O mundo como vontade e representação assume um papel fundamental.
Em Schopenhauer, a vontade de vida ou de viver é o impulso incessante e cego para “incorporar e levar a cabo o tipo de sua espécie contra todos os obstáculos. A vontade de viver é a realidade em si diante da representação, o ser numênico diante do ser fenomênico” (MORA, 1998, p. 732). Essa relação entre o pensamento de Schopenhauer e o de Kant se pode perceber nas próprias palavras de nosso autor quando diz: “A Vontade é a coisa em si, o conteúdo interno, a essência do mundo. A vida, o mundo visível, o fenômeno, é tão-somente o espelho da vontade” (SCHOPENHAUER In, MORA, 1998, p. 732). O indivíduo é absolutamente impotente frente à vontade de viver. Ao refletir filosoficamente sobre o tema ele se dá conta da dor da vida, bem como de sua incompletude e imperfeição.
Quanto à felicidade, ela a nada designa de positivo vez que, longe de se referir a uma plenitude concreta, ela é apenas a cessação momentânea de uma dor. Ou seja, ela é definida sempre negativamente. Esse seu pessimismo será profundamente marcante na obra de Nietzsche. Mora nos diz que “A idéia de Schopenhauer da vontade de viver é semelhante, em alguns aspectos, à idéia de Nietzsche de vontade de poder (ver) e à idéia de Simel segundo a qual a vida quer sempre ‘mais vida’. Entretanto, difere dessa última porquanto a vida não é valorizada por si mesmo” (sic) (MORA, 1998, p. 732).
- A necessidade do desapego.
Afinal, será que é possível libertar-se desse jogo trágico entre o tédio e o sofrimento? Ainda que seja pessimista ele não acredita que a saída seja o suicídio. Ele aponta mais para “a afirmação apaixonada do querer-viver do que para sua completa negação. A Arte pode ser um instrumento, embora provisório, de libertação e consolação. Na realidade, a arte “Transmuta, com efeito, a dor num espetáculo representado, que apaga, por sua beleza, as penas da vida e nos indeniza das dores reais; essa contemplação pura das coisas arranca-nos, provisoriamente, do pesadelo da existência” (RUSS, 1994, p. 369). Falando sobre a arte no pensamento de Schopenhauer, Giles nos diz que “Apreciar um quadro, uma peça, uma sinfonia, é colocar-se fora do cenário e olhar em perspectiva o que há nele ou o que nele acontece. A música é a representação mais direta da vontade. É a forma de arte mais alta porque, quando a ouvimos, estamos em contato íntimo com o mundo como vontade, sem querer” (GILES, 1993, p. 252, 253).
No entanto, para que haja uma libertação autêntica, precisamos ir até o Nirvana. Obviamente ele está recorrendo à filosofia Hindu para trazer alguma luz sobre seu pensamento. Ora se o querer-viver aponta para uma potência que nunca se concretiza, antes, nos imerge em uma dor eterna, é preciso que nos desliguemos dessa potência cega da vida universal. Isto é o Nirvana: a “extinção do desejo humano de viver”. Se deixarmos a vida sem sua pena, atingiremos este estágio. A partir deste momento, “não é a morte que devemos procurar (…), mas o aniquilamento supremo do querer” (RUSS, 1994, p. 369), quando atingimos o Nirvana e pomos fim a todo sofrimento. Com um certo fundamento budista, como vemos, Schopenhauer adotou a noção de Nirvana vendo nela “a negação da vontade de viver, cuja exigência brota do conhecimento da natureza dolorosa e trágica da vida” (ABBAGNANO, 2000, p. 713).
Em resumo, para Schopenhauer precisamos abandonar o desejo e o querer-viver eterno. Se formos capazes de nos desligarmos desses dois elementos, atingiremos a serenidade que, em última instância, está sempre ligada ao desejo.
Sua influência se estendeu desde a um Nietzsche, em quem a Vontade se tornou um tema influente; passando por um Henri Bergson e os pragmatistas americanos, que também passara a analisar o mundo como Vontade, até chegar a um Sigmund Freud e Carl Jung que, no campo da psicanálise, se viram influenciados por “suas ideias sobre desejos básicos e frustração” (VÁRIOS, 2011, p. 188).
Referência bibliográfica
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000
GILES, Thomas Ransom. Dicionário de filosofia. São Paulo: EPU, 1993
MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998
RUSS, Jacqueline. Dicionário de filosofia. São Paulo: Scipione, 1994
VÁRIOS, O livro da filosofia. São Paulo: Globo,2011
20. A QUESTÃO DO CETICISMO
Eu estou certo que se você perguntar a qualquer pessoa quanto é um mais um, ele dirá dois. Também acredito que a maioria dos seres humanos são capazes de afirmar que existem animais quadrúpedes em nosso planeta e que eles conseguem distinguir as cores vermelha, verde e amarela em um sinal de trânsito. Mas o grande problema para a filosofia não é, exatamente, se as pessoas podem ou não conhecer os objetos que estão ao seu redor. Como afirmam Geisler e Feinberg, o grande problema da filosofia não é aquilo que cremos, ela está preocupada em “como justificar tal crença. A questão não é aquilo que cremos, mas sim, em que podemos crer com justificativa” (GEISLER & FEINBERG, 1983, p. 67).
Se a filosofia é, de alguma forma, a arte ou a ciência que se surpreende com aquilo que nos cerca, então é correto dizer que estudar o conhecimento é estudar o principal e mais importante tema da filosofia. Este tema é conhecido geralmente por “epistemologia”, uma palavra que tem sua raiz na palavra grega “episteme”, que significa, “conhecer”. No entanto, Stephen Law (2008, p.49) nos diz que existem diversos tipos de conhecimento. Para ele existem o “conhecimento por contato (p.ex.: conheço bem Oxford), enquanto habilidade (sei andar de bicicleta) e conhecimento proposicional (sei que águias são aves). Os dois primeiros tipos são interessantes, mas a filosofia volta-se, sobretudo, para o terceiro: o que é conhecer uma proposição”. Mas o que seria uma proposição? São todas aquelas afirmações que fazemos na vida diária e que as damos por certo, tais como: os peixes podem nadar. Mas temos que compreender que essas nossas convicções ou bem são oriundas de nossa experiência ou bem são o resultado de nossas reflexões. Dentre os mais instigantes pensadores sobre epistemologia estão aqueles que chamamos de céticos. A palavra “cético”, diz Jacqueline Russ (1994, p. 34), vem do grego skeptikos, e diz respeito ao que observa e que reflete. Mais tarde a palavra tomou a conotação daquele que nada pode dizer sobre a verdade. Geralmente podemos classificar o ceticismo em cinco grandes correntes.
O Ceticismo radical ou absoluto. Geralmente os céticos radicais ou absolutos são categorizados em dois grupos: há os que defendem que não possuímos nenhum tipo de conhecimento e os que só aceitam os conhecimentos advindos da experiência imediata, sendo a matemática e a lógica, duas exceções. Em geral os céticos negavam qualquer conhecimento metafísico ou místico, centrando-se nas palavras de Sócrates: “só sei que nada sei”. O principal cético deste primeiro tipo foi Sexto Empírico. Este autor que viveu entre o II e o III século dC era provavelmente um grego, mas nada sabemos sobre onde nasceu, ensinou ou onde morreu. O que sabemos é que ele praticava a medicina e que era um Cético vigoroso. Seu Ceticismo possuía três estágios: a ataraxia, que apresentava uma série de alegações contraditórias sobre o mesmo assunto. Tais alegações eram feitas para demonstrar que uma afirmação poderia ser contradita. Geisler e Feinberg (1983, p. 69) nos dão o exemplo da torre: “uma torre vista à distância é quadrada. Mas a mesma torre vista de perto é redonda”. Ora se ela é quadrada e redonda ao mesmo tempo, temos duas afirmações opostas acerca do mesmo objeto.
O segundo estágio do Ceticismo de Sexto Empírico era chamado de epochê, no qual ele suspendia qualquer espécie de julgamento. Ao invés de afirmar ou negar qualquer coisa sobre o objeto, devemos alegar que todas as afirmações sobre o assunto são inconsistentes e suspender o julgamento sobre o tema.
Finalmente, chegamos à terceira fase do pensamento de Sexto Empírico que é chamado de ataraxia. Neste estágio a pessoa encontraria um estado de imperturbabilidade, de felicidade e de paz de espírito. Mas isso só poderia ocorrer se o sujeito conseguir abrir mão de toda espécie de dogmatismo para seguir às inclinações naturais e as leis da sociedade. Como se vê, o Ceticismo não seria apenas uma postura epistemológica, mas “prometia uma consequência prática – a felicidade e a paz de espírito nas atividades diárias” (GEISLER & FEINBERG, 1983, p. 69).
Além de Sexto Empírico um outro Cético famoso foi David Hume (1711-1776). Como vivia em um contexto muito mais otimista, Hume, embora negasse qualquer possibilidade de conhecimento empírico do tipo “o Sol vai surgir amanhã”, dizendo ser isso apenas uma probabilidade fundada em nosso hábito, e não uma realidade necessária, o que o levava a reduzir toda espécie de raciocínio indutivo à uma generalização desnecessária, ele concedia padrões probabilistas para crenças que transcendem as experiências imediatas.
O Ceticismo mitigado. Este tipo de Ceticismo, embora negasse as alegações empíricas, admitiam alguns tipos limitados de conhecimento. O mais conhecido filósofo deste grupo é Emanuel Kant (1724-1804). Como ele mesmo afirma, foi despertado de seu “sono dogmático” após as leituras que fez de Hume e seus opositores. Ele concordou que a argumentação de Hume contra o conhecimento metafísico era forte, mas ele compreendeu que era preciso se utilizar da “fisiologia do entendimento” de Locke, para se chegar a um meio-termo. Conforme asseveram Geisler e Feinberg (1983, p. 71), Kant “Combinou um ceticismo absoluto acerca do conhecimento metafísico, com um otimismo de que o conhecimento universal, necessário (a priori) acerca das condições da experiência realmente existe. A crença de Kant tinha relacionamento com aquilo que chamou de ‘revolução copernicana’ na filosofia. Assim como Copérnico (1473-1543) tinha transformado o ponto de vista cosmológico do homem (demonstrou que o sol, e não a terra, é o centro do sistema solar), assim também Kant transformou o ponto de vista epistemológico do homem. Kant afirmou que o conhecedor não se conforma ao objeto conhecido – o que se pensava anteriormente (Locke e seus seguidores criam que o objeto estava ‘lá’ e o observador meramente reagia às suas qualidades objetivas). Pelo contrário, disse Kant, o objeto conhecido conforma-se ao conhecedor. Postulou-se que, para alguma coisa ser um objeto possível do conhecimento, tinha de conforma-se com a mente”. Desta forma Kant acreditava que era, sim, possível ter um conhecimento a priori (ou pela razão pura) do mundo que nos cerca examinando as condições de possibilidade de nossa consciência. Como afirma Stephen Law (2008, p. 296) “Ele admitiu que o que conhecemos é determinado pela natureza do nosso aparelho sensorial e cognitivo. Em outras palavras, embora se inicie com a experiência, o conhecimento requer ordenação pela mente humana”. Mas que estrutura é essa? Kant percebeu que toda experiência que temos do mundo que nos cerca é espaço-temporal. Ou seja, ele estabeleceu o espaço e o tempo como condições a priori de nossas experiências sensoriais e, desta forma, como estruturas necessárias que impomos à experiência. O passo seguinte foi procurar isolar categorias gerais do pensamento que nos permitem organizar as informações que obtemos pelos sentidos. Essas categorias são: substância (uma vez que as coisas são feitas de substância material) e causa e efeito (já que os eventos se relacionam condicionalmente). Deste modo, diz Stephen Law (2008, p. 296, 297) “Kant supera o ceticismo de Hume, mostrando que podemos adquirir conhecimento do mundo tal como aparece para nós”. Mas isso significa que estamos presos às aparências e não ao mundo real (que Kant chama de noumena), acerca do qual nada se pode dizer com precisão.
O Ceticismo limitado. Neste tipo de ceticismo, alguns tipos de alegações de conhecimento, como os metafísicos e teológicos. Nisso ele se parece com o ceticismo mitigado. A obra mais famosa que defende essa tese que se tornou dominante na década de 1930 foi Language, Truth and Logic, da lavra de A.J. Ayer (1910-1970). Ligado ao Positivismo Lógico, a metafísica seria totalmente eliminada por meio da análise linguística. Para um positivista a grande questão é como discernir qual é a declaração genuína da realidade da que não é. Para se resolver esse problema os positivistas usam o chamado “princípio da verificação”. Explicando esse princípio, Geisler e Feinberg (1983, p. 72) assim se expressam: “o âmago do princípio da verificação é este: Qualquer declaração para a qual não podemos declarar as condições que contariam em prol de sua verdade ou contra ela, não é uma declaração acerca da realidade e, portanto, não pode ser conhecimento”. A metafísica, por exemplo, não é apenas falsa, para Ayer, ela não faz sentido algum.
O Ceticismo metodológico. Este tipo de ceticismo também é chamado de Cartesiano por estar ligado à figura do filósofo francês René Descartes (1596-1650). Durante o século XVII o ceticismo trilhou caminhos bem diferentes daquele mais tradicional. Para ele “Deve-se duvidar de tudo para se poder chegar a algum princípio de que é impossível duvidar” (GILES, 1993, p. 19). Em Descartes o ceticismo não dizia respeito à conclusão de um argumento, mas a um método por meio do qual todas as dúvidas poderiam ser vencidas. Ele afirmou em seu texto Discurso do Método, ser possível chegar a atingir toda e qualquer verdade, de forma clara e distinta, por meio do método que criara. A ferramenta utilizada para fazer com que pudéssemos chegar até à verdade certa e indubitável foi a dúvida metódica, ou seja, o ceticismo. Ele pretendia aplicar sua dúvida a todos os objetos e crenças para demonstrar que tudo não passava de sonhos. Voltando-se para fora ele percebeu que tudo poderia ser questionado. Mas voltando-se para si, ele viu que até poderia duvidar que tinha um corpo com braços e pernas, ou seja, ele até poderia estar sendo enganado por sua percepção ou mesmo por um demônio, mas o que não poderia jamais duvidar é que ele estava duvidando. E se pensava, forçosamente, existia. Por isso afirmou: “Penso, logo, existo” (cogito, ergo sum). Por meio da utilização do seu método, o homem, finalmente poderia chegar a conhecer de forma clara e distinta todas as verdades.
O Irracionalismo. A última forma de ceticismo que poderíamos citar também é chamada de irracionalismo. Este movimento filosófico está associado à figura de Albert Camus, que por seu turno, se fundamentou tanto no existencialismo fideísta de Kierkegaard, quanto no existencialista niilista de Nietzsche. Enquanto Camus aceita o ceticismo fideísta de Kierkegaard e rejeita toda forma racionalista de explicar o mundo e Deus, ele também rejeita o “pulo para dentro da fé” e se junta à Nietzsche na crença da morte de Deus e, portanto, na condição humana de um povo que vive em busca de sentido e significado em um mundo essencialmente absurdo.
Uma crítica. Uma crítica que se pode fazer ao ceticismo nos vem da pena de Santo Agostinho, que era um cético antes de tornar-se cristão. Para ele o ceticismo é inconsistente. E ele usa dois argumentos para demonstrar isso. Primeiro ele diz que a afirmação do cético de que não se pode saber coisa alguma é, em si mesmo, uma alegação sobre o conhecimento. Se sua alegação for falsa, então não temos com que nos preocupar. Mas, se for verdadeira, então ela será contraditória em si mesma, já que, como ele mesmo diz, não podemos saber coisa alguma.
A segunda crítica feita por Agostinho supõe que o cético retruque, dizendo que não estamos entendendo adequadamente quando diz que não podemos saber coisa alguma, como quem fala de saber se algo é verdadeiro ou falso. Se assim for, diz Agostinho, sua argumentação é igualmente inconsistente. Pois sua alegação, sendo ainda sobre o conhecimento, nos leva a acreditar que para todas as afirmações, jamais poderemos saber se elas são falsas ou verdadeiras. Logo, o que ele afirma é igualmente inconsistente, já que não sabemos se é verdadeiro.
Ademais, John Pollock demonstra que o ceticismo contraria o Bom-Senso. Imagine o seguinte argumento:
Premissa 1: Sinto água caindo na minha cabeça.
Premissa 2: Meus amigos dizem que está chovendo.
Premissa 3: O jornal de hoje diz que choveu.
Premissa 4: O noticiário da TV diz que está chovendo.
______________________
Conclusão: Está chovendo hoje.
Ora, a alegação do cético é que todas as premissas são verídicas mas que a conclusão é falsa. Para Pollock a argumentação cética deveria ser, no mínimo, considerada uma reductio ad absurdum, pois parte da tese de que se a conclusão está errada enquanto as premissas estão certas, não está havendo bom-senso no pensamento.
Particularmente, como cristão, me inclino para o tipo de ceticismo defendido por Kierkegaard que, no fundo, foi uma revolta contra toda a tentativa de sistematizar a vida, a história e o próprio Deus. Somente a fé, ou como Kierkegaard chama, o “salto da fé” pode nos libertar das amarras do racionalismo que, na minha opinião, é pior que o ceticismo, porque é arrogante.
Referência Bibliográfica:
GEISLER, Norman L. & FEINBERG, Paul D. Introdução à filosofia: uma perspectiva cristã. São Paulo: Vida Nova, 1983
GILES, Thomas R. Dicionário de filosofia. São Paulo: EPU, 1993
GRAY, John. Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 1998
RUSS, Jacqueline. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Scipione, 1994
21. O ESTOICISMO
O estoicismo foi um dos diversos movimentos filosóficos que surgiram no momento conhecido como helenístico. Juntamente com ele surgiram também o hedonismo, o epicurismo, o ceticismo, etc. Neste momento nos deteremos sobre o pensamento estóico, particularmente destacando sua tendência naturalista.
- A origem do termo: O termo “estoicismo” tem origem na palavra grega “stóa”, que significa pórtico. O que ocorria é que havia um grupo de pensadores que se reunia no pórtico pintado (Stoá poikíle) da cidade de Atenas para discutir os grandes temas da filosofia por volta de 300 a.C. Esta escola filosófica, embora fundada por Zenão de Cítio (335-264 a.C.), deve muito ao pensamento cínico de Crates e de alguns outros seguidores de Platão.
- Seu principal personagem: O principal personagem da escola estóica está associado ao nome de Zenão de Cítio (336-263 a.C.). Um resumo de seu pensamento destacaria que ele cultivava uma filosofia voltada para a moral, buscando fazer com que o homem alcançasse a virtude e a felicidade. Lemos de Abbagnano que o estoicismo compartilhava com outras escolas da crença do “primado da questão moral sobre as teorias e o conceito de filosofia como vida contemplativa acima das ocupações, das preocupações e das emoções da vida comum” (ABBAGNANO, 2000, p. 375).
- Seu método de debate: Em geral Zenão de Cítio era chamado de cínico. Mas é preciso conhecer bem o sentido desta palavra para compreender adequadamente o que ela quer dizer. A palavra “cínico” tem origem no grego e significa cão ou cachorro. O cínico é, portanto, aquele que vive uma vida sem se preocupar com o bem estar e com o luxo, assumindo uma postura irônica para com aqueles que valorizam estes elementos como sendo os essenciais e fundamentais à vida. Em função disso, ser cínico se associou a ser irônico.
- Suas principais teses:
4.1. Os estóicos são sensitistas. Para eles, todo o conhecimento que possamos vir a ter terá origem em nossas sensações, ou seja, em nossa percepção sensorial, que nada mais faz além do que combinar as nossas inúmeras sensações. Ora, se tudo se resume ao que podemos sentir, por via de consequência, concluímos que os estóicos são materialistas e que temas como a alma ou Deus não têm grande relevância vez que tudo termina com a morte.
4.2. Os estóicos estão voltados para uma vida virtuosa. No que diz respeito ao campo da ética, os estóicos entendem que a virtude deve ser vista como “o fim supremo de todas as ações humanas, a via pela qual o homem deve buscar a felicidade. A felicidade, por sua vez, trata-se da felicidade pela quietude, resultado de uma virtude negativa, de uma indiferença universal, e da renúncia a todos os bens mundanos” (CABRAL, 2006, p. 102). Se nossa felicidade estivesse nos bens mundanos, caso eles nos fossem retirados, isso poderia nos trazer infelicidade. Eis porque não devemos depositar nossa felicidade no acúmulo de bens.
4.3. A virtude exige a apatia. A palavra “apatia”, no grego, é composta do prefixo “a”, que significa “ausência”, e “pathos”, que significa “dor” ou “sofrimento”. No entanto, a palavra que os estóicos usavam para descrever o ideal de vida do ser humano é ataraxia, que é traduzida por indiferença. Desta forma a apatia aponta para um momento em que não existe mais sofrimento ou dor. O estóico, porque não está preso aos prazeres mundanos não sentem a dor de perdê-los. A postura do estóico é de quietude e tranquilidade frente à perda dos bens ou das coisas. O estóico acredita, afirma Cabral (2006, p. 102, 103) que a indiferença e a renúncia “são as únicas formas de o homem se livrar das perturbações que possa sofrer em conseqüência da possível carência dos bens terrenos. Desse modo, acredita que o homem, vivendo na quietude e na indiferença, preserva a serenidade, a paz, o sossego: verdadeiro e único bem da alma”.
4.4. A unidade do mundo. A doutrina estóica defende que o universo que vemos é semelhante a um único ser vivo. Desta forma, dando suporte à natureza que vemos, Zenão de Cítio propugnava a existência de uma alma identificada à razão, ou seja, ao que os gregos chamavam de logos. Como consequência desta crença nos deparamos quase com um panteísmo no qual Deus é visto como “a razão absoluta (logos), que gera o mundo sem que este seja radicalmente de si mesmo” (HRYNIEWICZ, 2006, p. 287). Em resumo, há no mundo uma plena racionalidade, um Logos (Razão Universal), que age e rege tanto a natureza quanto a conduta humana.
4.5. A racionalidade da natureza. No estoicismo, a física é o centro de sua doutrina. Não seria errado dizer que o estoicismo é panteísta, uma vez que, para eles, Deus é o mundo. Segundo afirma Russ, “O mundo, penetrado pela Razão, princípio de ordem das coisas, que se reencontra no homem, é portador de unidade e inteligência. É um organismo perfeito que o Destino governa, movimento eterno, contínuo e regrado” (RUSS, 1994, p.332). Ora se o logos eterno a tudo engloba, incluindo as pessoas e a natureza, a própria natureza, sendo divina, é perfeitamente lógica e coerente. O homem, ocupa no universo um lugar especial. De acordo com Hryniewicz, “ele é superior em relação aos demais seres pelo fato de participar do logos divino em maior grau do que qualquer outro ser vivente. Isto deve-se ao fato de possuir uma alma especial e de ser responsável por uma conduta moral que nenhum outro ser tem acesso” (HRYNIEWICZ, 2006, p. 287). Como conclusão, deduz-se que a natureza humana é totalmente racional e voltada para a virtude e para a justiça.
Buscar as coisas indiferentes em geral leva o homem para longe da racionalidade. É preciso “seguir a natureza”, ou seja, conduzir seus passos exatamente conforme indica sua natureza racional. Desta forma ele produzira uma sociedade mais virtuosa e justa.
Aqui parece haver uma contradição no estoicismo. De um lado se diz que existe um Destino que racionalmente a tudo governa providencialmente, mas, por outro lado, o estoicismo valoriza fortemente a Liberdade humana para escolher viver uma vida de ataraxia. Para os estóicos, o homem pode dominar suas representações e opiniões. Nas palavras de Russ: “O que depende de nós são nossas opiniões e desejos; o que não depende de nós é representado pelos corpos, reputações, dignidade, bens. O domínio das representações conduz à ataraxia, isto é, à serenidade e à paz da alma, à ausência de perturbações, à apatia, estado da alma que nem mesmo percebe mais a dor. O homem atinge assim o Soberano Bem, a felicidade concebida como existência de acordo e em harmonia coma a Natureza ou Deus, como vida conforme à razão” (RUSS, 1994, p. 332). De sorte que, embora valorize a Razão que guia o universo, sua doutrina não é fatalista.
- Seu mais famoso seguidor: Dentre os seguidores do pensamento estóico podemos enumerar Sêneca, Epíteto e o imperador Marco Aurélio. No entanto, embora não tenha reproduzido com absoluta perfeição o pensamento original de Zenão de Cítio, o mais famoso seguidor desta doutrina foi o famoso senador romano Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.). Em sua atuação como uma das figuras mais importantes da política romana ele assumiu um papel relevante para a história do pensamento filosófico e jurídico universal sintetizando vários pensamentos filosóficos gregos e inaugurando o vocabulário filosófico latino. Vejamos uma de suas mais conhecidas citações: “Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. A brevidade e a verdade desse verso fazem com que seja, para mim, um verdadeiro oráculo. Com efeito: sem nossas instituições antigas, sem nossas tradições venerandas, sem nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres cidadãos fundar e manter, durante tão longo tempo, o império de nossa República. (…) Em suma, não há felicidade sem uma boa constituição política; não há paz, não há felicidade possível, sem uma sábia e bem organizada República” (CÍCERO, M. T. Da República. In: Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1988, p. 175-176.).
Referência Bibliográfica:
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000
CABRAL, 2006
CÍCERO, M. T. Da República. In: Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1988
HRYNIEWICZ, 2006
RUSS, Jacqueline Russ. Dicionário de filosofia. São Paulo: Scipione, 1994
22. OS FUNDAMENTOS DE UMA VIDA PRAZEROSA
Nascido na ilha grega de Egeia de Samos, e filho de pais atenienses, Epicuro aprendeu filosofia com os discípulos de Platão. Ele viveu durante o período que se seguiu à morte de Alexandre o Grande, portanto, em um período de forte efervescência política. Em uma apresentação bem feliz de seu pensamento, aprendemos que “o foco principal do pensamento filosófico estava mudando da metafísica para a ética, e também da ética política para a ética pessoal” (s.a, 2011, p. 64).
Tratando justamente de temas relacionados à ética, Epicuro (342-271 a.C.), em uma das suas sentenças mais significativas, nos fala justamente dos fundamentos de uma vida prazerosa. Vejamos o que ele diz na Sentenças Vaticanas nº 5: “Não é possível viver prazerosamente sem viver com prudência, retidão e justiça; quando isso não ocorre, não é possível viver prazerosamente” (EPICURO, 2015, p. 28).
Existem muitos que são disseminados sobre o pensamento epicurista. Muitos, por desconhecimento, afirmam que ele advoga que tudo o que é prazeroso – como os excessos, os vícios e a devassidão – são vistos como bem.
No texto que acabamos de citar, registrado nas chamadas Sentenças Vaticanas nº 5, ele é bem claro sobre quais são os elementos que produzem uma vida prazerosa. Para ele, são três:
- Prudência (frônêsis). A vida prazerosa (êdéos zên) tem na prudência (frônêsis), compreendido por ele como o “bem supremo” (megisis agathon), e que é vista por ele, inclusive, como mais importante do que a própria filosofia (philosofphias timiôteron), uma vez que dela se originam todas as demais virtudes. Em sua Carta a Menequeu ele afirma que a prudência é que nos permite viver de modo belo, prazeroso e justo (zên kalos, êdeôs, dikaiôs). O escritor Isidro Pereira, em seu Dicionário grego-portugês nos diz que a palavra frônêsis significa “acção de pensar, pensamento, desígnio// percepção, inteligência de uma coisa// razão// prudência// inteligência divina” (PEREIRA, 1984, p. 619) (sic). Como seria importante que nós aprendêssemos a desenvolver uma vida marcada pela prudência enquanto capacidade de avaliar a realidade de uma forma mais sábia e perspicaz.
- Retidão (kalôs). Isidro Pereira traduz esta palavra, dentre outras coisas, por “de modo conveniente, favoravelmente, segundo o direito, justamente, perfeitamente bem” (PEREIRA, 1984, p. 293). No Novo Testamento esta palavra aparece algumas vezes, por exemplo em Mateus 12: 12, onde Jesus fala ser lícito fazer o “bem” no sábado. Neste texto Jesus questiona se uma animal cair em um fosso seria adequado retirá-lo de lá no sábado ou esperar até o outro dia. A “retidão” nos faria agir da melhor forma possível. Certamente retiraríamos o animal para evitar seu sofrimento.
- Justiça (dikaiôs). O terceiro elemento citado por ele é a justiça. Este mesmo elemento aparece em outra sentença, a de nº 12, da seguinte forma: “A vida justa é mais isenta de perturbação, ao passo que a injustiça está repleta de perturbação” (EPICURO, 2015, p. 18). Esta palavra é usada por Lucas ao citar a fala do ladrão que está ao lado de Jesus na cruz e dialoga com o outro condenado. Lá, diz o chamado “bom ladrão”: “Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem; mas este nenhum mal fez” (Lucas 23:41). A prática reiterada do erro e do crime fez com que aqueles homens chegassem a todo tipo de perturbação e até à pena capital, diz o texto, por causa da “justiça”. Mas Jesus não deveria estar lá com eles.
Os que vivem na prática da justiça estarão livres das perturbações associadas à uma vida de desmedida, de falta de conhecimento e de injustiça. Lembremos que segundo a Bíblia, “aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará” (Gálatas 6:7). Por isso, conclui Paulo: “E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido”. Gálatas 6:9).
Para encerrar é significativo ressaltar que a escola fundada por Epicuro em Atenas (306 a.C.) era conhecida como “jardim” em razão de seu isolamento em relação à cidade, mas era aberta tanto aos homens livres, quanto também às mulheres e aos escravos, demonstrando seu inclusivismo e sua abertura para com aqueles que sempre foram excluídos. Quem estabelece a prudência, a retidão e ajustiça como padrões para o alcance de uma vida prazerosa não excluiria dessa vida os marginalizados da sociedade.
Referência bibliográfica:
s.a, O livro da filosofia, São Paulo: Globo, 2011.
EPICURO, Sentenças vaticanas/ Máximas principais. São Paulo: Folha de São Paulo, 2015.
PEREIRA, Isidro. Lisboa: Apostolado da imprensa, 1984
23. ACERCA DO LIVRE ARBÍTRIO
Uma dos temas mais controvertidos no estudo da teologia e da filosofia é o que chamamos “livre arbítrio”. Sobre este tema podemos dizer que ele diz respeito à capacidade de escolher e de agir sem que haja qualquer forma de constrangimento, o que implica que, dadas as mesmas circunstâncias, o agente poderia ter agido de outra maneira.
De um lado há os que afirmam sua existência e dizem que nada pode constranger o homem livre e que toda escolha depende única e exclusivamente dele. Kant (1724-1804) assim se expressa na Introdução à Metafísica dos Costumes: “Na medida em que a [faculdade de fazer ou não fazer segundo a sua vontade] está ligada à consciência da faculdade de agir para produzir o objeto, ela chama-se arbítrio […]. O arbítrio que pode ser determinado pela razão pura, chama-se o livre arbítrio”. Note que para este ilustre iluminista a razão era o critério que estabelecia se a ação era ou não absolutamente livre.
Por seu turno, o pensador alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) afirma em, A Vontade de Potência, que “o que se chama o livre-arbítrio é esse estado muito complexo do homem que ‘quer’, isto é, que ordena e, executando suas próprias ordens, goza ao triunfar sobre as resistências e julga que é sua vontade que triunfa sobre essas resistências”. Ele bem poderia afirmar que este homem cuja vontade sobrepõe todas as demais é o super-homem ou Übermensch, aquele que, por meio da “vontade de potência”, cria novos ideais e transvalora os antigos valores.
Um outro autor a quem poderíamos recorrer sobre esse assunto é o conhecido teólogo e filósofo patrístico Santo Agostinho (354-430). Ele fazia uma distinção entre a liberdade (libertas) e o livre-arbítrio (liberum arbitrium). Para ele, a liberdade nos fala de um estado de bem-aventurança eterna, na qual não se pode pecar. Neste estado não podemos escolher entre o bem e o mal. Sobre o livre-arbítrio, diz ele, é: “a faculdade da razão e da vontade por meio da qual é escolhido o bem, mediante o auxílio da graça, e o mal, pela ausência dela”. Perceba-se que, o critério que estabeleceria o livre arbítrio em Kant era a razão ao passo que em Agostinho é a graça. Pela utilização dos meios de graça, nos aproximaríamos mais da liberdade, vencendo o livre-arbítrio.
Por outro lado, existem aqueles que negam completamente a existência do livre-arbítrio. Estes, ou bem são contados entre os teólogos ou bem entre os filósofos. Os teólogos que negam peremptoriamente o livre-arbítrio são os calvinistas radicais. Para estes tudo o que acontece está previamente predestinado por Deus, que seja por sua vontade permissiva, quer seja por sua vontade diretiva. Os calvinistas nos fazem lembrar do que os gregos entendiam por moira, e que acabou sendo traduzido em português por “providência”. Para os gregos os mortais eram como peças em um tabuleiro de xadrez movidas pelos deuses, no Olimpo. Entre os filósofos encontramos os deterministas que afirmam que, embora possuamos alguma vontade, ela, de forma alguma é livre, pois é condicionada por aspectos sociais, econômicos, físicos, políticos, ideológicos, etc.
Em Leibniz (1646-1716), por seu turno, temos uma elaboração interessante sobre a liberdade. Para ele, ela teria três características. A primeira era a inteligência. Também chamada de reflexão, ela envolve um conhecimento distinto e claro do objeto de decisão. Ela surge como produto de nosso conhecimento interno e de nossas escolhas anteriores, acerca das quais, não podemos ser indiferentes. Mas, embora causas internas possam influenciar nossa vontade, podemos ignorar nossa vontade e agirmos como quisermos. Em segundo lugar, ele diz que a liberdade também possui a espontaneidade.
Esta seria aquela característica por meio da qual cada um determina seu agir. Ela fala de nossa independência para fazermos nossas escolhas. Finalmente, Leibniz diz que existe a contingência, ou seja, a óbvia negação de uma necessidade absoluta no ato da escolha. Contrariando o que dissera Espinosa (1632-1677), Leibniz entende que se o mundo é feito da vontade livre de Deus, não existe nele, nenhuma necessidade absoluta. Logo, todas ações são livre e contingentes. Para ele, o homem possui a volição, ou seja, “a tendência de ir na direção do que se acha bom e ir longe do que se acha mal”. Como vemos, o que seria a razão em Kant, a vontade de potência em Nietzsche, a graça em Agostinho, agora surge como critério para guiar nossa decisão, o bem e o mal. A grande vantagem de Leibniz é que ele sai da esfera do debate metafísico e entra na seara da ética.
Mas, concluindo, ainda queremos fazer uma referência ao que afirma Martin Heidegger (1889-1976). Segundo este ilustre pensador alemão, dentre os diversos “entes”, tais como as cadeiras, as mesas, os computadores, ou mesmo os animais, há um cuja existência é, em si mesmo, uma interrogação sobre o Ser: o Dasein, ou o Ser-aí, o suporte e a abertura para o Ser. Ora, o ser só se autentica por meio de atitudes, doutra sorte seria um Ser inautêntico. E é por meio do retorno à interrogação sobre o Ser que ele segue seu caminho para a autenticação e o desenvolvimento de sua liberdade. Dessa forma a autenticidade é o caminho para a libertação das ilusões e sua realização plena. Para tanto, o Ser necessitará assumir a coragem e a responsabilidade de Ser. Somente assim agirá autenticamente e será livre. A enorme relevância de se viver autenticamente, ou seja, de exercer sua liberdade nos é descrita na feliz assertiva de Karl Jaspers (1883-1969), quando disse: “Só nos momentos em que exerço minha liberdade é que sou plenamente: ser livre significa ser eu mesmo”.
24. IDENTIDADE E INTERSUBJETIVIDADE
Um dos mais importantes e profundos pensadores do século XX foi o filósofo e escritor austríaco e judeu Martin Buber (1878—1965). Dentre as grandes categorias que ele utilizou estava a da intersubjetividade, esboçada na obra “Eu e Tu” de 1923.
Com esta categoria Buber queria afirmar que cada um de nós nascemos com a “capacidade de interrelacionamento com seu semelhante” o que ele chama de intersubjetividade. Na realidade, a intersubjetividade diz respeito à relação sujeito/sujeito e/ou sujeito/objeto. Para que haja relacionamento é preciso e existência de um EU e de um TU. É a interação ou interrelação destas duas instâncias que geram o diálogo, o encontro e a responsabilidade entre os dois.
Com base nas teses de Buber é que, por exemplo, o movimento ecumênico se desenvolveu. Ecumenismo não é uma sopa onde cada elemento perde sua identidade e se mistura assimilando a identidade do outro até que tenhamos uma massa disforme e sem parâmetros.
Para que haja um diálogo o primeiro elemento que precisa existir é a identidade. E quanto a isso eu sei muito bem o que sou. Sou um cristão anglicano.
Por que sou anglicano? Sou anglicano porque não sou batista, nem budista, nem católico-romano, nem espírita, nem islâmico, nem judeu, nem pentecostal, nem quaker (e fiz questão de colocar em ordem alfabética os exemplos para não privilegiar ninguém).
Sou anglicano porque sendo anglicano posso entender que em cada uma dessas tradições religiosas há elementos importantes, significativos, relevantes, etc., mas que nem por isso preciso abrir mão de minha identidade para ser o “outro”. Aliás, o que Buber afirmava era justamente isso: só existe o “Eu” se existe o “Outro”.
Lamentavelmente, há quem não entenda isso e ache que ser anglicano é fazer um caldo religioso que reúne tudo em algo disforme e sem idenntidade. Não é bem assim.
O anglicanismo TEM identidade e esta identidade se expressa em primeiro lugar na sua liturgia (lex crendi lex orandi). E em nossa liturgia citamos o Credo Apostólico e Niceno, adoramos a Jesus como nosso Deus e invocamos o Espírito Santo como terceira pessoa da trindade.
A identidade anglicana também tem limites no que chamamamos de Quadrilátero de Lambeth. Isto significa que afirmamos que as Escrituras são Palavra de Deus; afirmamos que os Credos Apostólico e Niceno como confissão de nossa fé; afirmamos os sacramentos do Batismo e da Eucaristia como instituídos por Cristo e, finalmente, afirmamos que somos uma igreja EPISCOPAL e não um amontoado de comunidades formando um sistema congregacionalista.
O anglicanismo tem identidade e ela foi plasmada em sua história. Por isso preservamos elementos da tradição celta, da tradição romana e da tradição reformada. Mas por isso, e justamente por isso, acreditamos que “Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est”. Não somos uma igreja com uma teologia acabada e terminada, mas somos uma igreja cuja identidade é bem formada e desenvolvida.
Sou anglicano, finalmente, porque além de uma credenda o anglicanismo tem uma agenda marcada pela inclusividade e pela compreensividade. Mas nem uma coisa nem outra significa que ela é uma instituição sem limites. Quando falamos em inclusividade queremos dizer que estamos abertos a aprender e a crescer dentro dos parâmetros que já foram apresentados; quando falamos em compreensividade estamos dizendo que estamos dispostos a compreender as limitações e as peculiaridades do “outro”. Mas não se pode abrir mão do tripé Escritura/Razão/Tradição na construção de uma teologia anglicana.
Quem procura o anglicanismo porque se identifica com seu ethos e sua identidade deve se sentir, como eu me sinto, “em casa”. Mas quem o procura apenas para ter um “guarda-chuva institucional” com a credibilidade de uma instituição milenar como tem a Igreja Anglicana, está absolutamente equivocado e se enganando a si mesmo.
Por isso, no anglicanismo também podemos amar, porque Deus é amor. Mas lembrando que segundo Paulo, devemos seguir a “verdade em amor”. O verdadeiro amor nos foi dado por Deus que se deu a nós e perdoa nossos pecados. O amor, não é arrogante, o amor não busca seus próprios interesses e nem se comporta inconvenientemente.
Acho que de uma perspectiva epistemológica é preciso fazer uma diferença entre uma religião e um sentimento. Religião é uma instituição humana, com data de nascimento e com uma doutrina formada. Amor é um sentimento que nasce e que morre; que pode ser desenvolvido ou não; que pode ser dirigido a uma pessoa ou a várias; mas que precisa ser regado e pregado dentro da religião, afinal, penso que o verdadeiro amor deve produzir a tolerância. Ou, como dizia Voltaire “Não estou de acordo com tuas ideias, mas defendo teu sagrado direito a expressá-las”. Ser anglicano é ter identidade sim, mas também é ser tolerante com o “outro”.
25. ACERCA DA ANGÚSTIA
Talvez este seja um dos temas mais importantes e necessários para ser discutido em nossos dias. Mas nossa aproximação não deve se dar de forma acrítica, porém, com um sério embasamento filológico e filosófico.
Etimologicamente, a apalavra angústia nos vem do latim (angor) e significa, tormento, aperto, estrangulamento. Não é sem razão que as pessoas angustiadas se sentem oprimidas e com um aperto em sua garganta.
No entanto, quando trabalhamos este termo de uma perspectiva filosófica ele não tem, necessariamente, uma conotação negativa. Na metafísica, por exemplo, ela nos fala de nosso destino no mundo.
Quem primeiro trouxe esse termo até um patamar mais elevado foi o filósofo dinamarquês Sorem Kierkegaard, pai do pensamento existencialista, no século XIX. Vamos citar três autores e ver, em cada um deles como esse conceito se tornou importante.
- Em Kierkegaard. Escrevendo em seu O conceito de angústia, ele nos diz que “A angústia é a vertigem da liberdade”. Como podemos perceber, nosso autor faz referência a uma experiência bem peculiar quando fala de angústia: a vertigem. Vertigem é o sentimento de que as coisas estão girando em torno de si o que faz com se sinta tontura ou que se pense que vai cair. A angústia, portanto, só ocorre quando se está nas alturas. Essa metáfora é muito usada por Nietzsche para descrever a condição do filósofo que, estando nas alturas, consegue ver o que ninguém percebe. Por outro lado, a angústia, também está ligada à liberdade. Só se angustia aquele que, em razão de sua consciência, sabe que é livre. O escravo, porque não tem escolha, não se angustia. Desta forma, a angústia é um sentimento nobre somente experimentado pelos que são livres para poder escolher com autocontrole e autodeterminação a via ou o caminho que pretende seguir. A angústia é a abertura para as possibilidades.
- Em segundo lugar, para o conhecido filósofo francês Jean-Paul Sartre, em seu O ser e o nada, “A angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser; é na angústia que a liberdade é em seu estar em questão para si mesma”. Como vemos, ele segue na mesma linha de pensamento de Kierkegaard associando a angústia à liberdade.
- Finalmente, segundo o ilustre pensador alemão Martin Heidegger, a angústia toma um sentido novo. Para ele, escrevendo em O que é a metafísica?, “A angústia é esta situação efetiva fundamental que nos coloca diante do nada”. Na angústia, escreve o filósofo alemão, o homem “sente-se na em presença do nada, da impossibilidade possível da sua existência”. Com essas palavras Heidegger nos deixa claro que seu conceito de angústia constitui essencialmente o que ele chama de “o ser para a morte”. Em outras palavras, a aceitação da morte como “a possibilidade absolutamente própria, incondicional e insuperável do homem” (sein und zeit, § 53). Mas nem por isso a angústia deve ser vista como algo negativo. Saber que somos um “ser-para-a-morte” não deve nos entristecer, antes, deve nos fortalecer para vivermos uma vida autêntica, ou seja, uma vida cujas decisões foram tomadas livremente e não impostas por um outro ser. A verdadeira consequência da angústia deve ser o destino, ou seja, ela nos liberta das possibilidades nulas e nos abre as portas para as autênticas (Ibid. § 68b). Quando falamos em autenticidade estamos falando daquilo que emana da personalidade de quem é livre. Para Heidegger, em seu (sein und zeit), “[A realidade humana está colocada] […] diante da possibilidade de ser ela mesma, mas de ser ela mesma numa liberdade apaixonada, libertada de ilusões do ‘se’ [on], numa liberdade efetiva, certa de si mesma e que se angustia de si mesma”. A angústia, portanto, ao colocar o homem frente à sua finitude, o coloca, também, diante das escolhas que tem que fazer in-der-welt-sain, ou seja, o ser-no-mundo, pleno de sua mundanidade e de sua temporalidade.
Somente os livres e os que têm ciência de sua finitude se angustiam. Se angustiam porque querem viver o que ainda têm de vida da forma mais autêntica que podem. Os animais e os escravos, os que não têm escolhas a fazer, porque já foram feitas por eles, não precisam se angustiar, porque já estão mortos.
26. ACERCA DA POPULARIDADE EM EPICURO
Em uma de suas sentenças mais famosas de Epicuro (342-271 a.C.), que escreveu mais de trezentas obras, mas que só 3 nos chegaram às mãos, encontramos a seguinte afirmação: “Quanto a mim, com a franqueza do estudioso da natureza, prefiro dizer de modo obscuro aquilo que é útil para todos os homens, mesmo não sendo compreendido por ninguém, do que me conformar às opiniões convencionais para colher o elogio que sai espesso da multidão” (Sentenças Vaticanas, nº 29).
Desta sentença importantíssima no seu pensamento, é possível retirar algumas verdades para nós hoje. A primeira verdade é que todo formador de opinião é um estudioso da natureza: “fisiólogôi”. Todos refletimos sobre o mundo que nos cerca. As vezes nossa reflexão é, outras vezes não é adequada.
A segunda verdade é que nossa reflexão as vezes é vista como sendo obscura. Ou seja, inapropriada ou sem sentido ou sem concretude prática. As pessoas preferem aquilo que lhes traga um retorno do que aquilo que lhes faça pensar.
A terceira verdade é que ele não está preocupado em se conformar às opiniões. Lembro-me das palavras de São Paulo que dizia: “não vos conformeis com esse mundo”, ou seja, não tomem a forma dele. A verdade não é uma questão de maioria de votos ou de maioria. Ela vai muito além disso.
Um dos comentadores de Epicuro, referindo-se a esta sentença assim se expressa: “É preferível correr o risco de não ser compreendido, discorrendo sobre as questões fundamentais que interessam a todos, que recolher aplausos fáceis repetindo o discurso do senso comum. A parresía (fraqueza rude) de Epicuro despreza os recursos da retórica e da educação artificial ensinada pelos sofistas. A ânsia de ser popular a qualquer preço é indigna da sabedoria” (EPICURO, 2015, p. 28).
Esta última frase do comentador é importantíssima em um mundo em quem a popularidade é buscada a qualquer preço, inclusive na esfera religiosa. A popularidade não pode, jamais ser colocada acima da sabedoria. Este era, segundo Epicuro, o problema dos sofistas e, de tantos que defendem apenas a retórica e não o conhecimento verdadeiro dos fatos. Que os religiosos de nosso tempo aprendam a não mercadejar a verdade do Evangelho trocando-o pela fama e pelo dinheiro.
27. REFLEXÕES SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS
Se há uma realidade inarredável de nossas vidas hoje é a da onipresença das tecnologias ligadas à internet e à comunicação. Parece que as crianças de hoje já nascem “chipadas” e com um conhecimento muitas vezes superior à de seus pais, no quesito manusear um computador ou um “smartfone”.
Sabemos que, de uma perspectiva tecnológica, o mundo passou por uma grande mudança em meados do século XVIII com a Revolução Industrial. Muito da vida cotidiana das pessoas foi afetada pela energia à vapor, pelas novas tecnologias têxteis e pelo incremento de novas máquinas e ferramentas.
Da 2º metade do século XIX até a 1ª Guerra Mundial o mundo assistiu a 2ª Revolução Industrial, também chamada de Revolução Tecnológica. Com ela tivemos a produção de ferro e aço em alta escala; a utilização do petróleo e de produtos químicos; o desenvolvimento da energia elétrica e, com ela, da comunicação.
A 3ª Revolução Industrial é chamada de Revolução Digital e é marcada pela substituição de uma realidade analógica, mecânica e eletrônica por tecnologias digitais que surgem em meados do século XX, chegando até ao desenvolvimentos dos PC’s e arquivos digitais oriundos do Vale do Cilício. Foi com a década de 90 que as coisas parecem ter dado um “boom” e atingido proporções nunca antes imaginadas.
Hoje, este mundo da hiperinformação, exerce uma enorme influência sobre nossas vidas, nossos relacionamentos e nossos comportamentos. Parece que, de uma perspectiva filosófica, nós voltamos ao dualismo platônico que dividida o mundo entre o mundo das ideias e o mundo real.
Para Platão, o mundo das ideias era perfeito, pleno e servia de modelo para o mundo real, que era apenas uma “sombra” imperfeita daquele mundo superior e eterno. Hoje, também estamos divididos entre e vida digital e a real. E, à semelhança dos filósofos platônicos, acreditamos que o mundo real é apenas uma “sombra” daquilo que é muito mais importante, o mundo digital.
Nossa comunicação foi afetada por essa crença. Não há como negar que as relações humanas foram afetadas pelo surgimento da internet. Não olhamos mais nos olhos das pessoas. Temos que ter um smartfone, um tablete, um netbook ou notebook para poder acessar as outras pessoas. Sem isso estamos perdidos no mundo.
Além do mais, precisamos estar conectados em algum tipo de “rede social” tal como o facebook para que tenhamos existência. Quem não tem um, não “existe”. Ademais, se para existir nesse mundo temos que ter o facebook, temos que utilizá-lo para que todos saibam onde estamos e o que estamos fazendo. Pior, sem ele não teríamos “amigos” e ninguém “curtiria” nossas postagens. Imagine a pessoa que conseguiu chegar a ter 2.000 amigos no facebook. Agora imagine o que aconteceria se ela postasse algo e ninguém, nenhum de seus 2.000 amigos curtisse ou compartilhasse sua postagem. Você tem ideia da depressão que isso pode gerar em uma pessoa que vive no mundo digital? Isto é real! Há estudos que mostram que pessoas entram em depressão se suas postagens não forem “curtidas”. Até que ponto chegamos?! Não se engane, você não tem 2.000 “amigos”. Você está só em um mundo de ícones, informação e bytes. Seja sincero consigo mesmo, se você tiver muitos amigos, terá, no máximo, uns quatro ou cinco. O resto não conta pra nada.
Conheço inúmeras pessoas que já nem falam pelo telefone. Não adianta ligar. Elas só estarão disponíveis pelo WhatsApp. E mesmo a linguagem não é mais escrita em língua corrente, mas em um código cifrado que envolve contrações de palavras e a utilização de “emojis”. Concordo com a opinião de Noam Chomsky, quando diz: “(…) diz-se que aumenta a comunicação entre as pessoas. Mas trata-se de uma comunicação muito superficial. O que os jovens têm que aprender é a relacionar-se uns com os outros como seres humanos. Isto implica estar frente a frente. Nós não somos marcianos! (…) os jovens relacionam-se com pessoas imaginárias. E nesse sentido a internet é um perigo porque cria a ilusão de que se está em contacto com outros quando, na realidade, se está completamente isolado” (sic) (CHOMSKY, In CAVALCANTI. s.d. p. 40). Esta é a grande mudança que está ocorrendo na comunicação mundial. Estamos vivendo em um mundo de relacionamentos superficiais onde a profundidade está cada vez mais perdida.
Este é o mundo que é valorizado em nossa geração. O mundo onde os fatos só são verdades se fazem parte e aparecem no mundo virtual. O real não nos interessa mais. O toque, o cheiro, o olhar, o tom da voz, tudo isso foi substituído pelo teclado de seu smartfone e pela “conexão” que o WhatsApp promete proporcionar.
Afinal, não estaríamos mesmo ressuscitando o dualismo platônico? Será que nosso tempo, dinheiro, atenção, enfim, será que toda a nossa vida não está voltada hoje para o mundo digital? Será que nosso sonho de consumo não é comprar o novo lançamento da Apple? Se nossa resposta for positiva, então realmente podemos começar a ter uma séria preocupação com o futuro de nossos filhos e de nossa humanidade. Sim, porque diante de nós, nos espera um mundo onde as dores reais e concretas de nada valerão; um mundo onde os valores mais cobiçados estarão relacionados ao consumismo e à aquisição, ao invés da justiça, da solidariedade e do amor. Quem viver verá.
28. A QUESTÃO DA HEGEMONIA EM GRAMSCI
Lamentavelmente poucas pessoas se interessam ou sequer conhecem a vida e o pensamento de um dos maiores personagens da intelectualidade italiana do século XX, Antônio Gramsci (1891-1937).
Nascido em Ales, Gramsci teve uma formação educacional pobre em sua cidade, mas recebeu uma bolsa para estudar letras na Universidade de Turim. Foi um dos militantes do movimento socialista italiano, chegando a galgar postos de liderança nesta instituição. Como intelectual, colaborou escrevendo para alguns jornais de esquerda e se envolvendo nos movimentos sociais entre 1917 e 1919. Foi um dos responsáveis pela criação do Partido Comunista Italiano (1921), sendo eleito deputado e, mais tarde, secretário-geral.
Quando da ascensão de Benitto Mussolini – líder do Partido Nacional Fascista – em 1922, tornando-se Primeiro Ministro, Gramsci passou a ser alvo dos interesses fascistas e acabou sendo preso em 1926 e, em 1928, condenado a mais de 20 anos de reclusão. Morreu na prisão em Roma, onde escreveu suas principais obras – publicadas postumamente, dentre as quais citamos: Cartas do cárcere (1947), Os intelectuais e a organização da cultura (1948) e O materialismo histórico e a filosofia de Benedetto Croce (1948).
Em sua obra, Gramsci se deteve em desenvolver o conceito de “hegemonia” como um dos mais significativos dentre suas categorias. Segundo afirma Macciocchi, fazendo uma espécie de “arqueologia” do termo, “O conceito de hegemonia deriva do grego eghestai, que significa conduzir e do verbo eghemoneuo, que significa ser guia. Eghmonia, no grego antigo, era a designação para o comando supremo das forças armadas. Trata-se, portanto, de um termo de origem militar” (MACCIOCCHI, Apud FEITOSA, In FILHO & BARROS, 2008, p. 379).
Como vimos, em seus livros ele desenvolve no conceito de “hegemonia”, uma categoria de extrema importância para todos os que estão envolvidos nas lutas sociais. O termo já fora usado por muitos outros pensadores marxistas antes dele como Mao Tse-tung, Stalin e Lenin. Mas ele incrementa muito mais o conceito com sua genialidade e, no Quaderni del carceri, este conceito se torna fundamental para a teoria marxista. Conforme escreve Anne Showstack Sasoon, da Kingston Polytechnic, “Nas condições moderna, argumenta Gramsci, uma classe mantém seu domínio não simplesmente através de uma organização específica da força, mas por ser capaz de ir além de seus interesses corporativos estreitos, exercendo uma liderança moral e intelectual e fazendo concessões, dentro de um certo limite, a uma variedade de aliados unificados num bloco social de forças que Gramsci chama de bloco histórico(…). Este bloco representa uma base de consentimento para uma certa ordem social, na qual a hegemonia de uma classe dominante (…) é criada e recriada numa teia de instituições, relações sociais e ideias. Esta ‘textura de hegemonia’ é tecida pelos intelectuais que, segundo Gramsci, são todos aqueles que têm um papel organizativo na sociedade” (sic) (SASOON, In BOTTOMORE, 1988, p. 177).
Fazendo uma espécie de síntese do pensamento de Gramsci, Feitosa nos diz que ele entende por hegemonia “a teia de relações institucionais e crenças organizadas pelas forças que detêm o poder numa dada sociedade, através de seus intelectuais orgânicos – isto é, daqueles que tem um papel organizativo, ou seja, formador, nas sociedades concretas nas quais atuam” (FEITOSA, In FILHO & BARROS, 2008, p. 380).
Do que vimos até aqui, podemos fazer algumas alusões que creio serem importantes. Em primeiro lugar, o conceito de hegemonia nasce em uma esfera militar e tem como raiz a ideia de “guiar” a tropa ou as pessoas em uma determinada direção; o segundo aspecto importante é compreender que o termo está associado à forma pela qual uma determinada classe mantém seu domínio sobre as demais classes. Neste aspecto, quer se trate da classe trabalhadora que se seja a classe dominante, elas sempre se servirão do processo de “hegemonia” para manter-se no poder e dominar as demais classes; o terceiro aspecto importante é que o conceito de “hegemonia” é utilizado por pessoas que são capazes de negociar e de ir além de seus interesses corporativos, ou seja, para se manter no poder, a classe precisa fazer alianças com outros agentes políticos; o quarto aspecto, é que nessa conjuntura de alianças, a classe que pretende o poder deve saber e poder exercer uma liderança moral e intelectual, afinal, estamos falando em “hegemonia”, ou seja, em uma capacidade de guiar um grupo ou bloco social; em quinto lugar, é preciso ressaltar o aspecto da maleabilidade da formação desse bloco social, por isso, essa negociação pode implicar em certas concessões, mas tudo dentro de um certo limite estabelecido pelo aspecto ideológico; o sexto aspecto a ser ressaltado é que a “hegemonia”, necessariamente implica na capacidade de negociar com uma variedade de aliados unificados em um bloco social de forças criando esta força hegemônica ou “bloco histórico”; o sétimo aspecto nos diz que este “bloco histórico” é o resultado de uma base de consentimento entre as partes com a finalidade de criar uma certa ordem social hegemônica nas mãos da classe dominante; um oitavo aspecto a ser indicado é que a hegemonia é criada e recriada constantemente, numa teia de instituições, relações sociais e ideias, que conseguem articular a “hegemonia” e, portanto, manter o poder; o nono e último aspecto a ser ressaltado é que esta “textura de hegemonia” implica necessariamente na participação de intelectuais quem, segundo Gramsci, são fundamentais para exercer o que ele chama de “papel organizativo na sociedade”. Em outras palavras, para que uma classe se mantenha no poder hegemonicamente é necessário que exista uma legitimação dada pelos intelectuais orgânicos que possuem um papel organizativo mas também legitimador daquele grupo que exerce o poder. É neste momento que os advogados, juízes, jornalistas, professores, sacerdotes, enfim, os formadores de opinião, são fundamentais para o fomento do processo hegemônico e sua manutenção.
Resta perguntar a estes intelectuais: a que grupo de poder você está servindo com seu discurso legitimador? Tanto podemos, com nossa capacidade intelectual legitimar uma hegemonia ditatorial como também podemos postular e defender uma textura hegemônica que privilegie as classes mais carentes de nosso país. A decisão está nas mãos de cada um.
FEITOSA, In FILHO, A. & BARROS, V. (Org.). Novo manual de ciência política. São Paulo: Malheiros, 2008.
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989.
SASOON, In BOTTOMORE, Tom. (Edit.). Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.
29. O EXÉRCITO DE MÃO DE OBRA DE RESERVA
Em uma descrição excepcionalmente verossímil do que ocorre ainda hoje em nossa sociedade, dizia o velho Karl Marx (1818-1883) em seu clássico O Capital (sd. p. 113, 114) que “Se a acumulação, o progresso da riqueza em base capitalista, produz então necessariamente uma superpopulação operária, está se torna por sua vez a mais poderosa alavanca da acumulação. Ela forma um exército industrial de reserva, matéria humana sempre explorável e sempre disponível”. Para o pensamento deste ilustre economista e pensador, este exército é semelhante ao que ele chama de superpopulação relativa, ou seja, a sobra da população operária que se compara a demanda da força de trabalho. Susana Himmelweit, da Open University, define o exército industrial de reserva como “A existência de uma reserva de força de trabalho desempregada e parcialmente empregada é uma característica inerente à sociedade capitalista, criada e reproduzida diretamente pela própria acumulação do capital” (Himmelweit, In BOTTOMORE, 1988, p. 144).
Diante do que foi exposto podemos fazer algumas afirmações que não podem ser esquecidas. A primeira informação, é que o exército industrial de reserva é um fenômeno do sistema capitalista. Ele não existia nas economias feudais ou escravagistas. Ele é uma criação do mundo moderno e do capitalismo burguês, estando claramente associado à acumulação e o progresso da riqueza.
A segunda verdade é que o exército industrial de reserva produz necessariamente uma superpopulação operária de reserva. Este exército de operários de reserva é de suma importância porque é justamente ele que produzirá a terceira verdade.
A terceira verdade é que ela se torna a mais poderosa alavanca da acumulação capitalista. Por que? Porque ela mantem fora da fábrica ou dos postos de trabalho, um grande número de pessoas dispostas a assumir o lugar ocupado por um trabalhador que, insatisfeito, resolva pedir aumento de seu salário ou fazer greve. Ele será imediatamente substituído por um dos membros do exército de reserva, mantendo os salários baixos e dominando e domesticando a mobilização dos trabalhadores. É por isso que o exército industrial de reserva é a mais poderosa arma dos capitalistas para aumentar seu lucro.
Hoje, no entanto, há duas questões que são bastante atuais e que precisam ser ressaltadas: o exército industrial de reserva, que tinha a ver com a indústria privada, assumiu uma versão estatal, à medida em que nem as prefeituras nem o Estado fazem mais concursos públicos para compor seu quadro funcional mas, ao invés, contratam cooperativas ou fazem contratos temporários para assumirem os espaços que deveriam ser ocupados por funcionários públicos. É o que chamamos de privatização da máquina do estado. Esta atitude, para a prefeitura ou o estado é muito mais interessante, na proporção que não cria uma relação trabalhista com o trabalhador, não cria vínculo que implique em aposentadoria e mantém o funcionário público debaixo do perigo de ser substituído e enviado para outro lugar. Em segundo lugar, no nosso mundo hiper-maquinalizado, o exército industrial de reserva, em muitos casos, é feito pelos máquinas que ocupam as vagas de trabalho. Isso ocorre em várias áreas, desde a bancária, onde as pessoas são substituídas pelos caixas eletrônicos, até a de ensino.
Lembro quando o diretor de uma das faculdades que eu ensinava reuniu todos os professores para dizer que aquela faculdade seria a primeira faculdade com um sistema na internet que permitiria ao professor colocar a nota e as faltas de sua própria casa. Naquele mesmo momento pensei comigo mesmo: “a faculdade está mantando dois coelhos com um só golpe”. Em primeiro lugar a faculdade vai despedir as pessoas da secretaria que tinham como obrigação fazer esse trabalho. Em segundo lugar, ela vai fazer com que o professor, ao invés de aproveitar o fim de semana com sua família, vai trabalhar em casa, digitando as notas e as faltas no sistema (que nem sempre funciona) sem ter que receber hora extra por isso. Em resumo, o Sistema substitui as pessoas em uma sociedade hiper-maquinalizada.
Referências bibliográficas
BOTTOMORE, Tom, Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988
MARX, Karl. O Capital. Sl. Novos Rumos, Sd.
30. BUDA E A BUSCA PELA FELICIDADE
Embora existam muitas biografias sobre Sidarta Gautama (c.563-483 aC.), a maior parte delas foram escritas séculos depois de sua morte e diferem muito entre si em vários fatores. Com certeza, porém, sabemos que ele nasceu em Lumbini, onde hoje é o Nepal. Ao que tudo indica, ele era filho de uma família nobre e teve uma vida luxuosa, privilegiada e cheia de luxúria. Descontente com essa vida, abandonou sua família (esposa e filho) para dedicar-se à espiritualidade e o equilíbrio ou caminho do meio entre a sensualidade e ascetismo. Uma vez tendo encontrado a “iluminação”, passou a viajar pela Índia difundindo seus ensinamentos.
Embora reverenciado pelos budistas, Gautama jamais se imaginou ser uma espécie de messias ou profeta, muito menos uma ponte entre Deus e os homens. Sua busca foi sempre a de encontrar a sabedoria, portanto, nossa abordagem não será religiosa, mas filosófica.
Dentre os seus ensinamentos encontramos o que ele chama de “quatro nobres verdades”. Quais seriam elas? Primeiro que o sofrimento faz parte da nossa vida desde o nascimento até a morte; segundo, que a causa do nosso sofrimento está no desejo pelos prazeres sensuais e no apego aos bens materiais; em terceiro lugar, que o sofrimento pode chegar ao fim por meio do desapego; finalmente, em quarto lugar, está o que ele chama de “caminho Octoplo”, ou seja, o caminho para a superação do ego e eliminação do desejo.
Aquele que quiser alcançar a felicidade na vida deverá buscar: a ação correta, a intenção correta, o modo correto de vida, o esforço correto, a concentração correta, a fala correta, a compreensão correta e atingir a consciência correta.
É interessante perceber que há muitos pensadores que tangenciaram esse caminho. Para fins didáticos apresentaremos apenas três pensadores que muito se aproximam do pensamento de Buda. O primeiro deles é Sócrates (470-399 a.C.). Este insigne pensador acreditava que o estudo da virtude tem início com o estudo da atividade humana que tem nela o seu fim. Para ele a virtude está ligada à natureza humana. Ademais, para ele, a virtude só seria encontrada no conhecimento de si e no seu próprio desenvolvimento e não nas riquezas materiais. É preciso, portanto, valorizar a amizade e o sentido de comunidade.
O segundo pensador a ser destacado é Aristóteles (384-322 a.C.) que, também voltando-se para a ética, pregava o caminho do meio ou a via media. Nesta via média precisávamos evitar os extremos do excesso ou da falta, que ele chama de “vícios” e buscar a moderação e o equilíbrio da “virtude”.
Finalmente, devo citar o livro bíblico de Eclesiastes. Escrito na Palestina no III século a.C., lá lemos que a verdadeira felicidade não está na riqueza, nos bens, na luxúria, no trabalho e nem mesmo na erudição ou na dominação que era exercida pelos poderosos da época. Ao invés de cair em desespero, é preciso compreender duas verdades: primeiro, que Deus é o Senhor absoluto do mundo e da história; segundo, que Deus está sempre ao nosso lado sendo ele próprio, um “dom concreto da vida para homem” a cada momento de sua existência. Entender isso é compreender que precisamos viver intensamente cada momento da vida, vendo neles, um lugar de relação pessoal com o Deus da vida. Quando vivemos o presente intensamente, ele se transforma em uma antecipação da eternidade saciando nossa sede de vida.
Os cristãos, desde o início do século XX, tiveram algumas experiências de diálogo inter-religioso com o budismo. Os dois intelectuais mais influentes nesta área foram Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) e Thomas Merton (1915-1968). Hoje existem comissões bilaterais em várias denominações (incluindo Anglicanos e Católicos Romanos) que discutem os temas comuns nas duas tradições.
31. AS CRISES QUE ASSOLAM NOSSO PAÍS
Outro dia escrevi um texto sobre o filósofo Epicuro (342-271 a.C.) que viveu na realidade social e política que vigeu justamente depois da morte de Alexandre o Grande. Este período assistiu a divisão de seu império e promoveu uma grande mudança no foco do debate filosófico saindo da metafísica e migrando para a ética, e, particularmente, a ética política e a ética pessoal.
Creio que, guardando as devidas proporções, acho que estamos em um momento de crise política e social no qual precisamos, também, nos voltar para a busca de um sólido debate sobre ética tanto na esfera pessoal quanto na esfera política.
Na realidade, estou absolutamente convencido de que boa parte dos problemas que nosso Brasil está enfrentando nestes dias (anos) de (des)governo do Partido dos Trabalhadores tem a ver com problemas relacionados a valores, ou a ausência deles, e a forma como encaramos essas questões.
Confesso que, com quase 50 anos de vida, presenciei desde o período em que se cantava “Este é um país que vai pra frente”, música símbolo do governo militar, bem como a redemocratização, a eleição indireta de Tancredo, a eleição de Collor – o paladino dos descamisados, e passei por todos os demais governos até a primeira eleição de Lula, em quem votei acreditando que esse país iria mudar.
Hoje, depois dos dois governos Lula e estando no segundo governo de Dilma, confesso que me falta esperança de que esse país tenha um futuro melhor. E creio nisso porque não será o tal impeachment que resolverá a questão, uma vez que ele apenas colocará no poder o Sr. Michel Temer, membro ao partido que sempre esteve ligado ao poder desde a redemocratização, seja qual fosse o presidente da ocasião. Já imaginou o triunvirato Michel Temer/Eduardo Cunha/Renan Calheiros à frente deste país? Aí chegaremos mesmo ao fundo do poço. Vivemos, sim, momentos de crise. E estas crises são, pelo menos de três naturezas: moral, política e econômica.
- Crise moral. A palavra “moral” vem do latim “mores” e significa “reativo ao costume”. Mas é preciso compreender que a moral é diferente da ética porque enquanto a ética diz respeito a um princípio fixo, a moral muda de época para época e de lugar para lugar. Eu diria que a moral é o resultado do princípio ético adequado à relação espaço/tempo.
Hoje, nosso mundo vivencia uma crise de valores associado a uma mudança epocal e essa crise atingiu primeiramente a vida e as escolhas de cada um de nós. Neste nosso mundo, chamado por alguns de pós-moderno ou modernidade líquida (Zygmunt Bauman), acabamos desenvolvendo uma moral líquida fruto de um pensiero debole (pensamento frágil) ligado à construção feita pelo filosofo italiano Gianni Vattimo. Neste mundo, a nossa moralidade não convive mais com verdades duras e absolutas. Pelo contrário, nossa moral acha perfeitamente normal, trair a esposa ou o marido, fraudar o Imposto de Renda, furar a fila nos bancos, saquear a carga do caminhão que tombou, usar remédios para ganhar a prova esportiva, etc., etc., etc. Esta é nossa crise moral vivenciada na esfera pessoal.
- Crise política. A palavra “política” vem do grego “polis” e significa “cidade”. Por isso quando Aristóteles disse que o homem era um “animal político” ele quer dizer que o homem deve se preocupar e se envolver com os problemas de sua cidade. Dizer que somos “políticos” é o mesmo que dizer que somos “cidadãos”, já que se “político” vem do grego, “cidadania”, vem latim, “civitas”, ou seja, aquele que habita na cidade e tem um “código civil” que o norteia.
Essa realidade de ausência de valores “duros” que norteiem nosso comportamento pessoal, associado a um eventual poder político, acaba redundando no mesmo tipo de comportamento, só que em uma esfera bem maior. E, já que o poder está associado ao dinheiro, eis que surgem as possibilidade de mentir para ser eleito ou reeleito, receber e pagar propina, utilizar o serviço público como uma extensão da vida particular, cometer peculato, corrupção, etc., etc., etc. O que é pior é que estas ilustres figuras (do executivo e legislativo) não assumiram seus cargos por concurso público. Elas chegaram lá por meio de eleição direta, o que torna todos nós responsáveis pelo que ocorre na esfera política. Qualquer mudança exigiria um investimento maciço em educação, algo que nossos ilustres governantes não desejam, já que isso abriria os olhos das pessoas. É necessário que a educação nesse país continue à mingua e que os professores continuem recebendo a miséria que recebem como salário.
- Crise econômica. Uma pessoa sem freios morais, sem verdades absolutas para se apegar, associada a um partido que está disposto a vender a alma e a rasgar seus estatutos para ganhar uma eleição, claramente estará disposto a receber “doações” de grandes empreiteiras para terem assegurados futuros contratos. Todo esse mar de lama que estamos assistindo diuturnamente pela televisão envolvendo a Petrobras e incluindo as principais figuras da República, é apenas um caso, um único caso. Acredite existem muitos outros que não vieram à tona. E quantos outros não existem nas esferas municipais, estaduais? E o que dizer das propinas recebidas também na esfera do Judiciário para que o juiz ou o desembargador decida desta ou daquela forma? O noticiário nos assegura que nem mesmo o próprio Ministério Público escapa.
Como sair da crise? Este governo perdulário e corrupto apresenta como solução da crise econômica que tomou conta de nosso país o aumento dos impostos e a re-criação da CPMF. Ele não consegue “cortar na carne” e baixar seus próprios gastos, ou ainda taxar as grandes fortunas. Quem paga a conta é sempre a classe média e a classe baixa.
Para concluir, lembro-me de uma antiga, mas lamentavelmente sempre atual música cantada por Renato Russo, vocalista de uma banda chamada Legião Urbana, que surgiu justamente em Brasília nos anos 1982-1996 e que dizia: “Nas favelas, no Senado/ Sujeira pra todo lado/ Ninguém respeita a Constituição/ Mas todos acreditam no futuro da nação/ Que país é esse?”
Talvez, tenhamos que concordar com a expressão dura de um diplomata brasileiro e embaixador do Brasil na França (1956-1964) Carlos Alves de Souza Filho que disse: “O Brasil não é um país sério”.
32. O LIBERTARISMO
O que ocorreu é que o debate acadêmico e prático que ocorreu depois da Revolução Industrial foi determinante na formação de duas escolas Filosófico-Econômicas bem distintas e opostas no que diz respeito ao que é Justo. De um lado temos os libertaristas e do outro os comunitaristas.
As teses libertaristas surgiram em contraposição ao que conhecemos por Estado de bem-estar social e estão associadas a dois autores bem importantes bem importantes: o economista e filósofo austríaco Friedrich A. Heyek (1899-1992) que escreveu The Constitution of Liberty (1960), e o economista americano Milton Friedman (1912-2006) em Capitalism and Freedom (1962). No primeiro texto Heyek defende que qualquer tentativa de impor uma maior igualdade econômica, necessariamente passaria pela coação e pela destruição de uma sociedade livre. Já o segundo texto Friedman entende que boa parte das ações do Estado hoje, não passam de infrações ilegítimas da liberdade individual. Um exemplo é a regulamentação do salário mínimo que, para ele, deveria ser decido entre o patrão e o empregado. O Estado não teria que se envolver nisso.
Estes dois intelectuais encontraram respaldo na prática política na década de 80 em dois dos maiores líderes mundiais de então, o presidente americano Ronald Regan e a primeira ministra britânica Margaret Tatcher. Em nosso país Fernando Colllor de Fernando Henrique Cardoso foram os implementadores destas teses na vida pública.
Mas o que defendem os libertaristas? Enquanto os comunitaristas enfatizam o bem comum e não os direitos e liberdades dos indivíduos, os libertaristas defendem que se deve perseguir ao máximo a liberdade do indivíduo no livre comércio, reduzindo o Estado ao mínimo possível. Segundo pontua Michael Sandel: “Os libertários defendem os mercados livres e se opõem à regulamentação do governo, não em nome da eficiência econômica, e sim em nome da liberdade humana. Sua alegação principal é que cada um de nós tem o direito fundamental à liberdade – temos o direito de fazer o que quisermos com aquilo que nos pertence, desde que respeitemos os direitos dos outros de fazer o mesmo” (SANDEL, 2011, p. 78).
A tese de um estado mínimo estava por traz de todo o processo de privatização realizado por Fernando Henrique aqui no Brasil. Isto ocorreu porque os libertaristas acreditam que o Estado moderno não precisa se envolver em muitas atividades. De fato, postula Sandel (2011, 79) somente um Estado mínimo, ou seja, um que faça cumprir os contratos, proteja a propriedade privada contra os roubos e mantenha a paz, pode ser compatível com a teoria libertária dos direitos.
Como podemos inferir, os libertários rejeitam três tipos de diretrizes e leis geralmente presentes nos Estados modernos:
(1) Rejeitam o paternalismo. Ou seja, são contra leis que protejam o indivíduo contra si mesmo, por exemplo, o uso de cinto de segurança ou capacetes para quem guia motocicletas. Cada pessoa deve decidir o que quer e assumir os riscos de suas escolhas, desde que não haja riscos para terceiros e desde que, em caso de acidente, eles sejam responsáveis por suas próprias despesas médicas.
(2) Rejeitam qualquer legislação sobre a moral. Não importa de a moral da maioria deseja isso ou aquilo, questões como aborto, prostituição, homoafetividade, etc., são questões individuais e nem o Estado nem ninguém tem a ver com as escolhas que o indivíduo faz para sua vida.
(3) Rejeitam a distribuição de renda ou riqueza. Se algum indivíduo quiser ajudar a seu próximo, que o faça por livre vontade e não porque o Estado taxa os mais ricos com uma alíquota diferenciada para poder ajudar os mais necessitados. Para os libertários, isto é roubo.
Os libertaristas, com sua defesa acabam por aumentar a desigualdade entre os indivíduos produzindo efeitos nefastos à liberdade dos pobres. Por exemplo, expõe Law (2008, p. 170) “se você tiver pouco dinheiro, a doença, o desemprego ou a falta de instrução o deixarão menos livre do que seu visinho mais rico”. Muito provavelmente esta situação será interpretada ou bem como o resultado de um infortúnio, ou bem da preguiça do indivíduo. Desconsiderando uma enorme gama de fatores como, por exemplo, a condição original da pessoa, a política de geração de emprego daquele Estado ou as políticas sociais de saúde.
Quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, e, portanto a Grande Depressão, o Governo americano teve que envidar esforços para poder atender minimamente a milhões de americanos desempregados que morriam à míngua. Foi neste momento que Roosevelt, com seu New Deal, fez com que o Estado interviesse para solucionar, ou, pelo menos, minimizar a situação. Sua inspiração veio das “políticas sociais produtivas” realizadas na Suécia, depois da crise de 29. Naquele momento, assim como, muitos anos mais tarde, na gestão de Barack Obama, as teses libertaristas entraram em cheque vez que o Estado interveio fortemente no mercado para regular lucros, investir em empresas e até estatizar bancos para socorrer pessoas concretas de situações criadas pelos próprios bancos e pelas empresas da Wall Streat. Em 1932, o social democrata Gunnar Myrdal nos fez ver que políticas sociais podem ser diferentes de auxílio a pobreza vez que uma era investimento, a outra era custo.
33. SOBRE AS REDES SOCIAIS
Uma das grandes marcas de nossa sociedade é a ambigüidade. Incentivamos e criticamos posturas com muita facilidade. Mas uma das maiores provas da ambigüidade de nossa sociedade é o crescimento das chamadas redes sociais ao mesmo tempo em que aumenta a solidão e a depressão entre nosso povo. Quero antes de tudo dizer que não sou um fundamentalista contrário ao avanço tecnológico nem desconheço as imensas contribuições que estas redes têm dado para mudanças sociais pelo mundo afora. Eu mesmo já tive meu próprio Orkut e meu Facebook. Mas preferi mudar. Por que? Procurarei explicar.
Afora aqueles que usam estas ferramentas com um interesse financeiro e mercadológico, elas representam, para um ser humano normal, três grandes problemas: perda de tempo, exposição inútil (trazendo perigo ou revelando a futilidade do pensamento) ou auto engano.
Em primeiro lugar elas representam uma enorme perda de tempo. Qualquer um dos meus leitores já presenciou –se não participou – da paranóia de ter que verificar o facebook a cada 10m. já estive em jantares com amigos que, ao invés de privilegiar a presença significativa de pessoas reais ali, conversando, trocando idéias, discutindo temas interessantes, preferem ficar manuseando seu celular durante todo o jantar. Não vejo isso apenas como uma má educação ou como uma forma de dizer que a companhia não é interessante, mas como uma espécie de patologia que tomou ares de epidemia. Entre relacionamentos pessoais e virtuais, preferimos os virtuais.
Em segundo lugar, qualquer usuário do facebook sabe qualquer coisa sobre boa parte de seus “amigos”. Sabemos que horas eles acordam, tomam banho, tomam seu café da manhã, vão pra escola, sabemos se estão doentes, qual a doença, quem os visitou, para onde eles vão no fim de semana, como foi a viagem, qual o carro novo que compraram, qual o clube que freqüentam, onde moram, etc. etc. etc. Ora não é preciso ser um Sherlock holmes para saber que todas estas informações ou bem atestam que estamos vivendo em uma sociedade que sofre de um certo voyeurismo social (agravado pelo BBB) que expõe bem o quão fútil e ridícula é a opinião média dos habitantes desde ciberespaço em questões que envolvem política, economia, sociedade, democracia, etc., ou bem, na pior das hipóteses, estamos dando informações a quem pode nos prejudicar de alguma forma mais séria. E sabemos que isso já existe.
Mas em ultimo lugar, estas novas redes sociais nos fazem acreditar no engano de que temos 200, 300, 500 ou 1000 amigos. Tudo isto é mentira. recentemente assisti o testemunho de um dos maiores pensadores do século XX, Zygmunt Bauman, e ele falava de uma conversa que tivera com um usuário do facebook. O jovem dissera que naquele dia ele fizera 500 novos amigos; ao que Bauman retrucou: “eu tenho 86 anos e nunca consegui fazer 500 amigos”. Tudo isto é um grande engodo, uma grande mentira. Nunca fomos tão capazes de encontrar alguém na mesma proporção de que nunca fomos tão incapazes de desenvolver um relacionamento com profundidade. Sabem porque? Porque relacionamentos profundos exigem cor, cheiro, lágrimas, risos, corpos, suor, enfim, exigem vida.
Contatos? Continuo tendo por meio de meu e-mail. Mas não preciso ter que satisfazer a curiosidade de ninguém (nem a minha) sobre o que quer que seja. Acho que ele me basta. Quanto ao mais, aceito sem problemas o título de conservador.
34. ACERCA DOS ANJOS MIGRANTES
Recentemente toda a humanidade se constrangeu e se chocou com a foto de uma criança síria de três anos chamado Aylan Shenu, que jazia morta por afogamento na praia de Bodrum, na Turquia, na tentativa da família de fugir da Síria e entrar na Europa. Na realidade, a morte atingiu as duas crianças e sua mãe. Somente o pai escapou vivo.
Recentemente estava lendo o livro A inteligência coletiva, de Pierre Lévy (2015) e observava sua argumentação sobre a ética da inteligência coletiva e me foi impossível não relacionar o texto com a foto. Ele começa o texto fazendo referência ao diálogo entre Abraão e Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, em razão da imensa impiedade que marcava aquelas sociedades. Abraão, argumentando com Deus diz que o Senhor não seria capaz de destruir aquelas cidades se nelas houvessem cinquenta justos. E arrematou: “Sucederia ao justo o mesmo que ao culpado?”. Deus respondeu que pouparia as cidades por causa dos cinquenta justos. Abraão continuou a sua argumentação dizendo que poderiam existir quarenta e cinco, depois trinta, vinte e finalmente, dez justos. Deus respondeu que, por causa dos dez, ele não destruiria a cidade. A partir daí, diz Lévi: “Ao cair da noite, dois anjos chegam às portas de Sodoma. Nada, em sua aparência, indicam que sejam enviados por Deus. Para todos são pessoas de passagem, viajantes desconhecidos. Lot, que estava sentado à entrada da cidade, convida esses estrangeiros à sua casa, dá-lhes de comer e trata-os com perfeição, segundo as regras da hospitalidade. Eles ainda não haviam se deitado quando a população de Sodoma se reúne em torno da casa de Lot e pede para ver os estrangeiros, ‘para deles abusar’. Lot se recusa a entregar seus hóspedes; chega a oferecer em troca suas filhas ao populacho encolerizado. Mas eles não querem saber. A demonstração permitiu contar o número de justos em Sodoma: apenas um” (LÉVI, 2015, p. 33). Imediatamente o relato nos fala da organização da fuga de Lot e sua família para escapar da destruição eminente que ocorreria. Na fuga, apesar da proibição, a mulher de Lot olha para traz e se transforma em uma estátua de sal. Mas porque a mulher olha para trás? Ela queria visualizar o julgamento, identificando-se com o juiz. Ela que “contemplar a fornalha em que agonizam os habitantes das cidades e, ao fazê-lo, reifica uma prática de ‘valor’ transcendente. Os justos fazem viver, os juízes se petrificam” (LÉVI, 2015, p. 34).
A conclusão que Lévi chega (2015, p. 34) é que, se a humanidade subsistiu até hoje, é porque sempre houve um número suficiente de justos. E continua: “Porque as práticas de acolhida, ajuda, abertura, cuidado, reconhecimento e construção, afinal, são mais numerosas ou mais fortes que as práticas de exclusão, indiferença, negligência, ressentimento, destruição…” (LÉVI, 2015, p. 34). Se não houvesse mais amor entre pais e filhos, se só houvesse inveja e abuso, roubos e assassinatos, a humanidade não teria sobrevivido. Ele inclusive ressalta que o fogo que destruiu as duas cidades não cai dos céus, mas sobe das próprias cidades. Estas labaredas, diz Lévi (2015, p. 34), “são as labaredas da discórdia, da guerra, das violências a que se entregam os seus habitantes”.
De fato o mal está em toda parte. Mas o bem existe e porque é maior, ainda mantemos a humanidade.
Deus, assim como nós, está perfeitamente informado de todas as mazelas e infortúnios criados pelos homens. O mal é exposto e medido ao passo que o número dos bons é ignorado e oculto. Mas como podemos reconhecê-los? Porventura os justos do texto de gêneses estão assentados julgando as cidades? Não. Eles são “migrantes que percorrem o mundo e se apresentam, uma tarde, cobertos da poeira da estrada, na entrada de uma cidade”. (LÉVI, 2015, p. 35). Os justos são reconhecidos porque migram – como os anjos – em direção aos que estão invisíveis dentro da cidade, mas que são os que as mantém vivas. São estes justos que, diz Lévi (2015, p. 35), tecem na sombra o laço social.
Qual o grande crime de Sodoma? A recusa à hospitalidade e o não acolhimento dos estrangeiros. Ora, diz Lévi “a hospitalidade representa eminentemente o sustentáculo do laço social concebido segundo a forma de reciprocidade: o hóspede é tanto aquele que recebe como o que é recebido. E cada um deles pode-se tornar estrangeiro” (LÉVI, 2015, p. 35). É a hospitalidade que nos permite encontrar o “outro”, a “alteridade”. É por ela que o proscrito é acolhido, integrado e incluído em uma comunidade. A hospitalidade é oposta à exclusão. O justo, diz Lévi, “inclui, ‘insere’, reconstitui o tecido social. Em uma sociedade de justos, e segundo a forma da reciprocidade, cada um trabalha para incluir os outros” (LÉVI, 2015, p. 35).
Lót assumiu o risco de ser minoria ao defender os estrangeiros sozinho contra todos. Esse também, ao fazer isso, assumiu a condição de estrangeiro. Em outras palavras, aquele que mais inclui pode tornar-se o mais excluído. Afinal, porque Lot não conseguiu salvar Sodoma? Segundo Lévi é porque “é preciso uma força coletiva para manter o coletivo” (Ibid., p. 35, 36). Os justos só são eficazes se conseguem manter a existência de uma comunidade constituindo o que Lévi chama de uma “inteligência coletiva”. Mas o que é isso? Ele responde: “É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetivas das competências” (LÉVI, 2015, p. 26).
O bem tem a capacidade de invocar aquelas características boas da humanidade e valorizá-las. Todas as forças de valorização e conservação da vida social são boas. Complementa Lévi: “se o justo impede a destruição, é que o bem se encontra ao lado do ser, e mais ainda do lado da capacidade de ser: a potência; […] seja ela física, moral, intelectual, sensual ou de outra natureza. Seria considerado bom, por conseguinte, tudo o que engrandece os seres humanos” (LÉVI, 2015, p. 36).
Com a morte daquela criança encontramos a vigência de uma parte significativa da sociedade que está fechada ao outro, ao estrangeiro. Encontramos tudo o que diminui os seres humanos, os limita, humilha, deprecia e os destroem.
Lévi é um pensador que estuda os novos comportamentos e as novas tecnologias da informação. Para ele, a internet e as redes sociais podem estar a serviço de uma inteligência coletiva com consequências tanto na esfera meramente intelectual, mas também na esfera ética e política. Para o filósofo Felipe Pondé, ele nos apresenta a primeira grande chance do homem superar o solipsismo cartesiano do “eu” que pensa e construir redes abertas de pensamento para entrar em contato com outras culturas e paradigmas. Quem sabe se os homens bons desse mundo, por meio de uma inteligência coletiva, não serão capazes de criar uma nova sociedade onde o acolhimento, a fraternidade e a bondade sejam vistos como normais, e, deste forma termos a chance de escapar de uma Sodoma que rejeita os estrangeiros e animaliza os diferentes.
Referência Bibliográfica
LÉVI. Pierre. A Inteligência coletiva. São Paulo: Folha de São Paulo, 2015.
35. REGRA OU EXCEÇÃO?
Estudando as obras de Zigmunt Bauman nos deparamos com uma visão extremamente crítica da realidade que nos cerca. Uma delas diz respeito à liquefação das identidades e das instituições, das estruturas e dos comportamentos que, julgávamos, estáveis e “normais”.
Eram “normais” porque “universais” e praticamente “exigíveis” – de uma perspectiva kantiana, de todas as pessoas. Mas algo ocorreu a partir da década de 80. As “anormalidades” foram se tornando tão comuns que hoje já não sabemos mais distinguir o que é a regra do que é a exceção.
Uma das esferas que podemos abordar esta mudança tem a ver com a amizade. O que era amigo na década de 80 e o que é um amigo hoje? Quando lembro da letra de Oswaldo Montenegro nos convidando a fazer uma lista dos grandes amigos me dou conta de que não apenas eles desapareceram mas que a própria noção de amizade mudou. Um amigo era alguém na frente que quem você podia pensar em voz alta e aquela pessoa que jamais usaria o que você disse contra você. Hoje o que temos são apenas colegas de trabalho que nos veem como degraus para atingir um nível mais elevado na empresa ou na sociedade. As pessoas não se aproximam mais umas das outras pelo que elas são, mas pelo que elas podem nos dar em troca.
Quando tratamos de amizade entre casais a situação fica ainda mais complexa e desesperadora. Foi-se o tempo em que um casal podia contar com um outro casal diante de eventuais dificuldades conjugais. O que era regra virou exceção porque o que vemos são os amigos “flertando” ou “investindo” nas esposas de seus próprios amigos. O que vemos são as esposas dando um “passe livre”, uma vez por semana para seus maridos a fim de que elas próprias também possam vivenciar outras experiências.
Sei que já passei dos quarenta e que faço parte de uma geração que já pode ser chamada de antiquada. Mas não vejo muito futuro num tipo de comportamento em que, primeiro nos desvalorizamos enquanto pessoa e, em segundo lugar, desvalorizamos nosso cônjuge. Nos desvalorizamos porque nos apresentamos como uma “mercadoria” ou mais um “objeto de prazer ” em uma feira de sensualidades. Desvalorizamos nossos cônjuges porque traímos os votos e mentimos deliberadamente para camuflar a realidade. Ou pior, sabemos que há casais em que isto ocorre sem que sequer seja necessário esconder ou encobrir esta realidade.
A grande dificuldade que se tem hoje de encontrar um amigo, ou um casal de amigos é que a exceção virou regra. Não quero um amigo que ache normal trair, que ache exceção ou vergonhoso ser fiel. É difícil encontrar hoje pessoas que tenham os mesmos princípios e os mesmos padrões. Você acaba sendo uma espécie de “ET” numa sociedade em que trair é normal, é a regra e a exceção é ser fiel.
Não se trata de buscar uma “falsa santidade”. Estou sendo apenas prático. Que tipo de relacionamento teremos quando não podemos nem sequer confiar na pessoa com quem compartilhamos a mesma cama? Afinal de contas um orgasmo com uma pessoa estranha e desconhecida é realmente tão mais importante do que anos de relação construído com esforço? Quem já passou por essa experiência e sofreu a perda de um casamento sabe que não vale a pena, sabe que o custo é muito alto.
Fidelidade não é um tema piegas, estou convencido de que hoje é uma questão de sobrevivência do casal. Até porque, voltando ao tema da amizade, acredito firmemente que o maior amigo de uma mulher é seu marido e vice versa.
Ao escrever estas linhas estou ciente de que muita gente vai rir e criticar. Não há problemas. Faz muito tempo, um autor inglês chamado John Stott lançou um comentário ao sermão da montanha que tinha como título “contracultura cristã”. Neste livro ele demonstra claramente como o “feliz” é o “que chora” e não aquele que gargalha, como quem “vive” é realmente aquele que é capaz de “morrer”.
Na vida precisamos fazer escolhas e as fazemos diariamente. Estas escolhas podem ser feitas com base em critérios e em valores ou podem ser simplesmente refletir o que a “moda” ou o que a “suciedade” entende como regra. Espero que, para além da popularidade, nossas escolhas reflitam nossa inteligência e nossa integridade.
36. A MAGNA CARTA
O dia 15 de junho de 2015 é um dia especial para todos os que lutam e almejam por uma sociedade mais justa e igualitária. Neste dia, em 1215, portanto a 800 anos, o Rei João Sem-Terra (1166-1216), que procurava reforçar seu tesouro – que havia sido comprometido por seu irmão que o antecedera – por meio do aumento das taxas e dos impostos, foi, impedido pelos barões feudais e obrigado a assinar a Magna Carta Libertarum.
Este documento não representa apenas a “semente do moderno constitucionalismo” (MELLO, 2008, p.66). Ele estabeleceria definitivamente que nem o Rei nem seus agentes estariam acima da lei. Não se tratava apenas de afirmar que o Rei não poderia cobrar mais impostos que aqueles devidos. Esta carta introduziu algumas noções que servem de base para o direito moderno. A primeira e grande preocupação da Carta era com a Justiça. Flávia Lages de Castro, referindo-se a esse tema assim se expressa: “A montagem da justiça foi também uma preocupação da Magna Carta, que em vários artigos indicou quais tribunais e com qual periodicidade deveriam se reunir, mais ainda, esse documento indicou uma preocupação com uma retidão na justiça quando afirmou no artigo 49: ‘Não venderemos, nem recusaremos, nem dilataremos a quem quer que seja, a administração da justiça’” (CASTRO, 2010, p. 184).
A carta garantia que as pessoas tinham o direito de ir e vir. Vejamos o que diz o artigo 52 “Para o futuro poderão todos entrar e sair do Reino com toda a garantia, salvante e fidelidade devida” (In CASTRO, 2010, p. 184). Eis aqui uma proteção jurídica que mais tarde se materializaria no que conhecemos por habeas corpus.
Outra proteção clara que a Carta nos dava era a proteção contra qualquer forma de prisão sem julgamento. Eis o texto do artigo 48: “Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus Pares segundo as leis do país” (In CASTRO, 2010, p. 184, 185).
O Dr. Walter Nascimento revela a forte influência do direito romano sobre a Carta Magna. Isso pode ser vista na citação de Hersílio de Sousa, para quem “essa Magna Carta teve por principal redator um doutor da Universidade de Bolonha, portanto, do direito romano” (SOUSA, Apud NASCIMENTO, 2006, p. 159).
Em outras palavras, com exceção do nefasto AI 5, que revogava os direitos mais essenciais do indivíduo estabelecidos pela Carta Magna, como por exemplo o habeas corpus e o direito a um julgamento justo que fundamente uma punição, o que celebramos hoje é a vitória da Justiça contra o arbítrio, a vitória da Lei sobre o poder do Rei. A partir de agora, todos devem se submeter não mais ao humor do Rei, mas ao que diz a lei. Ainda hoje precisamos nos lembrar dessa verdade e fazer cumprir a justiça.
Referência bibliográfica
CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010
MELLO, José Octávio de Arruda. História do direito e da política. João Pessoa: Linha d’Água, 2008
NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de história do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006
CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010
37. ENSINANDO DIREITO EM MEIO A UMA CRISE DE VALORES
Um dos quadrinhos que mais acalentou minha adolescência foi Mafalda. Deles, lembro, de uma tira em que Manolo é interpelado por um amigo sobre o que ele estava lendo no recorte de um jornal. “As cotações do mercado de valores”, responde ele. “Valores morais, espirituais, artísticos, humanísticos?” pergunta seu interlocutor. Ao que ele responde: “Não. Daqueles que servem para alguma coisa”.
Muitas pessoas iniciam o curso de Direito com uma cabeça muito semelhante à de Manolo. Elas acham que existem valores que “servem” e valores que “não servem” para alguma coisa. E pior, elas têm uma enorme dúvida em saber para que “serve” o direito. Há quem procure o curso de direito apenas buscando uma posição social ou uma ótima condição salarial – lamentavelmente esta é a resposta dada pela maior parte dos meus alunos de primeiro período. Quase nenhum deles, diante da pergunta “porque você escolheu fazer direito?” responde na direção de que deseja um país mais justo e mais solidário ou um país onde haja maior distribuição de renda. Pois bem. Acredito firmemente – mesmo sem receber a influência da teoria tridimensional de Reale – ser impossível estudar direito sem tocar na questão dos “valores” de uma sociedade. De que forma, portanto, nossos alunos podem se relacionar com os “valores” em nossas faculdades de direito? Imagino que eles possuam três possibilidades.
- ESQUECER OS VALORES
A primeira possibilidade de relacionamento entre nossos alunos e os valores é, simplesmente, esquecer sua existência. Assumir esta postura é assumir um tipo de niilismo. O niilismo pode ser assumido quer por uma postura intelectual que seja por pura ignorância. Sabemos que o niilismo é uma postura filosófica na qual perdem-se todas as verdades e todo o sentido da existência. Geralmente assumir uma postura niilista pela via intelectual significa que o indivíduo chegou a esta condição em função de seus próprios estudos e reflexões. Mas também é possível que se chegue a esta postura em razão de problemas existenciais. Pessoas que assumem uma postura niilista por razões existenciais são, em geral, pessoas pessimistas, descrentes e depressivas.
Quando se assume uma postura niilista por razões intelectuais inexoravelmente precisamos assumir que viveremos uma vida hipócrita e cínica. Se não acreditamos mais em verdade alguma, mas vivemos como se elas ainda existissem, estamos sendo obviamente hipócritas. Pessoas que assumem uma postura niilista acreditam poder viver acima do bem e do mal. Quando nos lembramos do romance do escritor russo Fiódor Dostoievski publicado em 1866 chamado “Crime e Castigo”, nos deparamos com a história de um jovem chamado Rodion Româminovitch Raskólnikov, estudante que comete um assassinato e se vê perseguido por sua incapacidade de continuar a vida sem lidar com os conflitos morais e existenciais envolvidos em seu delito. Esta obra é um libelo contra as teses defendidas, por exemplo, por Nietzsche. Para Dostoievski não existe um “super-homem” (Übermensch) que está acima do bem e do mal e para quem nada é certo ou errado a priori.
Sabemos que há estudantes e advogados que assumem esta posição criticada por Dostoievski. Lamentavelmente estas pessoas apenas representam uma personagem em sua vida. São pessoas que se acostumaram com a máscara e que já nem sabem mais distinguir a verdade da mentira. Parece que para elas o único valor absoluto – que está inclusive acima da própria família – é o dinheiro. Para estas pessoas o Ter é mais importante que o Ser.
- CAMBIAR OS VALORES
Uma segunda possibilidade aberta aos estudantes de direito é o de trocar ou cambiar os valores. Antes de discutir esta possibilidade precisamos responder a uma pergunta: Afinal vivemos em uma crise de valores? Para muitos, a resposta é um sonoro não. Vivemos em uma sociedade que escolheu trocar os valores por anti-valores. Não é uma sociedade sem valores, é uma sociedade onde os valores foram cambiados e os caminhos foram trocados. Mas se por um lado afirmamos a existência de caminhos e de posturas norteadoras do comportamento, por outro, afirmamos que estes novos “sinais indicadores” apontam para uma realidade que fragiliza o que se via como duro e desestabiliza o que se enxergava como estável. Desta forma, a justiça é trocada pela injustiça; a honestidade pela desonestidade; a solidariedade pelo individualismo, etc. e isto possui sérias consequências para o tecido social.
O último e ilustre representante da Escola de Frankfurt, J. Habermas, nos ensina que não pode existir nenhum tipo de conhecimento sem interesse. Todo conhecimento, mesmo o científico, é interessado, ou seja, é orientado por algum tipo de interesses que pode variar desde o social até o econômico. Se acreditamos que o Direito possui o status epistemológico de ciência, ele também não é um conhecimento desinteressado. Os estudantes e os operadores do direito não são neutros em suas posturas. Eles seguem e buscam seus interesses, sejam eles bons ou maus.
De Habermas aprendemos outra lição: se nosso conhecimento pode ser classificado entre “instrumental” ou “comunicativo” nossa ação também tem as mesmas condições. Assim, a ação “instrumental” seria aquela própria dos imperativos econômicos e tecnológicos, que prevalece atualmente; enquanto a ação “comunicativa” seria aquela que incentiva a comunicação social total que, depois de restaurada, permitiria o florescimento dos processos democráticos, sociais e políticos.
Que os estudantes e advogados agem motivados por interesses os mais amplos, isto já sabemos. Mas enquanto uns agem motivados pelo lucro, pela exploração do outro e pela manutenção do status quo, há aqueles que têm um compromisso com a mudança da sociedade e, portanto, se envolvem em uma educação e em uma advocacia comprometida com a justiça e com a verdade.
- RESGATAR OS VALORES
Quando resistimos à tentação de cambiar os valores pelos anti-valores de nossa sociedade estamos dando os primeiros passos na direção do resgate dos valores da tradição jurídica. Quando falamos em valores nos referimos aos fundamentos basilares morais e espirituais de nossa consciência humana. Impossível fazer esta afirmação sem lembrar das palavras de Kant: “Duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim.” Desta afirmação de Kant aprendemos que a moralidade é inerente à humanidade e que não há como destruir a moralidade social sem atingir a própria humanidade. Em segundo lugar, também de Kant aprendemos que nossos atos só são morais na medida e na proporção em que eles são fruto da reflexão, da aceitação desta argumentação e da internalização e subordinação a esta norma heterônoma.
Finalmente, se pretendemos que nossos alunos não reproduzam os anti-valores ou contra-valores que são propagados nesta sociedade onde ser honesto é quase sinônimo de se ser boboca, precisamos investir em reafirmar, reproduzir e resgatar os valores ou, como diziam os antigos, as virtudes.
CONCLUSÃO
O valor é uma virtude ou uma postura existencial que é vivida entre dois extremos, o da falta e o do excesso. Com Aristóteles aprendemos que “a virtude está no meio”, ou seja, é preciso aprender a viver equilibradamente. Mas com Cervantes aprendemos que a valentia “é uma virtude posta entre dois extremos viciosos, como são a covardia e a temeridade; porém menos mal será o valente chegar e subir ao grau do temerário que descer e chegar ao grau do covarde”. É imperativo que, nos dias de hoje, o estudante, o professor e o advogado se deixem encantar pelo louco e pelo sonhador Don Quixote, o que nos impede de aceitar como normal a injustiça e a maldade e nos desafia a sonhar por um mundo melhor e mais justo.
38. A DITADURA DA IMAGEM
Certo dia, enquanto voltava pra casa com minha esposa, discutíamos acerca da quantidade de “curtidas” que um excelente texto que havíamos lido tinha em relação à de uma imagem bastante apelativa. A situação era desproporcional. Enquanto aquele texto estava com umas doze “curtidas”, a foto já somava mais de duzentas. Diante desta realidade começamos a conversar sobre nossa sociedade, sobre os meios de comunicação e as mídias eletrônicas e sua influência nos conceitos e paradigmas das pessoas. Diante desta conversa chegamos à conclusão de que uma das maiores maldições de nossa sociedade é a superficialidade.
Quando olhamos para o “facebook”, por exemplo, é notória a superficialidade das informações. Desde aquelas que estão registradas – afinal de contas você REALMENTE NÃO TEM mais de mil amigos – até aquelas que aparecem no feed. Quando nos deslocamos para o “in Box” vemos a total incapacidade das pessoas em desenvolverem uma conversa consistente sobre qualquer tema com qualquer outra pessoa. A impressão que tenho é dupla. Primeiro, vivemos em uma realidade em que ninguém se aprofunda mais em seus relacionamentos. Tudo ocorre “virtualmente” no “ciberespaço”. Que tipo de relações pessoas assim terão no futuro? Isto me faz lembras as palavras do filósofo Walter Benjamim, que disse certa vez: “o homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado”. Por isso meus alunos de direito têm tanta dificuldade em ler os livros que sugiro.
Em segundo lugar, me lembro das palavras de Nietsche dizendo que quando você for casar procure aquela pessoa com quem você se veja conversando até a sua velhice. Confesso que já namorei uma garota que, em silêncio era uma ótima pessoa. Mas tenho que reconhecer que Deus guardou o melhor para o final. Minha esposa é uma pessoa com quem eu posso discutir desde os grandes temas de política internacional e nacional, até os tipos de aplicação que podem ser feitos na bolsa de valores. Quantas e quantas vezes nos surpreendemos ao ver que horas se passaram enquanto discutíamos as ideias de Foucault ou de Nietsche.
Meu querido leitor, se você está noivo(a) pense bem nos critérios que farão com que você case ou não com esta pessoa. Nós vivemos na sociedade da imagem, do ícone, da aparência. E eu quero lembrá-lo que “o essencial é invisível aos olhos”. Não busque apenas um par de bíceps ou pernas bonitas. Pense mais adiante. Pense mais elevado. Pense em uma pessoa que será sua companheira de toda uma vida. Pense em alguém com quem você compartilhará os melhores e piores momentos; a saúde e a doença. Mas, acima de tudo, pense em alguém que pode fazer de você uma pessoa melhor.
39. REFLEXÕES SOBRE MONTAIGNE
Ontem estava lendo um texto sobre a vida e a obra de Michel de Montaigne (1533-1592) e alguns aspectos do que ele viveu e escreveu me chamaram a atenção. Ele nasceu e cresceu no castelo de sua família, perto de Bordeaux, na França. No entanto, apesar de ter nascido em família nobre, foi enviado, com três anos para viver com uma família de pobres camponeses a fim de familiarizar-se com a vida dos trabalhadores comuns. Por outro lado, além da valorização deste conhecimento retirado da vida prática, ele recebeu uma educação tão refinada que até os seis anos só lhe era permitido falar latim em casa. O francês era, de fato, sua segunda língua.
De sua obra gostaria de destacar os seus Ensaios em 3 volumes (1580,1588, 1595). Destes, em particular o tema Da solidão, no primeiro Ensaio, me chamou a atenção. “Montaigne não salientou a importância da solidão física, mas exatamente, o desenvolvimento da capacidade de resistir à tentação de aquiescer indiferentemente às opiniões e ações das massas”.
É claro que em nossa sociedade valores como a glória e a riqueza são extremamente importante. Mas para este pensador, submeter-se a estes padrões, na realidade, nos diminuem. Não que seja essencialmente ruim ou errado ter riquezas ou receber alguma glória, mas nosso espírito precisa aprender a exercitar o desprendimento. Quando aprendemos o desprendimento podemos até mesmo desfrutar da riqueza, mas nunca seremos escravos dela nem cairemos em desgraça se a perdermos.
Diferentemente de Maquiavel que via a glória ou a fama como um objetivo digno, Montaigne acreditava serem elas verdadeiro empecilhos para a paz de espírito ou para a tranqüilidade. O cerne de seu pensamento dizia que não nos deveríamos nos prender à aprovação ou admiração alheia. Para ele, “preocupar-se demasiadamente com a opinião dos outros pode nos corromper”. Seu raciocínio é muito simples e pode ser apresentado em quatro afirmações:
- Nossa tranqüilidade depende de nosso desprendimento em relação às opiniões dos outros.
Quem se levanta pela manhã e se veste apenas para agradar os colegas de trabalho; quem se comporta de uma forma apenas para não contrariar os padrões estabelecidos; quem segue uma profissão apenas porque este é o desejo de seus pais, em suma, quem vive na busca insana de agradar os outros e de satisfazer as expectativas alheias, nunca será uma pessoa tranqüila, antes, será sempre alguém preocupado em saber se fez ou não o suficiente para agradar os outros, ainda que estes “outros” sejam seus pais ou seus filhos.
Ainda que vivamos em sociedade e que um certo comportamento social esteja coletivamente estabelecido e seja até esperado de cada um de nós, não podemos subjugar nossa consciência, nossa razão ou nosso “ego” aos padrões dos outros. É preciso assumir com tranqüilidade quem somos, o que pensamos e quais nossos gostos. Se aqueles que estão ao nosso lado são, de fato, nossos amigos, e se eles realmente nos amam, nos amarão como somos e como pensamos. Nos amarão vestindo o que vestimos e indo onde vamos; crendo no que acreditamos e vivendo da forma que vivemos.
- Se buscamos fama, que é glória aos olhos dos outros, devemos buscar sua opinião favorável.
Esta afirmação está absolutamente certa. Se estamos realmente à busca da fama e da glória – aos olhos dos outros – então será absolutamente normal se vestir da mesma forma, agir do mesmo jeito, falar com os mesmos jargões, se comportar como o grupo se comporta. Quem tem esta necessidade de ser aceito precisa assumir como seus os “valores” dessa sociedade. Precisa internalizar em si mesmo estes padrões. A busca insana pela glória, pela fama e pelo dinheiro será normal. Será normal inverter a ordem das coisas e entender que o Ter é mais importante que o Ser. Será normal amar as coisas e usar as pessoas. Será normal e compreensível aceitar a globalização da indiferença e fechar os ouvidos ao choro dos que sentem fome e sede e dos que sofrem todo tipo de injustiça. Se realmente queremos a fama e a glória acima de tudo, pagaremos este preço. Mas este é o preço de nossa despersonificação e de nossa desumanização.
- Se buscamos fama, então realmente não alcançaremos desprendimento.
O que as pessoas não conseguem entender é que quando depositamos todas as esperanças nas coisas, na fama, na glória e na riqueza, elas jamais encontrarão o desprendimento. Estas coisas sempre estarão sendo arrastadas pela vida à fora como pesos inúteis. Os objetos se tornam as coisas mais valiosas que temos. Pessoas assim são aprisionadas à futilidades à glória e à fama. Estas são as pessoas que fazem qualquer coisa para saírem nas colunas sociais. Estas pessoas se prendem às roupas de marca, aos locais badalados, às festas chiques, às conversas banais sobre a última viagem que fizeram e as últimas roupas que compraram, etc., etc. De repente, diante de uma experiência radical, descobrimos que perdemos nosso tempo com coisas inúteis e que os verdadeiros valores da vida foram abandonados.
Com pessoas como São Francisco de Assis compreendemos que a verdadeira liberdade não é encontrada no acúmulo de bens, mas no desprendimento. De fato, para ele somente se é livre quando não se tem nada. Em uma sociedade em que a religião oficial prega que o sinal da bênção de Deus na vida das pessoas se mede pelo acúmulo de bens, lembrar que Francisco apregoava que o sinal visível da bênção de Deus na vida de alguém está justamente na capacidade de abrir mão do que se tem para ajudar o próximo pode parecer estupidez.
- Logo, em nossa vida precisamos entender que a fama e a tranqüilidade nunca caminham juntas.
Esta é uma conseqüência lógica. Aquele que se joga com toda alma na busca da fama e da riqueza não pode desfrutar da tranqüilidade que a solidão conceitual traz. É preciso, a certa altura da vida, fazer uma escolha. Ou bem vivemos para agradar os outros e seguindo os anti-valores dessa sociedade consumista ou bem abrimos mão destes conceitos para viver na tranqüilidade de quem sabe ter feito a escolha certa.
No final do século XIX um pensador alemão chamado Nietzsche vai chegar a conclusões bem parecidas. Para ele a solidão é necessária não apenas para a auto-investigação, como também para nos libertar das tentações de seguirmos irrefletidamente as massas. É claro que tenho ciência de que vivemos em uma “sociedade de massa” onde todos se comportam de uma forma pré-estabelecida e padronizada. Estes padrões de comportamento são estabelecidos pela Rede Globo de Televisão na grande “nave do BBB” no na “fazenda” da TV Record. Segundo estes padrões se você não for uma mulher ou um homem dentro dos padrões de beleza global, a própria auto-estima se destrói. Quem quer seguir estes padrões não pode deixar de visitar Nova York ou abandonar seu cônjuge em casa enquanto você está no happy hour com seus amigos de trabalho. Quem quer seguir este padrão e ser aceito pelos colegas e amigos, precisa aceitar que “pular a cerca” de vez em quando é normal e que afirmar a fidelidade é o mesmo que ser manipulado.
Bom, a vida é cheia de escolhas. Na vida escolhemos o caminho que queremos trilhar. Mas para sermos íntegros ou honestos conosco mesmo, precisamos escolher se seguiremos uma vida na busca da fama ou se escolheremos a solidão de pensar diferente dos demais. O que precisamos saber é que o que somos é o resultado das escolhas que fazemos.
40. REFLEXÕES SOBRE O SHOPPING CENTER
Tenho que confessar que, se há uma coisa que eu gosto de fazer é de viajar. Já tive a oportunidade de conhecer quase todos estados brasileiros e alguns países na América Latina, África e Europa. Mas o que eu também preciso registrar é que, em todas as minhas viagens eu me aproximo mais do mercado público do que dos shopping-centers. Gostaria, então, de fazer algumas considerações sobre este lugar que ocupa um espaço tão relevante na sociedade em que vivemos.
- O Shopping é um espaço “sagrado”
Quando penso em um shopping imediatamente me vem à mente um texto instigante que li sobre o papel que ele ocupa em nossa sociedade. Este texto fazia a comparação entre o shopping e a Catedral medieval. Na Idade Média você se preparava a semana inteira e escolhia a melhor roupa para poder se encontrar com a sociedade e com Deus na igreja. Hoje, os shoppings são os espaços onde as pessoas ostentam suas roupas de grife para se encontrarem diante dos espaços sagrados (vitrine) que guarda o ícone de sua adoração, ou seja, seu “deus” – aquilo pelo que você faz qualquer coisa para ter. Afinal a Bíblia já falava de maamon como o deus do dinheiro que, segundo as Escrituras, quando assume o status de objeto de amor, se transforma na “raiz de todos os males”.
- O Shopping é um espaço padrão
Nos shoppings as lojas são as mesmas, o desenho é o mesmo, os objetos à venda são os mesmos, etc. Existe uma monótona mesmice arquitetônica em qualquer shopping que você vá, seja no Brasil ou Miami, seja em Dubai ou Hong Kong. Os mercados das cidades são diferentes tanto quanto as culturas, as iguarias e as pessoas são diferentes. Lá encontramos diversidade e riqueza dos povos.
- O Shopping é um espaço perfeito
No shopping a temperatura é constante, não oscila. O mesmo pode ser dito sobre a iluminação. Ela é preparada para que você não perceba que o tempo está passando e, desta forma, possa comprar mais. No shopping não existem becos escuros, pedintes, miséria, etc. Todas as mazelas da sociedade são proibidas no shopping. Ele é construído para ser o lugar que você deseja estar por todo o dia.
Que me desculpem os consumistas, mas cultura é fundamental. Prefiro ir a um lugar onde a cultura da cidade se revela. Neste momento aproveito para cobrar de meu amor aquela viagem que estamos para fazer faz mais de um ano, para São Luis. Ela, que já conhece a cidade, me fala dos afrescos franceses na cidade velha. Ela me fala da Praça Castro Alves, das sorveterias com sabores peculiares de bacuri e buriti, das praias com suas características próprias, etc. Mas, ela jamais me falou de visitar um shopping por lá. Realmente Deus me deu uma esposa “na medida” em tudo e que, também não se satisfaz com superficialidade e mesmice.
41. IDENTIDADE E INTERSUBJETIVIDADE
Um dos mais importantes e profundos pensadores do século XX foi o filósofo e escritor austríaco e judeu Martin Buber (1878—1965). Dentre as grandes categorias que ele utilizou estava a da intersubjetividade, esboçada na obra “Eu e Tu” de 1923.
Com esta categoria Buber queria afirmar que cada um de nós nascemos com a “capacidade de interrelacionamento com seu semelhante” o que ele chama de intersubjetividade. Na realidade, a intersubjetividade diz respeito à relação sujeito/sujeito e/ou sujeito/objeto. Para que haja relacionamento é preciso e existência de um EU e de um TU. É a interação ou interrelação destas duas instâncias que geram o diálogo, o encontro e a responsabilidade entre os dois.
Com base nas teses de Buber é que, por exemplo, o movimento ecumênico se desenvolveu. Ecumenismo não é uma sopa onde cada elemento perde sua identidade e se mistura assimilando a identidade do outro até que tenhamos uma massa disforme e sem parâmetros.
Para que haja um diálogo o primeiro elemento que precisa existir é a identidade. E quanto a isso eu sei muito bem o que sou. Sou um cristão anglicano.
Por que sou anglicano? Sou anglicano porque não sou batista, nem budista, nem católico-romano, nem espírita, nem islâmico, nem judeu, nem pentecostal, nem quaker (e fiz questão de colocar em ordem alfabética os exemplos para não privilegiar ninguém).
Sou anglicano porque sendo anglicano posso entender que em cada uma dessas tradições religiosas há elementos importantes, significativos, relevantes, etc., mas que nem por isso preciso abrir mão de minha identidade para ser o “outro”. Aliás, o que Buber afirmava era justamente isso: só existe o “Eu” se existe o “Outro”.
Lamentavelmente, há quem não entenda isso e ache que ser anglicano é fazer um caldo religioso que reúne tudo em algo disforme e sem idenntidade. Não é bem assim.
O anglicanismo TEM identidade e esta identidade se expressa em primeiro lugar na sua liturgia (lex crendi lex orandi). E em nossa liturgia citamos o Credo Apostólico e Niceno, adoramos a Jesus como nosso Deus e invocamos o Espírito Santo como terceira pessoa da trindade.
A identidade anglicana também tem limites no que chamamamos de Quadrilátero de Lambeth. Isto significa que afirmamos que as Escrituras são Palavra de Deus; afirmamos que os Credos Apostólico e Niceno como confissão de nossa fé; afirmamos os sacramentos do Batismo e da Eucaristia como instituídos por Cristo e, finalmente, afirmamos que somos uma igreja EPISCOPAL e não um amontoado de comunidades formando um sistema congregacionalista.
O anglicanismo tem identidade e ela foi plasmada em sua história. Por isso preservamos elementos da tradição celta, da tradição romana e da tradição reformada. Mas por isso, e justamente por isso, acreditamos que “Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est”. Não somos uma igreja com uma teologia acabada e terminada, mas somos uma igreja cuja identidade é bem formada e desenvolvida.
Sou anglicano, finalmente, porque além de uma credenda o anglicanismo tem uma agenda marcada pela inclusividade e pela compreensividade. Mas nem uma coisa nem outra significa que ela é uma instituição sem limites. Quando falamos em inclusividade queremos dizer que estamos abertos a aprender e a crescer dentro dos parâmetros que já foram apresentados; quando falamos em compreensividade estamos dizendo que estamos dispostos a compreender as limitações e as peculiaridades do “outro”. Mas não se pode abrir mão do tripé Escritura/Razão/Tradição na construção de uma teologia anglicana.
Quem procura o anglicanismo porque se identifica com seu ethos e sua identidade deve se sentir, como eu me sinto, “em casa”. Mas quem o procura apenas para ter um “guarda chuva institucional” com a credibilidade de uma instituição milenar como tem a Igreja Anglicana, está absolutamente equivocado e se enganando a si mesmo.
Por isso, no anglicanismo também podemos amar, porque Deus é amor. Mas lembrando que segundo Paulo, devemos seguir a “verdade em amor”. O verdadeiro amor nos foi dado por Deus que se deu a nós e perdoa nossos pecados. O amor, não é arrogante, o amor não busca seus próprios interesses e nem se comporta inconvenientemente.
Acho que de uma perspectiva epistemológica é preciso fazer uma diferença entre uma religião e um sentimento. Religião é uma instituição humana, com data de nascimento e com uma doutrina formada. Amor é um sentimento que nasce e que morre; que pode ser desenvolvido ou não; que pode ser dirigido a uma pessoa ou a várias; mas que precisa ser regado e pregado dentro da religião, afinal, penso que o verdadeiro amor deve produzir a tolerância. Ou, como dizia Voltaire “Não estou de acordo com tuas ideias, mas defendo teu sagrado direito a expressá-las”. Ser anglicano é ter identidade sim, mas também é ser tolerante com o “outro”.
42. NIETZSCHE E A HISTÓRIA
Quando nos propomos a entender a visão nietzschiana da história temos que compreender que ele se refere à historie, ou seja, à uma teoria, representação ou interpretações feitas acerca da história. Ela difere de geschichte, que aponta mais para os fatos que constituem a história. Desta forma, citando Goethe, Nietzsche diz: “odeio tudo aquilo que somente me instrui sem aumentar ou estimular diretamente minha criatividade” (GOETHE, In NIETZSCHE, 2015, p. 47). De fato, pare ele, deveríamos odiar qualquer espécie de instrução que não estimulasse a vida e fosse apenas um acúmulo de informações supérfluas.
Ele sabe que o rebanho “não sabe o que significa nem o ontem nem o hoje; ele pula, pasta, repousa, digere, pula novamente, e assim de manhã à noite, dia após dia” vive sem conhecer nem a melancolia nem a tristeza.
Quantos homens não gostariam de viver assim, como um animal, sem tristeza e sem sofrimento. Ou pelo menos sem a lembrança disso. O animal vive uma vida a-histórica já que para ele só existe o presente. O homem, ao contrário, tem que carregar o peso de seu passado que o esmaga e o faz curvar, e que se revela como um fardo tenebroso que entrava sua marcha. Ele pode até negar o que ocorreu, procurando um paraíso perdido, quem sabe lembrando de quando era criança e não conhecia o passado.
Chegará o momento em que ele aprenderá o sentido da palavra “foi” ou “era” como em “era uma vez”. Neste momento ele compreenderá que “toda a existência é uma eterna incompletude. Quando enfim, a morte trouxer o esquecimento desejado, ela suprimirá também o presente e a existência, selando assim essa verdade, de que ‘ser’ (Dasein) não é senão um ininterrupto ‘ter sido’, uma coisa que vive de se negar e de se consumir, de se contradizer a si própria” (NIETZSCHE, 2015, p. 50).
Mas a felicidade é possível. Ou pelo menos alguma felicidade. É preciso, para tanto ter a capacidade de viver no limiar do instante, ou seja, esquecendo todo o passado. Um homem, diz Nietzsche que não possui força suficiente para esquecer e que se sente condenado a ver em tudo um devir, não acreditaria em sua própria existência nem estaria mais em si, e sim diluído numa multidão de pontos móveis. Precisamos entender que “Toda ação exige esquecimento, assim como toda vida orgânica exige não somente a luz, mas também a escuridão” (NIETZSCHE, 2015, p. 50).
Para tanto temos que aprender a assimilar as coisas passadas, curar nossas feridas, reparar nossas perdas e reconstituir com, com nossas próprias forças, o que foi destruído. Quanto mais a natureza profunda de um indivíduo possua raízes vigorosas, diz Nietzsche (2015, p. 51) “maior será a parte do passado que ele poderá assimilar ou acolher”. O indivíduo com uma natureza mais forte e formidável é aquele apto a abolir o limite para além do qual o sentido histórico seria, para ele, usurpador ou nocivo. “Ele poderia atrair para si e se apropriar de qualquer acontecimento passado…, e, por assim dizer, transformá-lo-ia em seu próprio sangue” (NIETZSCHE, 2015, p. 51).
Para nosso pensador, existe uma lei geral segundo a qual ninguém pode ser sadio, forte e fecundo senão dentro de um horizonte determinado. Em outras palavras, quando nos ensimesmamos sem sermos capazes de olhar para além, para um horizonte, para o diferente, para o estranho, para o limite da nossa visão, nos tornamos egocêntricos e acostumados com a apatia que é o prenúncio da morte. Eis a explicação da metáfora da luz e da escuridão para a vida: “o elemento histórico e o elemento a-histórico (unhistorisch) são igualmente necessários à saúde de um indivíduo, de um povo, de uma cultura” (NIETZSCHE, 2015, p. 52).
No que tange a este aspecto a-histórico, diz Nietzsche que ele é próprio do animal que, embora reduzido em sua visão, a um só ponto, vive uma certa felicidade. Mas a ausência desse sentido histórico se assemelha à atmosfera sem a qual a vida seria impossível. De fato, “só quando o homem pensa, medita, compara, separa, aproxima, é que ele pode delimitar este momento a-histórico, […] é somente aí que ele é forte o bastante para utilizar o passado em benefício da vida e para refazer a história com os acontecimentos antigos, é somente aí que o homem se torna homem” (NIETZSCHE, 2015, p. 52).
Paradoxalmente, esse estado absolutamente a-histórico não apenas é responsável pelas ações injustas, mas também por todos os atos de justiça. Assim como o homem de ação, afirma Nietzsche (2015, p. 53) citando Goethe, “despojado de escrúpulos, da mesma maneira ele é também privado de consciência, esquece tudo exceto a coisa que quer fazer, é injusto para com aquele que o precede e não conhece senão um direito, o direito daquele que vai agora nascer. Além disso, todo homem de ação ama o seu ato infinitamente mais do que ele merece”.
Quem é capaz de respirar essa atmosfera a-histórica, talvez pudesse alcançar o ponto de vista supra-histórico (über-historischen) que seria o produto dos estudos da história. Desta forma, a história, compreendida em toda sua extensão, serviria, para ele, pelo menos para uma coisa: “para nos convencer de que mesmo os espíritos mais poderosos e mais elevados de nossa espécie humana ignoram com que acaso o seu olhar captou a estrutura particular que comanda a sua visão, que gostariam de impor à força […] a todos os seus semelhantes” (NIETZSCHE, 2015, p. 54). Mas, como nem todos compreendem essa verdade eles acabam se deixando subjugar pela idéia de um espírito que a tudo dirigiria e que nos curaria da tentação de tomar a história nas mãos e que nos daria todas as respostas e todos os “porquês” e “como” da existência. Com estas palavras ele está, obviamente fazendo uma severa crítica à visão hegeliana da história.
Com Nietzsche aprendemos que, contrariamente ao que ensinava Hegel, não existe um sentido necessário ou inevitável na história. Não estamos aprisionados a um destino. Muito ao revés desta teoria conformista, a história é feita de vários caminhos, decisões e acasos. Ela não é uma ciência que estuda fatos mortos e gestos previsíveis e regulares, mas antes, uma ciência da invenção do homem, da sociedade e da cultura. Estudamos história para construir um futuro que nos está aberto e que não seja apenas uma repetição do que já foi.
Referência bibliográfica
NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre história. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2015
43. REFLEXÕES SOBRE A FAMA E A TRANQUILIDADE
Michel de Montaigne (1533-1592) foi um filósofo renascentista e pensador humanista francês que escreveu sérias críticas aos pensadores de sua época e que estão sendo hoje redescobertas e aplicadas também aos filósofos hodiernos. Isso ocorria porque ao invés de se basear, como seus contemporâneos, em Aristóteles ou Platão, ele preferia fundamentar-se em Pirro e nos céticos.
Conforme explica Battista Mondin, “Vivendo em uma época ensangüentada pelas lutas políticas e religiosas, [ele] manteve-se afastado daquele turbilhão de paixões e encontrou na vida interior um refúgio de paz e liberdade. Deste retiro pôde observar o espetáculo da vida humana com a frieza do sábio, isto é, livre de todo temor e de toda paixão, e com a indulgência benévola que tudo compreende e que com nada se surpreende” (MONDIN, 1982, p. 19).
De fato, sua importância reside no fato de que ele, como nós, estava em um momento de mudança epocal, saindo do Medievo para a Idade Moderna, enquanto nós estamos deixando a modernidade pela pós-modernidade.
Dentre suas famosas teses, citamos seu pensamento segundo o qual a racionalidade é apenas uma forma de comportamento animalesco. Conforme afirma Thomas Giles (1993, p. 228), ele acreditava que “Apesar da sua suposta superioridade […] os homens se mostram vãos, estúpidos e imorais, inferiores aos animais. […] A falta de acordo entre os supostos sábios através dos séculos leva à conclusão de que o único verdadeiro princípio que possuem e a única esperança de entrarem em contato com a realidade é através da revelação divina”. Em resumo, a razão não é um espaço tão seguro assim para se caminhar. Esta também foi a conclusão que chegamos ao final do século XX. Tanta inteligência e racionalidade! Mas, ao mesmo tempo, tanta miséria e animalidade!
Outra crítica, sobre a qual nos deteremos mais atentamente pode ser encontrada no primeiro volume dos seus Ensaios. Ali ele escreveu uma importante reflexão acerca da solidão. Nesta reflexão ele procura apresentar tanto os perigos – sejam eles morais ou intelectuais, como também o valor da solidão. De fato ele não tratou exatamente da importância de se viver sem a presença das pessoas, mas da importância de desenvolvermos a capacidade de resistir “a tentação de aquiescer indiferentemente às opiniões e ações das massas” (VARIOS, 2011, p. 108).
Ele foi extremamente feliz quando relacionou nosso desejo de sermos aceitos e aprovados pelos colegas e amigos ao desejo de obter posses e riquezas. Para ele, estas duas paixões nos diminuem, no entanto, nosso tratamento para com elas deve ser não o de renúncia, mas de desprendimento. Quando formos capazes de assumir tal condição poderemos até desfrutar delas, mas jamais ficaremos emocionalmente escravizados por elas nem nos sentiremos arruinados caso percamos amigos ou riquezas.
Em seu texto Da solidão, Montaigne procura demonstrar que “nosso desejo de aprovação pela massa está ligada à busca pela glória ou fama” (VARIOS, 2011, p. 108). Nisto é obvio que ele discorda de Nicolau Maquiavel (1469-1527), que identificava na glória do Príncipe um objetivo digno. Assumindo uma postura diametralmente oposta Montaigne acreditava firmemente que a busca constante pela fama e pela glória é a maior causa para a falta da paz de espírito e da tranquilidade. Entendamos, ele nada tinha contra a glória; sua luta era contra o desejo de se ter glória aos olhos dos outros. Ou seja, para ele não devemos tanto dar valor à aprovação ou à admiração alheias. De fato, para ele, “preocupar-se demasiadamente com a opinião dos outros pode nos corromper, porque acabamos imitando aqueles que são maus ou ficando tão consumidos pelo ódio contra eles que perderemos a razão” (VARIOS, 2011, p. 109).
Sua postura acerca desse assunto é tão contundente que ele chegou a dizer que (Ibid, 2011, p, 109) encorajar homens de Estado ou líderes políticos a valorizar a glória acima de tudo – como fazia Maquiavel – apenas os faria compreender que nenhum esforço é necessário a menos que exista um público que manifeste aprovação e que esteja ávido por testemunhar a grandeza de suas realizações.
Em resumo, para Montaigne, a tranquilidade depende do seu desprendimento no que tange às opiniões dos outros. Ora, se queremos fama – que é a glória aos olhos alheios – devemos buscar sempre a opinião favorável das pessoas. No entanto, se buscarmos a fama não alcançaremos o desprendimento. Logo, a fama e a tranquilidade nunca podem andar juntas.
Para o teatrólogo inglês Shakespeare (1564-1616), no primeiro ato de Henrique VI, “A glória é como um círculo na água/ Que nunca deixa de aumentar,/ Até que, por força do seu próprio crescimento/ Se dispersa em nada”. Há que se escolher entre a tranquilidade e a fama. As duas não conseguem conviver em paz. Também hoje nossos estadistas e políticos deveriam atentar para o que disse este ilustre pensador. Mas não apenas eles. Eu e você precisamos fazer essa escolha também.
Referências Bibliográficas
GILES, Thomas. Dicionário de filosofia. São Paulo: EPU,1993.
MONDIN, Battista. Curso de filosofia Vol 2. São Paulo: Paulus, 1982.
VARIOS. O livro da filosofia. São Paulo: Globo, 2011.
44. O OCASO DE UMA ESTRELA
Minha relação com o PT surgiu em 1988 quando me filiei e passei a fundar Comitês religiosos para a campanha presidencial daquele ano por todo o Rio Grande do Norte. Como muitos jovens com a minha idade eu também cantei o “Lula lá” e até participei do último comício da campanha.
Minha relação com o PT foi fruto das leituras das obras e das conversas com meu amigo o então reverendo Robinson Cavalcanti. Minha atuação política continuou com meu engajamento nas campanhas municipais e majoritárias nos anos que se seguiram. De fato, não me sentia desconfortável no PT, afinal na origem do partido era possível encontrar a tríade formada pelos os religiosos, os sindicalistas e os intelectuais de esquerda.
Mas desde meu primeiro minuto de filiação eu tinha ciência de que, por causa das minhas leituras de Francis Schaeffer, o cristão não faz “alianças” com as estruturas da sociedade. Nossa relação é de “co-beligerância”, ou seja, combatemos juntos os mesmos inimigos, mas não submeto meus valores ou minha razão aos projetos de poder de partido algum. Esta lição também me fora passada por Dietrich Bonhoeffer.
E eis que Lula, finalmente é eleito Presidente do Brasil. Lembro de minha emoção ao vê-lo ser diplomado pelo STE e de ouvi-lo dizer que esse era o único diploma que ele tinha. Afinal ver um metalúrgico chegar à condição de Presidente do Brasil era algo extraordinário.
Mas lamentavelmente, embora o governo Lula tenha sido responsável pela criação de tantas Universidades pelo Brasil afora, ele também foi o responsável pela manutenção de um esquema torpe e imoral oriundo do governo anterior chamado de velerioduto ou mensalão e denunciado pelo deputado Roberto Jefferson.
Que tristeza a minha ver aquele que prometia as grandes reformas estruturais de nosso país agora envolvido em um escândalo tão grotesco. E pior, ele sempre disse que “não sabia”, como se ele fosse um autista ou um boneco manipulado por José Dirceu. Não deu pra engolir. Concordo com Frei Betto quando ele diz: “Não é fácil ser de esquerda em um mundo tão sedutor quanto o do capitalismo neoliberal. Daí o problema do PT, que foi perdendo o horizonte histórico de um projeto Brasil e trocando-o pelo horizonte imediato de um projeto de poder” (CULT, 201, p. 23).
O pior é que tudo começou bem cedo. Com a chamada “Carta aos Brasileiros”, em 2002, o PT faz a opção de assegurar a governabilidade por meio do mercado e do Congresso e não por meio dos movimentos sociais, religiosos (CEBs) e sindicais, que foram responsáveis por sua eleição, mas que foram abandonados por ele. Ao fazer isso tornou-se refém tanto do mercado quanto do Congresso. Ele entrava no rol daqueles que, para obterem algum benefício entre os congressistas, precisavam oferecer algo em troca. Em resumo, tudo voltou a ser como era antes.
As grandes e prometidas reformas estruturais (política, tributária, agrária) foram deixadas de lado. O maior exemplo das mudanças ocorridas no governo Lula foi o programa Fome Zero. Como afirma Frei Betto: “Quando Lula foi eleito e me convidou para o Fome Zero, achei que o trabalho com os mais pobres entre os pobres – os famintos – se enquadrava em minha perspectiva pastoral […] de repente o governo matou o Fome Zero para substituí-lo pelo Bolsa Família. Tive então a certeza de que essa opção contrariava tudo aquilo que o PT vinha pregando desde a sua fundação. O Fome Zero era um programa emancipador, o Bolsa Família é compensatório” (CULT, 201, p. 23, 24). Onde estava a grande diferença entre os dois? No Fome Zero havia uma coordenação feita por um comitê gestor municipal, ou seja, havia participação popular na gestão do programa; não havia como manipular o dinheiro para se fazer algum tipo de jogo eleitoreiro. Eis que ele mexeria na estrutura do poder. Mas ele foi boicotado pelos prefeitos que queriam que esse dinheiro passasse por eles. Eles então pressionaram a Casa Civil e, em seguida, o próprio Lula. Resultado o programa naufragou.
Também faço minha uma outra crítica feita por Frei Betto quando afirma que, contrariamente ao que ocorreu na Europa no início do século XX, Lula primeiro facilitou o acesso do povo aos bens pessoais e não aos bens sociais. Ou seja, enquanto a Europa “primeiro deu acesso a educação, moradia, transporte e saúde, para então as pessoas chegarem aos bens pessoais” (CULT, 201, p. 24), por aqui ocorreu o contrário. Em qualquer favela você pode encontrar gente com TV de led, geladeira, microondas, computador, etc., mas continuam sem uma educação de qualidade, sem saneamento, sem saúde e sem segurança. Mas o que importava é que as pessoas estivessem consumindo e fazendo o dinheiro girar. A inclusão econômica do governo Lula foi feita com base no consumismo e não em mudanças estruturais. Quando o Estado sobe a favela é pra levar uma Base Policial e não escola, cultura, esporte, saneamento ou saúde.
Agora, no início do segundo mandato de Dilma Roousseff, ocorre o inevitável. Os preços da gasolina, da água, da energia elétrica, do pão, a própria inflação em si, que estavam sendo mantidos artificialmente baixos às expensas dos próprios organismos estatais que administram o mercado, e que foram objeto de promessas durante a campanha da reeleição, agora disparam. Como não sentir que o Brasil foi vítima de um estelionato eleitoral?
E é por causa de minha razão e de meu compromisso com valores como verdade, justiça social, solidariedade, fraternidade, que são valores do Reino de Deus que não posso me calar ante ao caos que assisto diuturnamente vendo, por exemplo, a Petrobras ser descaradamente roubada por um grupo de empreiteiras sem que a então Ministra das Minas e Energias, também não soubesse de nada.
Parece que no PT de hoje ninguém sabe coisa alguma. Mas sabem receber doações milionárias para campanhas eleitorais sem, contudo, (é claro) prometer nada em troca. Não tenho mais a idade que tinha quando me envolvi na minha primeira campanha eleitoral para presidente. Mas também não tenho mais idade de ser ludibriado por um partido que prometeu mudanças e que nos deu mais do mesmo, taxando aposentados e agora procurando flexibilizar os direitos dos trabalhadores.
Minha última esperança é que o STF puna exemplarmente estes novos e insignes membros de nossa sociedade (deputados, senadores, empreiteiros, etc.) envolvidos no lavajato já que do mensalão somente os peixes pequenos continuam na cadeia. Os demais estão em casa aproveitando o dinheiro que amealharam por todo esse tempo. Com mais um Ministro do STF indicado pelo PT será que isso ocorrerá? Quem viver verá. A única coisa certa é que a estrela do PT apagou.
45. A DUALIDADE DAS MÁSCARAS
Certa vez Erick Zeidan escreveu: “Todos usam máscaras. Eu, uso de um palhaço. Mostro sempre uma falsa felicidade mas por dentro, verdadeira tristeza. Minha alegria sai com água”. Conforme escreveu o pensador romano Boécio (480-525) a palavra pessoa “vem de personar, porque devido à concavidade, necessariamente o som se torna mais intenso. Os gregos chamam essas pessoas de prosopa, já que se põe sobre a face e diante dos olhos para ocultar o rosto”. Ou seja, ele recorre à palavra grega prósôpon, que indicava a máscara usada pelos atores gregos para encobrir o rosto e assumir uma personagem.
Pelo que vemos, a nossa noção de pessoa está associada à utilização de uma máscara. No entanto, a máscara possui uma dupla finalidade. A primeira finalidade das máscaras está em proteger seus usuários. Quem está por trás das máscaras está protegido para dizer a verdade e revelar, sem medo de represaria, o que sabe ou o que testemunhou. Esse é o sentido das ligações anônimas usadas pela polícia para denunciar criminosos, mantendo o sigilo da identidade do denunciante. De fato alguém já disse: “Dê-lhe uma máscara e ela se revelará”.
Há, no entanto, uma outra forma de olhar para as máscaras. Elas podem ser vistas como uma forma de escamoteamento ou de encobrimento daquilo que não queremos que as pessoas vejam. Por isso quem usa uma prósôpon, ou uma máscara, não apenas pode encobrir quem de fato é como pode assumir uma outra personalidade. Neste segundo pensamento, também usamos máscaras, mas elas, ao invés de servirem de instrumentos que revelam a verdade, serviriam para encobri-la. Na Grécia antiga quem usavam máscaras eram os atores, ou seja, os hipocritês (ὑποκριτής), ou, aquele que representa um papel, de onde vem a palavra “hipócrita”. Neste sentido, quem usa uma máscara o faz para que as pessoas não saibam quem de fato ela é.
Há pessoas que se sentam em um restaurante caro, pedem um laudo banquete regado a um fino champagne e, no entanto, mal têm dinheiro para pagar as contas mais comezinhas. Para estas pessoas o importante não é “ser”, e sim “parecer” ser. E essas máscaras são maiormente vistas nas redes sociais, ou, como bem poderiam ser chamadas, redes de aparências.
Que todas as pessoas usam máscaras, disso já sabemos. Algumas são do primeiro tipo outras do segundo. A grande questão é: que tipo de máscara você usa? Ou para sermos mais adequados na pergunta: que tipo de pessoa você é? A resposta só você pode dar.
46. AS LIÇÕES DE GRAMSCI
Antônio Gramsci (1891-1937) figura entre os principais filósofos e políticos do século XX. Italiano de nascimento acabou por se tornar um dos mais originais e significativos intelectuais marxistas de todos os tempos. Sua influência, não obstante, não se limitou à política, mas adentrou também a seara da teoria literária, dos estudos culturais e das relações internacionais.
Nascido na miséria que caracterizavam as regiões rurais no fim do século XIX encontrou na educação seu instrumento de guinada na sua vida. Divergindo claramente da tese do Determinismo Histórico – do marxismo ortodoxo, ele realçava a práxis (conexão entre teoria e prática) “e a crença na ação, na perspicácia e na expontaneidade do proletariado na criação de sua própria história” (ROHMANN, 2000, p. 184).
Quem define bem a problemática filosófica de Gramsci é Batista Mondin ao afirmar que a sua principal preocupação de uma perspectiva filosófica seria encontrar uma solução para os dilemas surgidos entre o pensamento e o ser, ou seja, que evitasse o dualismo entre: “o idealismo e o materialismo mecanicista. […] é necessário evitar o primeiro porque nele a criatividade do conhecer é entendida de modo solipsista, no sentido de que é o pensamento que cria o mundo externo. E é necessário evitar o segundo porque ele não reconhece o caráter criativo do conhecer, entendendo-o apenas como reflexo do mundo externo ou, quando muito, como coordenador dos elementos do conhecimento que procedem daquele reflexo” (MONDIN, 1983, p. 234). Ora ele claramente critica a noção simplista do materialismo ingênuo segundo o qual o conhecimento seria apenas uma concepção passiva onde se conhece apenas o reflexo da realidade. Ele também rejeitava as leituras positivistas e mecanicistas da ortodoxia marxista que no fundo, negligenciavam o papel da consciência e da cultura na determinação da ação social. De igual forma, ele também não acreditava na tese da “base econômica da sociedade” enquanto elemento determinante de toda ação social. Para ele “a superestrutura da sociedade civil – o conjunto das instituições econômicas, culturais e sociais construído sobre essa base – é a arena onde as relações sociais se formam e se realizam” (ROHMANN, 2000, p. 184).
Gramsci participou ativamente, em Turim, de conselhos militantes de trabalhadores, ajudando, inclusive a organizar a guerra geral revolucionária de 1920, liderando a bancada comunista do parlamento até que em 1926 fora preso por Mussolini. É fato que “ao expor os desequilíbrios entre o norte industrializado e o sul rural na Itália, identificou que a luta para acabar com a dominação da classe dominante era uma batalha tanto cultural quanto revolucionária” (VÁRIOS, 2013, p. 259).
Na cadeia, de onde jamais sairia, escreveu os famosos Cadernos da prisão. Além desse texto, outras obras póstumas são: Notas sobre Maquiavel, sobre a política e sobre o Estado moderno (1948), Os intelectuais e a organização da cultura (1948), Literatura e vida nacional (1948), O materialismo histórico e a filosofia de Benedetto Croce (1948).
Como parte de suas concepções teóricas ele “tanto rejeita o idealismo pela sua dimensão solipsista, dado que cria o mundo exterior, e o materialismo, porque nega o caráter criativo do conhecer” (MASIP, 2001, p. 351). De seu pensamento destacaremos dois elementos fundamentais: a noção de hegemonia e a de intelectual orgânico. Quando ele fala em hegemonia está querendo dizer que “na sociedade industrial moderna o controle não é exercido pela força bruta, mas pela manipulação sutil com que a classe dominante conquista a aceitação da sua ideologia por intermédio das normas e das instituições da sociedade burguesa” (ROHMANN, 2000, p. 184). Para ele naquela arena onde se formam as relações sociais, haveria uma “guerra de posição” liderada pelos socialistas revolucionários contra a hegemonia burguesa e envolvendo todos os níveis do poder social e político. A práxis revolucionária transformaria o trabalho, a política e a vida cotidiana. Procurando definir a noção de hegemonia, Severo Hryniewicz afirma que “numa sociedade dividida em classes, para que uma das classes se torne a força motriz da história, isto é, conduza a sociedade inteira, é preciso que tal classe desenvolva uma consciência crítica de sua situação, que atinja um elevado nível moral e intelectual e, com isso, torne-se capaz de mobilizar a sociedade como um todo. A hegemonia de uma classe depende da capacidade de propor soluções, abre espaço para a ascensão de uma outra classe potencialmente hegemônica” (HRYNIEWICZ, 2006, p. 508).
O segundo elemento do pensamento gramsciano que queremos destacar é o papel do intelectual orgânico. Para ele o “intelectual orgânico” é aquele indivíduo que é capaz de organizar as massas e torná-las independentes e distinta daquelas que são manipuladas pela ideologia dominante. Este intelectual pode advir dos mais diversos setores da população. Isto significa que este profissional pode ser desde o professor, o assistente social, o médico sanitarista ou até mesmo o padre. O que importa é que o intelectual orgânico é alguém marcado com seu compromisso com as classes subalternas. Como já dissemos, ele acreditava que os intelectuais poderiam existir em todos os níveis da sociedade, e não apenas na elite tradicional “e que o desenvolvimento dessa capacidade na classe trabalhadora era necessário para o sucesso de qualquer tentativa de se contrapor à hegemonia das classes dominantes” (VARIOS, 2013, p. 259).
Pensando na Igreja, por exemplo. Os sacerdotes tanto podem ser indivíduos comprometidos com a ideologia e a classe dominante, administrando dominicalmente – em drágeas – os fármacos necessários para impedir o esclarecimento do povo e analgesiando sua dor, ou pode usar seu púlpito para anunciar que, como dizia o reverendo João Dias de Araújo em seu famoso Hino: “aos homens ricos eu vou pregar, aos poderosos vou proclamar, que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus”. Desta forma estamos, sim, afirmando que os sacerdotes assumem – quer queiram quer não – um papel político em seu ministério. Este papel ou bem será o de manter o statos quo ou de transformá-lo segundo os valores da justiça e da retidão do Reino de Deus.
47. NASCIMENTO E MORTE DO SUJEITO
Quando pensamos em sujeito, logo muitas ideias nos vêm à mente. Em seu Léxico de metafísica, MOLINARO (2000, p. 120, 121) descreve o sujeito como “a determinação do ente em si ou, em geral, como em si e por si – referência ao hypokeímenon, que em latim se torna subjectum, ‘sujeito’, e à substância -; ou mais particularmente como ente que sente, que é pensante e volante”. Em um primeiro momento da história da filosofia, o sujeito era apenas um dos modos da substância. Desta forma, para Aristóteles, em sua Metafísica VII,3,1028b 36, sujeito “é aquilo de que se pode dizer qualquer coisa, mas que por sua vez não pode ser dito de nada”. O que importa nessa definição de Aristóteles, diz Abbagnano, “é o sentido geral do termo: s. é o objeto real ao qual são inerentes ou ao qual se referem as determinações predicáveis (qualidade, quantidade, etc.)” (ABBAGNANO, 2000, p. 930). Assim sendo, o sujeito é o mesmo que a substância, ou seja, o ser real que pensa. Em resumo, seguindo a orientação grega, o pensamento filosófico está interessado em explicar os elementos da natureza ou da physis. Ademais, neste primeiro momento o tema da sujeito é abordado de uma perspectiva eminentemente metafísica.
Com o surgimento da modernidade, contudo, podemos ver florescer um outro olhar. Um olhar a partir da perspectiva da epistemologia ou da teoria do conhecimento. Nesta nova abordagem vemos que o sujeito é o “espírito cognoscente” que se opõe ao objeto conhecido. Neste momento o indivíduo “ganha consciência de sua subjetividade essencial. Entre a realidade e o conhecimento está o sujeito. Este passa a ser o motivo de suas preocupações” (SOUZA, acessado em 20 de maio de 2015). Russ chega a afirmar que em Descartes o cogito é “sinônimo da consciência de si mesmo do sujeito pensante” (RUSS, 1994, p. 40).
Quem primeiro popularizou esta concepção dualista da realidade foi o filósofo francês René Descartes (1596-1650) que, segundo Stephen Law, “A partir do fato de que tinha acesso direto à sua mente consciente, mesmo que pudesse duvidar de qualquer coisa física, Descartes foi levado a supor que sua essência consistia em ser uma coisa puramente pensante. Embora uma substância distinta, esse eu imaterial está para Descartes intimamente unido ao corpo físico, pelo menos enquanto este vive. E, enquanto o mundo físico, inclusive o corpo, é matematicamente descritível e segue leis físicas precisas, o mundo da mente é livre para seguir os próprios pensamentos” (LAW, 2008, p. 279). Ora, o que podemos inferir dessa perícope é que o ilustre pensador francês inicia seu dualismo pelo próprio ser, dividindo-o em corpo e alma.
Uma segunda modalidade de dualismo também pode ser vista nele. Enquanto os gregos viam o conhecimento como desvelamento ou contemplação da verdade, ou seja, deixar que a vida fale por si mesma, para os modernos, desde Descartes, o conhecimento se dá como representação. Em outras palavras, só se pode conhecer em uma relação entre o sujeito que conhece (ens cogitans – ser cognoscente) e o objeto (res estensa – coisa cogniscível). O conhecimento surge da relação na qual o sujeito projeta suas estruturas no objeto para capturar suas propriedades e características. É neste momento que a noção de sujeito se torna fundamental. O sujeito que pensa, logo existe, dá fundamento a uma crença de que a verdade existe, de que ela é possível de ser conhecida em sua totalidade de forma clara e distinta e de que existe um método para que isso ocorra. O sujeito, no mundo moderno, está de posse do puro intelecto.
Immanuel Kant (1724-1804) fortalece a ideia de conhecimento como representação à medida em que, cito mais uma vez Souza, o “real não é algo externo ao indivíduo, mas este o produz no interior de si mesmo. Somos nós que através de certas faculdades apriori (estabelecidos independentes da experiência) organizamos e damos sentido e coerência ao real. O conhecimento surge como representação. A razão seria essa capacidade que o ser humano tem, partindo de princípios apriori, representar e conhecer o mundo. Em consequência disso, na teoria kantiana a razão torna-se o núcleo do sujeito moderno” (SOUZA, acessado em 20 de maio de 2015) (sic). Embora essa representação ocorra dentro do sujeito, ela ainda é uma imagem do que está fora dele. Kant, portanto, começa a compreender que entre o puro sujeito que observa e o puro objeto que é observado, existe a mediação dos sentidos, por meio dos quais conhecemos a representação das coisas.
Quem primeiro ameaçou abertamente essa noção de sujeito foi Karl Max (1818-1883) ao afirmar em sua tese sobre o materialismo histórico que o sujeito é determinado por aquilo que ele faz, ou seja, ele é determinado pelo seu ser social. Desta forma, para Marx, quando examinamos a forma como os homens produzem os bens necessários à vida, compreendemos como eles pensam, como é sua moral, sua religião e sua filosofia. Em outras palavras, somente pela sua práxis teremos acesso ao sujeito.
O segundo pensador a contribuir para a destruição da noção metafísica de sujeito foi Nietzsche (1844-1900). Assim como Marx, ele também desconstrói a noção cartesiana de sujeito. Para ele o sujeito emerge de uma genealogia por meio de uma relações de poder, através de um turbilhão de forças que o atinge. O sujeito, desta forma, é o terreno dos acontecimentos históricos, das contradições, das relações de força e poder. Por meio do conceito de genealogia o sujeito é concebido enquanto ser no mundo, visível por meio de seu corpo e o resultado dos conflitos de forças. Nesta perspectiva a noção de um “eu” fixo e estável já não tem sentido, vez que as qualidades do homem não são fixas.
O próximo “filósofo da suspeita” é Freud (1856-1939) que deflagrou um golpe decisivo no narcisismo humano. Para ele, o homem é um ser dominado por impulsos irracionais inconscientes. Longe de sermos sujeitos autônomos e racionais, não somos sequer donos de nossa “própria casa”. Assim, o sujeito não é um ser da consciência ou da razão, mas da inconsciência e da desrazão e governado por uma vontade cega, irracional e destituída de sentido e finalidade.
Um outro filósofo de extrema importância na desconstrução do sujeito iluminista foi Michel Foucault (1926-1984). Para ele os seres humanos só se tornam sujeitos dentro da cultura e em uma história peculiar. Resgatando a genealogia nietzschiana, Foucault passa a estudar a história das instituições disciplinares modernas e elabora a constituição do sujeito a partir das formas de discursos e das relações de poder. Foucault entende que a partir do século XVII, por meio de análise de problemas jurídicos, judiciários e penais, surgem conhecimentos como a sociologia, a psicopatologia, a criminologia e a psicanálise. E é por meio dessas práticas de controle (pe. O modelo panóptico de prisão), modificadas no transcorrer da história, que “definiram-se tipos de subjetividade, individualidade e técnicas de esquadrinhamento disciplinar, que tornaram o corpo do indivíduo útil à produtividade. Isso significa que o sujeito moderno dócil, serviçal, trabalhador e responsável se constitui através de práticas disciplinares em instituições de controle como o hospital, a prisão, a fábrica e a escola” (SOUZA, acessado em 20 de maio de 2015).
Para os representantes da chamada Escola de Frankfurt o indivíduo autônomo do iluminismo se dissolveu desde a segunda metade do século XIX por meio do surgimento da técnica e da sociedade de massas. Adorno e Horkheimer, por exemplo, em “Dialética do Esclarecimento”, nos mostra as consequências do advento da técnica. Para eles, a razão do iluminismo nunca se concretizou efetivamente enquanto força histórica, mas se tornou um mito e uma abstração. A razão transformou-se apenas em um instrumento formal, técnico e operacional, que pode ser utilizada para todos os fins. Foi por meio dela que a humanidade ao invés de entrar em um estado verdadeiramente humano, sucumbiu a um estado de barbárie e regressão social. A razão formal se tornou, como afirmaria Habermas, em uma racionalidade instrumental, ou seja, tornou-se relação calculada entre meios e fins. E foi a emergência dessa racionalidade que os indivíduos se adaptaram à sociedade e ao domínio social. Esta racionalidade instrumental contaminou todos os aspectos da vida social, tornando os controles tecnológicos e midiáticos a própria personificação da razão. A produtividade, a propaganda e a mercadoria, desta forma, se impuseram ao sistema social como um todo. As pessoas tornaram-se consumidores e, portanto, prisioneiros do capital, prenderam-se aos produtos de consumo e às formas de bem estar social apresentadas pelos meios de comunicação de massa. Desta forma, o indivíduo autônomo, sonhado pelo Iluminismo, sucumbiu e desapareceu. A subjetividade foi tomada pelos controles tecnológicos e mercadológicos.
Como se pode ver, a ideia de um sujeito, pronto, imutável e ontologicamente estável, tão comum à metafísica, deixou de existir. Essa é a grande inovação dos filósofos desconstrutivistas da pós-modernidade. Desta forma, nos aproximamos das teses empiristas de John Locke (1632-1704), que entendia ser o homem uma “tabula rasa” ou uma “folha em branco”, cujas impressões empíricas do mundo vão formando o núcleo de sua subjetividade. Em função disso, só entendemos o sujeito em relação à história que o constituiu e ao mundo em que ele habita. O sujeito não está fora do mundo que observa; ele faz parte dele e recebe dele as informações e influências que o fazem ser quem ele é. Ele é portanto, constituído e construído dentro das práticas sociais. É justamente nesse sentido que o filósofo madrilenho José Ortega y Gasset (1883-1955) afirma em suas Meditações do quixote: “Eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não salvo a ela não me salvo a mim”.
Referências Bibliográficas:
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Rio de janeiro: Jorge Zarhar, 1985.
FREUD, S. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago, 1969.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1989
MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec,1984.
MOLINARO, Aniceto. Léxico de metafísica. São Paulo: Paulus, 2000.
NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral. São Paulo: Brasiliense, 1988.
https://filosofonet.wordpress.com/2010/11/01/o-nascimento-e-a-morte-do-sujeito-moderno/ Michel Aires de Souza
RUSS, Jacqueline. Filosofia. São Paulo: Scipione, 1994
48. O ILUMINISMO
Vamos, nesse momento dizer algumas palavras sobre um movimento intelectual que influenciou – e influencia – o mundo de uma forma absolutamente avassaladora: o Iluminismo.
- Definição: também conhecido como “Ilustração” ou “período das luzes”, o Iluminismo foi um movimento cultural das elites intelectuais européias do século XVIII. Como o próprio nome sugere, o Iluminismo veio para superar o período das trevas associado ao medievo. Este movimento aglutinou dezenas de grandes pensadores como por exemplo John Locke (considerado por alguns como o pai do Iluminismo com sua obra “Ensaios sobre o entendimento humano”), Spinoza, Newton, Rouseau, etc. Mas o maior nome desse movimento foi, indiscutivelmente o alemão Emmanuel Kant. É dele que retiraremos uma definição sobre esse tão significativo movimento: “O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem para fazer uso da tua própria razão! – esse é o lema do iluminismo”.
É claro que essas palavras varreram a Europa e se espalharam pelas universidades e em toda as esferas sociais.
- Teses: Como vimos pela definição acima, o iluminismo criticou violentamente toda a estrutura política e social do absolutismo (sociel e religioso), inclusive seu aspecto econômico focado no mercantilismo. Neste aspecto, era preciso incrementar o capitalismo já que o comércio, no mercantilismo, não passava de uma troca de riquezas, ou seja, era uma atividade estéril.
Na esfera política o Iluminismo contribuiu de três formas: primeiramente pelas transformações políticas tais como a criação e consolidação de Estados-nações, segundo, pelo desenvolvimento e expansão das teses acerca dos Direitos civís e, finalmente, pela redução da autoridade ou do poder as nobreza e da igreja, ambas instituiçõeshierárquicas e avessas à críticas.
- Críticas
As três grandes críticas que são apontadas contra os iluministas têm a ver com suas três grandes teses, quais sejam: i) A liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do estado na economia; ii) O Antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão; e iii) O predomínio da burguesia e seus ideais e interesses.
O Iluminismo se transformou na base intelectual do liberalismo econômico moderno. Desta forma homens como S. Mill estabeleceram as bases do liberalismo moderno com teses como a da “mão invisível” que dirige o mercado ou as das leis de mercado que levariam todos à uma condição social melhor. Hoje, sabemos que o liberalismo é apenas uma justificação para o enriquecimento e a manutenção no poder de quem sempre esteve no poder. O Iluminismo que era contra instituições hierárquicas como a nobreza, tem que conviver hoje com os novos “nobres” capitalistas que impõem suas vontades por meio dos seus lacaios no poder legislativo, estabelecendo leis que lhes beneficiem. Aliás esta crítica também se dirige ao terceiro item das teses formuladas acima, ou seja, aos ideias da burguesia e seus interesses que passam longe da distribuição de renda ou da taxação das grandes fortunas.
Mas a maior crítica que se faz ao Iluminismo diz respeito ao seu aspecto epistemológico. Quem hoje, depois de Nietzsche, Freud, Marx ou Foucault, pode dizer que é possível ter um conhecimento isento, neutro e puro das coisas e dos fatos? O maior representante da Escola de Frankfurt, Jügen Habermas escreveu em seu texto “Conhecimento e interesse” que não existe neutralidade em nenhuma esfera do conhecimento humano. Em outras palavras, essa “autonomia” ou “ausência de tutelagem” que pregava Kant é uma utopia. Todos estamos, quer queiramos ou não, envolvidos com nosso sitz in leben, ou seja, nosso contexto vital que determina nossa leitura da realidade. E este sitz in leben tanto envolve questões de classe social, como de formação intelectual, religiosa ou mesmo influências psíquicas. Por isso Nietzsche já afirmava: “Não há verdades, só interpretações”.
49. A HISTÓRIA É FEITA POR QUEM TEM O PODER
No segundo domingo da Páscoa (no ano de 2015) o Papa Francisco desafiou uma das maiores verdades para quem estuda a história. Em uma missa em memória dos armênios que foram alvos de um massacre entre 1915 e 1917, nos últimos anos do Império Otomano. A liturgia foi celebrada em conjunto com o patriarca armênio e na presença do presidente da Armênia, Serzh Sargsyan. Ladeado pelo patriarca Karenkin II, líder da Igreja Armênia, o Papa Francisco denunciou o que chamou de “genocídio” que os cristãos armênios passaram há um século e que dizimou mais de 1,5 milhões de pessoas. Segundo afirmou o Papa Francisco: “No século passado, nossa humanidade viveu três grandes tragédias sem precedentes. A primeira, considerada geralmente como ‘o primeiro genocídio do século XX’, afetou vosso povo armênio, primeira nação cristã, junto com os sírios católicos e ortodoxos, os assírios, os caldeus e os gregos”…”Recordamos o centenário deste trágico acontecimento, deste massacre imenso e insensato, cuja crueldade tiveram que suportar vossos antepassados”. Essa afirmação foi feita em uma missa na Basílica de São Pedro.
A reação das autoridades turcas foi imediata. De um lado elas convocaram o núncio (representante do Vaticano) em Ancara para dar explicações. De outro lado, em uma reação vista como de extrema reação, o governo de Istambul convocou seu representante no Vaticano para retornar à Ancara.
Os Turcos muçulmanos até aceitam a morte de muitos cristãos naquele período. Mas, segundo eles, estas mortes foram resultados do confronto com os soldados otomanos em 1915, quando a Armênia fazia parte do império governado por Istambul e os cristãos Armênios teriam apoiado as tropas russas. Mas negam a existência de um genocídio. O governo turco só aceita que as mortes (no máximo 400 mil) foram resultados dos distúrbios, da fome e da deportação.
O massacre foi um fato histórico, mas a Turquia nega veementemente este fato. O então ministro turco das Relações exteriores, Mevlut Cavusoglu, ficou tão irritado que disse com todas as palavras que o Papa estava equivocado e sua opinião era infundada.
A Argentina é o pais que abriga a maior parte dos que escaparam do massacre e seus descendentes. Tendo crescido na Argentina, o Papa Francisco sabia muito bem do que falava.
Para além do genocídio, precisamos ver que esse é um grande exemplo de que a história é feita pelos vencedores. Este assunto não aparece nos livros de história ensinados na Turquia e quem ousar falar em genocídio por lá, arrisca-se a ser preso. Isso significa que não se pode acreditar em tudo o que está escrito nos livros oficiais e que é preciso ter coragem, como teve o Papa, para denunciar aquilo que mesmo quem tem o poder nas mãos nega.
50. HANNAH ARENDT E A MALDADE HUMANA
Uma das intelectuais surpreendentemente menos debatidas e mais importantes para ser estudada neste novo século é a pensadora alemã Hannah Arendt (1906-1975). Nascida na Alemanha, tornou-se logo cedo uma pessoa de destaque em seu curso na faculdade de Marburg, o que chamaria a atenção de professores como Martin Heidegger (com quem acabou tendo um caso amoroso), Nicolai Hartmann e Rudolf Bultmann. Com o advento do Nazismo e em função de uma breve prisão, Hannah foge para os Estados Unidos (1937) e lá desenvolve toda sua carreira acadêmica como jornalista e professora universitária.
Sendo mulher e judia e tendo sofrido na própria pele todas as consequências destas condições de gênero e religiosa, creio ter sido impossível não discutir em sua obra temas como totalitarismo e democracia e, principalmente, sobre a maldade humana.
No ano de 1961 ela viajou para Israel a fim de assistir pessoalmente o julgamento de Adolph Eichmann, que viria a ser um dos arquitetos do holocausto nazista. Lá, sentada na sala de julgamento em Jerusalém, ela escreveria sobre a “cotidianidade” de Eichmann. Aquele homem sentado na cadeira dos réus em nada parecia com um monstro responsável pela morte de milhões de pessoas. Na realidade ele bem poderia passar normalmente por cada um de nós na rua ou estar sentado ao nosso lado em um restaurante qualquer sem que ninguém percebesse que ali estaria um dos monstros responsável pelo holocausto de mais de 6 milhões de judeus.
Depois de assistir o julgamento, Hannah Arendt chegou aduas conclusões extremamente importantes. A primeira nos diz que a maldade humana não seria o resultado da malevolência essencial do homem ou mesmo de seu desejo de praticar a maldade. Bem ao revés, ela sugeriu que “as razões pelas quais as pessoas agem de certa maneira é que elas sucumbem a falhas de pensamento e julgamento”. Surpreendentemente, ela não reconheceu em Eichmann alguém motivado pelo ódio anti-semita, mas por uma obediência irrefletida a certas ordens sem perceber suas consequências. O que ela está dizendo é surpreendente. A maldade – excetuando-se aqueles que sofrem de doenças psíquicas crônicas – não é algo latente ou natural do ser humano, mas é o resultado de nossa incapacidade de perceber a incoerência da ideologia e do pensamento dominante em nossa sociedade de instrumentaliza e desumaniza a pessoa humana e estabelece o poder, a fama e o lucro como os grandes valores a serem buscados.
Associado a isso há um segundo elemento. “Sistemas políticos opressivos são capazes de tirar vantagens da nossa tendência para tais falhas” fazendo com que certos gestos que em circunstâncias normais seriam considerados “impensáveis”, sejam achados como absolutamente “normais”. O que seria absolutamente impensável e absurdo em uma sociedade democrática e livre (o holocausto judeu) foi visto como absolutamente normal simplesmente porque o sistema político/ideológico/legal assim permitia e incentivava.
A dificuldade que temos em ver que as pessoas normais que conhecemos cometem maldades ao invés de as considerarmos como monstros, traz estes atos para mais perto de nós e de nossa cotidianidade nos fazendo ver que a capacidade de fazer o mal está em cada um de nós.
Com Hannah Arendt aprendemos que tanto precisamos nos precaver de regimes político/ideológico totalitários como de possíveis falhas em nossos próprios valores e pensamentos.
Que vivemos em uma sociedade em que o totalitarismo ideológico se serve dos meios de comunicação para impor seus padrões de comportamento e de normalidade não temos dúvida, e estes padrões são o egoísmo, a dissimulação, a falsidade, a hipocrisia, o maquiavelismo, a mentira, a prepotência, a maledicência, a infidelidade, o consumismo e a busca desenfreada pelo ter. Em função disso, alguém pode achar normal tirar a vida de uma pessoa por causa de um par de tênis.
Antes dela muitos outros pensadores discutiram acerca do mal. De Santo Agostinho até Harvey Cox, passando por Tomás de Aquino, muito foi dito sobre o assunto. Mas com ela deixamos de culpar o “diabo” ou um “ser” espiritual que se encontra fora de nós e passamos a ver o mal como uma produção eminentemente humana e que precisa ser enfrentada por nós mesmos e com nosso próprio esforço.
O que é mais trágico é que as vezes, uma estrutura religiosa pode assumir feições extremamente maléficas. Não porque as pessoas sejam essencialmente más, mas porque elas sucumbem a falhas de pensamento e julgamento e, por via de consequência, criam suas razões pelas quais as pessoas agem como agem. Desta forma, estas instituições religiosas se tornam incapazes de perceber a incoerência da ideologia e do pensamento dominante em nossa sociedade capitalista que a instrumentaliza e a transforma em mais um instrumento de desumaniza a pessoa humana e ao estabelece o poder, a fama e o lucro como os grandes valores a serem buscados. O que ocorreu com a IEAB foi exatamente isso, uma busca desenfreada pelo poder e pela chancela divina de seus atos maléficos.
Igrejas, assim como os sistemas políticos opressivos, também são capazes de se aproveitarem destas tendências ao erro. O mais trágico é que elas acabam fazendo com que comportamentos vistos como hediondos, sejam aceitos como “normais” e até “santos”. Aquilo que seria impensável em uma sociedade dirigida por normas e cânones, pode ser visto como algo absolutamente normal simplesmente porque o sistema político/ideológico/legal assim permitia e incentivava. Este é o perigo quando o bispo deixa de ser o “guardião” dos cânones e passa a ser o seu “critério hermenêutico”. Este foi o pecado da IEAB, aliar-se ao mal da sociedade e mundanizar-se a ponto de renegar o simples Evangelho de Cristo.
51. É SÓ UMA QUESTÃO DE GOSTO?
Já passei por diversas experiências desagradáveis em minhas aulas de filosofia quando falava sobre estética. Em geral estas experiências surgiam quando discutíamos se a estética era apenas uma questão de gosto.
Quando falamos em estética, estamos nos referido ao ramo da filosofia que discute a criação e a produção da arte e do belo. A origem da palavra estética está no grego (aisthanomai), que significa “aquilo que se percebe”. Assim sendo, não há como dissociar, originalmente, a estética das nossas experiências sensoriais, ou seja, daquilo que percebemos com os sentidos.
Mas a grande questão que se impõe em um mundo como o nosso é se eu realmente posso comparar a Nona Sinfonia de Beethoven com um rap ou com um funk qualquer. Será realmente que tudo é uma questão de gosto? Sobre este tema eu acredito em algumas verdades que gostaria de compartilhar com meus leitores:
- Estética é uma questão de gosto
A primeira verdade é que, sim, “estética é uma questão de gosto”. Tem gente como eu que se delicia em ouvir a Pastoral de Beethoven, que gosta de ouvir o glória de Vivaldi, mas que também degusta um bom blues, um tango, um jaez ou um bom rock dos anos oitenta.
Outros, preferem vir o lepolepo, ou lacraia, ou time das poderosas, etc. É claro que tudo isso tem a ver com o gosto de cada pessoa, e eu seria um ignorante se não percebesse que há pessoas que adoram ouvir estas músicas e se deliciar em suas letras e mensagens, como aquela que defende “beber, cair, e levantar”, para beber de novo.
- Gosto é uma questão de educação
A segunda verdade que eu acredito é que Já que estética é uma questão de gosto, preciso registrar que existe o “bom” e o “mau” gosto. Ou seja, o aspecto da educação será fundamental para moldar a cultura e o horizonte estético de uma pessoa.
Quem está exposto a uma “educação” que acha normal chamar mulher de “cachorra” ou acha bonito ver sua filha de cinco anos descendo na “boquinha da garrafa”, quem se acostumou e acredita em dar “beijinho no ombro pra passar o recalque”, não pode reclamar da educação que teve. Fazer o que?
- Educação é um questão de política
O que as pessoas não entendem é que a educação é uma questão de política pública, e é interesse dos políticos, que a maioria da população seja educacionalmente indigente para poder ser manipulada de uma forma mais fácil.
Ademais, cultura, em nosso país, é algo caro e inacessível à maioria dos brasileiros. Quantos brasileiros podem assistir uma boa peça de teatro? Quantos sequer têm ciência da existência de grandes diretores de cinema como Pedro Almodovar, Woody Allen ou um Akira Kurosawa? O que dizer das outras expressões de arte como Literatura, Poesia, Escultura, pintura? Será que nosso povo tem acesso a isto? Claro que não. Por isso a expressão “estética é uma questão de gosto” é uma falácia. Ela é, antes de tudo, uma questão política. E qualquer cidadão responsável, precisa saber discutir isso. E mais, é preciso socializar a cultura. Levá-la até onde o povo está. Para substituir uma política de “pão e circo” por uma de cidadania responsável.
52. O TEMPO…
Em uma de suas letras mais célebres Renato Russo disse certa vez: “Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo tempo do mundo!”. É bem verdade que esta letra é extremamente rica e exige uma exegese toda própria, o que não é nosso propósito com esse texto. Contudo, hoje, gostaríamos de tratar deste tema que nos parece ser de extrema relevância para qualquer pessoa que queira viver responsavelmente a vida. Pensaremos hoje, portanto, sobre o tempo.
O debate sobre o tempo é bastante antigo. Entre os gregos Hesíodo, o mais antigo dos poetas gregos que chegou até nós, descreveu na Teogonia (VIII a.C.) a personalidade de Kronos como sendo o mais jovem dos titãs e o mais tortuoso dos filhos de Gaia e Urano. Kronos, como sabemos, é a palavra de dará origem à “cronômetro”, portanto ela significa “tempo” em grego. Neste texto mítico, Hesíodo queria dizer que ninguém seria capaz de escapar das garras de Kronos, nem mesmo seu pai que foi por ele castrado com um golpe de foice. Mais cedo ou mais tarde Kronos também nos devorará.
A primeira afirmação que podemos dizer sobre o tempo é que ele é uma dimensão. Uma dimensão é um tipo de parâmetro que utilizamos para descrever os fenômenos que observamos. Há pensadores que julgam o tempo como uma dimensão similar e relacionada à outra dimensão, a do espaço. Se assim for, talvez possamos concordar com Robert MacIver, para quem, enquanto o espaço seria a dimensão em que as coisas existem, o tempo seria a dimensão na qual as coisas se alteram. É por isso que com o tempo toda as coisas mudam.
Sem querer entrar no debate entre Herácrito e Parmênides, creio que a expressão atribuída ao primeiro pensador está certa ao afirmar: “panta rei” ou seja, “tudo flui”. Por isso ele diria mais tarde: “Ninguém entra no mesmo rio duas vezes”. Isto é verdade primeiro porque o rio mudou, depois porque nós mesmos mudamos. E mudamos, porque o tempo passou. Ainda que sejamos a mesma pessoa, depois de viver as experiências que a vida nos dá, ou seja, com o passar do tempo, jamais seremos os mesmos.
A segunda informação que podemos dizer sobre o tempo é que ele é tão implacável quanto Kronos. Como sabemos, este deus gregofoi aquele primeiro titã visto como o deus do tempo. Ele é implacável porque o tempo nunca para e porque inevitavelmente seremos tragados por ele. Mas podemos, mesmo preso às suas amarras inquebráveis, compreender que há uma grande diferença a ser feita por nós entre o tempo medido e o tempo vivido. Kronossó tem poder sobre o tempo medido, mas não sobre o tempo vivido. Ele só pode postular ou demandar sobre uma parte de nosso tempo. Mas há uma outra parte acerca da qual ele nada pode fazer. Ele é o responsável pela criação das rugas em nosso rosto e pelo nosso envelhecimento, mas nada pode fazer em relação ao que fazemos com o tempo que ainda temos. E isto nos leva a uma terceira informação.
A última grande lição que o tempo nos dá é que precisamos aprender a viver adequadamente o tempo que nos resta. Esta verdade pode ser descrita na expressão Carpe diem. Esta expressão, usualmente atribuída á Horácio, pode ser adequadamente traduzida como “colha o dia” ou “aproveite o dia”. Não perca tempo com coisas inúteis e desnecessárias. Em outras palavras, se Kronos tem o poder de nos perseguir e aniquilar, ele nada pode fazer sobre a forma como resolvemos viver o tempo que nos resta. Se, como dizia Caudas Aulete, o tempo é apenas “a duração limitada das coisas”, e se, nossa vida nada mais seria do que a areia se esvaindo dentro da ampulheta, não interessa discutir a natureza filosófica do tempo, ou seja, se ele é cíclico, como acreditavam os gregos, ou linear como acreditavam os cristãos. O que precisamos fazer, como afirmava Gonzaguinha, é “viver e não ter a vergonha de ser feliz”.
Não, não temos todo tempo do mundo. O passado já não temos. O futuro ainda não teremos (e talvez sequer o vejamos). Só nos resta o hoje, o presente. É preciso aprender a olhar para o hoje como um presente que Deus nos deu para viver, dentro da dimensão do tempo, da melhor maneira que podemos, na busca de nossa felicidade.
Quando entendemos esta perspectiva descobrimos que o tempo é, de uma certa forma, uma dimensão unicamente humana. Somente nós temos conhecimento dela. Nós, os humanos precisamos entender que a maior expressão do ser é o tempo e que ele ocorre no mundo. Nossa mundanidade é uma graça porque somos seres determinados a viver nossa humanidade na relação tempo/espaço, ou tempo/mundo. É neste mundo e durante o tempo que temos, que temos que viver autenticamente nossa vida. Outros mundos e outras épocas não nos pertencem. Temos apenas o aqui e o agora. E será justamente no aqui e no agora que precisamos viver autenticamente aquilo que somos. Somente assim seremos efetivamente o que somos e, portanto, felizes.
53. O SALTO EM KIERKEGAARD
Sabemos que a ideia de “salto” foi introduzido na filosofia pelo pensador dinamarquês Soren Kierkegaard. Para este pensador o salto está intimamente relacionado com os aspectos que envolvem nossa “decisão”. Desta forma nós tanto podemos saltar para o pecado como para Deus. A fé não é resultado da reflexão racional, mas de uma decisão que leva em conta apenas possibilidades. A fé é um salto, ou seja, uma passagem qualitativa e sem mediação de uma categoria ou forma de vida para outra.
Seu projeto filosófico foi uma contraposição ao ideário hegeliano do devir lógico-metafísico. Segundo o pensamento de Hegel o movimento se dá por uma transição que nunca se mostra como uma ruptura. A mediação sempre intervém reconciliando os opostos. Desta forma a história segue seu caminho desde uma origem até um fim já previamente estabelecido e guiado pelo Espírito Absoluto por meio de movimentos de Teses, Antíteses e Sínteses, que, elas próprias, se transformam em novas Teses. Há, portanto, uma lógica na história e um fim “telos” a ser buscado.
Em Kierkegaard a ruptura é essencial. Ela ocorre nos diversos “estágios da vida” assim como nas mudanças que ela experimenta. Desta forma, saltamos do estágio estético para o ético e depois para o religioso. Mas há um momento em que esta ruptura se torna eminente e crucial: no salto para o religioso. Somente o salto nos liberta da angústia e do desespero da prisão operada pelo sistema de pensamento que a tudo explica.
Esse salto, diz Thomas Giles (1993, p. 219) se realiza quando o indivíduo reconhece que todas as tentativas para resolver os problemas existenciais, fatalmente fracassaram. Ao saltar para o estágio religioso o homem renuncia a todos os artifícios da especulação racional para se tornar livre de toda dependência do finito. Para ele, as chamadas “provas” que pretendiam provar a existência de Deus, de fato, não provavam nada. No entanto quando as abandonamos, de repente, Deus se mostra! Este é o momento do salto.
Pela fé nós nos libertamos da angústia, definida por Kierkegaard como a “vertigem da liberdade”. A fé é o resultado deste salto no escuro que leva o homem ao estágio religioso e também a uma situação histórica na qual a experiência assume a forma de acontecimentos significativos onde, afirma Giles (1993, p. 219), a decisão humana entra no acontecer, dando-lhe significado.
O salto que nos leva ao religioso, nos leva a compreender que nossa auto-realização só ocorrerá se nos relacionarmos com o Eterno. Sem este relacionamento caímos no desespero.
Somente na angústia, quando abandonamos todas as seguranças habituais trazidas pela razão e pelas luzes e nos entregamos ao abandono, podemos nos elevar a uma existência autêntica. Eis nosso grande paradoxo: somente a angústia pode nos levar à existência autêntica, por meio da fé.
Continuamos entendendo as “provas” da existência de Deus. Mas elas só provam algo para quem antes acredita. Fora da fé, a razão, apenas, não tem qualquer sentido.
54. ACERCA DA TRANSDISCIPLINARIDADE
Qual professor que, naqueles memoráveis encontros acadêmicos que ocorrem no início de todos os semestres, nunca ouviu alguém estimular um trabalho transdisciplinar? Em geral, quando estes temas começam a ser tratados pelo plenário eu prefiro me colocar em silêncio e a razão, de certa forma, passo a explicar nos parágrafos abaixo.
Quem discute transdisciplinaridade em geral navega em um oceano razoavelmente confuso pois as definições não são tão universais quanto desejamos ou imaginamos. Ou seja, não se sabe com certeza acerca do que estamos tratando. Não há dúvida de que esta é uma tentativa de rever a unidade do conhecimento e estimular uma nova compreensão da realidade e, portanto, da ciência. Reconheço o interesse em abandonar a mesmice e trilhar um caminho mais interessante para o aluno e para o professor. Mas como tudo o que ocorreu nos últimos quarenta anos, nada que envolve a ciência pode ser encarada de forma plena e acabada. Neste texto trataremos brevemente das grandes mudanças que envolveram este tema nos últimos quarenta anos.
NA DÉCADA DE 70
O maior problema que esta década enfrentou foi a da definição e a da extensão do termo. Neste momento houve um enorme debate para unificar a linguagem e determinar, de uma vez por todas, o que é transdisciplinaridade e quais suas diferenças da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade.
Este é o momento tematizado pela binariedade entre o certo e o errado. O que revela, ainda a crença na existência destas entidades metafísicas. Era importante definir, logo, era importante ter a capacidade de distinguir a verdade do erro. A ciência era feita assim.
NA DÉCADA DE 80
O que ocorre na década de oitenta é que a própria ciência é colocada em questão. O que é “ciência” afinal? Qual seu status? Em que ela difere da tradição? Ela é, realmente, o caminho para se encontrar a verdade? Será esta verdade absoluta? Neste momento parece haver uma conjunção entre as teses de Kant, Husserl e Thomas Kuhn na construção de uma releitura entre o que é “fato” e o que é “fenômeno”. Os diversos designativos que surgiram neste momento são prova deste primeiro momento de instabilidade da ciência. Por isso se começa a perguntar sobre a diferença entre “fato social” e “fenômeno social”. Na esfera da psicologia ocorre a mesma coisa. De repente os psicólogos não estavam mais interessados em “provar” que não havia um elefante cor de rosa debaixo da cama de seu paciente. O que importava agora eram as impressões que este elefante trazia e suas consequências para a vida de seu paciente.
Este é o momento tematizado pelo valor da palavra “talvez”. Pela primeira vez a ciência se permitia oficialmente admitir que a verdade era transitória e não absoluta. Este era também o momento em que a “ciência” entendeu que a “tradição” também poderia levar o homem a conhecimentos verdadeiros. Foi um momento em que a ciência foi capaz de rever que para a além de uma unniversidade havia uma pluriversidade de caminhos para a vida e que seria desejável uma interação entre eles.
NA DÉCADA DE 90
Na década de 1990 houve uma agudização do que ocorrera na década anterior. Passou-se a se valorizar ou a se dar importância entre as inúmeras possibilidades existentes entre o “certo” e o “errado”. Passou-se a ver que a vida não era feita apenas de realidades ou atitudes “certas ou erradas” ou “pretas e brancas”, mas que havia espaço para o “talvez” e que o “talvez” era infinitamente mais amplo do que se esperava. O “talvez” passou a ser um conceito oculto ainda a ser decifrado. Esta foi a década em que a ciência se deu conta que de havia muito mais a ser explorado do que se pensava.
NO SÉCULO XXI
Na primeira década do século XXI, e como consequência do que ocorrera antes, a grande questão era a do desaprender se buscar um reaprender. Era preciso retirar as roupas do armário para se buscar outras.
É neste momento que surge um Maturana apregoando um desapego do que se sabe ou do que imagina saber na busca de um lugar ou um espaço do que ainda não se sabe. Era um movimento na busca de uma auto-organização.
CONCLUSÃO
Deste pequeno esboço deveríamos, pelo menos, assumir uma postura mais humilde frente ao processo educativo. Ele não ocorre sem muito esforço e sem rupturas importantes. Por exemplo: como manter um trabalho inter ou transdisciplinar se não estamos dispostos a remunerar os professores para que eles tenham espaço fora do horário de aula para pode se encontrar e planejar o trabalho comum? Como realizar este tipo de atividade criadora, ou pelo menos de encontro, entre os professores de direito se eles, em boa parte, não “são” professores, mas “estão” professores, vez que a maior parte de seus salários vêm do trabalho como advogados. Eles simplesmente não têm o tempo que uma atividade como essa exigiria para ser realizada.
Não quero, com isso desestimular qualquer idéia. Eu creio que nada há no mundo, mais concreto, do que idéias. Foram elas que mudaram o mundo. Mas mesmo as teses da inter ou transdisciplinaridade foram estudados de forma diferente em diversos países diferentes em razão de suas características diferentes. Na França, por exemplo, a grande questão era “saber saber”. Nos Estados Unidos, um país mais pragmatista, a grande questão era “saber fazer”, no caso do Brasil, penso que a nossa grande questão seria “saber ser”. Quando fomos capazes de compreender quem somos e o que queremos ser, boa parte de nossos problemas educacionais estarão resolvidos. Nossos estudantes no Brasil precisam decidir se eles são, de fato, estudantes e não apenas frequentadores esporádicos de uma sala de aula; nossos professores precisam decidir se eles são, de fato, educadores ou apenas repassadores de informação e nossas IES precisam decidir se são efetivamente instituições de educação (com tudo que esta palavra implica) apenas empresas que trocam dinheiro por diploma.
Enquanto estas questões não forem honestamente resolvidas, discutir trans-inter-multidisciplinaridade, ou qualquer outra invenção genial de algum pedagogo, não passará de perda de tempo ou de cortina de fumaça para esconder o que realmente se quer com a educação hoje: satisfazer o mercado e não construir pessoas.
55. O ANTIFUNDACIONISMO E O DEFLACIONISMO SIGNIFICAM O MESMO QUE RELATIVISMO? REFLEXÕES SOBRE A EPISTEMOLOGIA DE RORTY
Discutir o tema da “verdade” é sempre trilhar em um caminho excessivamente tortuoso, principalmente nesses dias em que percebemos que “tudo o que é sólido desmancha no ar”. Mas é nosso dever, enquanto pensadores cristãos da realidade e formadores de opinião, encarar essas questões e propor uma saída que seja simultaneamente justificável e cristã.
Sobre essa questão podemos afirmar que historicamente, os filósofos que buscaram a verdade dentro de uma estrutura de política democrática sempre foram capazes de conjugar pelo menos três alegações: em primeiro lugar, afirmam existir na humanidade, um desejo de encontrar uma verdade; em segundo lugar, defendem que a verdade é sempre correspondencial, ou seja, “o que se afirma corresponde com o que se observa”; e finalmente, que existe uma natureza intrínseca na realidade. Com base nessas três premissas, esses filósofos podem afirmar que a verdade existe e é uma e absoluta.
Geralmente quem discorda dessa afirmação é acusado de ser “irracionalista”, na proporção do número de alegações citadas que nega. Desta forma, Nietzsche pode ser tido como o modelo do irracionalismo em sua forma mais pura, uma vez que nem desejava a democracia e se recusava a aceitar toda as demais premissas. Já um James Dewey tinha um compromisso com a democracia mas não estava disposto a afirmar duas das premissas citadas: ele não acreditava que a verdade fosse correspondencial e acreditava que a verdade é múltipla e maleável. Habermas – que luta fortemente pela democracia -, por sua vez, também discorda da verdade correspondencial mas não aceita a possibilidade de verdades múltiplas e, por isso, em alguns círculos é acusado de “irracionalista”. O caso de Rorty é ainda mais complicado pois, embora defenda as perspectivas políticas democráticas, nega todas as três premissas citadas acima.
Segundo seu pensamento, aquilo que os filósofos entendem ser um desejo universal de verdade deveria ser melhormente descrito como o desejo universal de justificação. Segundo ele, “Uma diferença entre a verdade e a justificação é aquela entre o irreconhecível e o reconhecível. Nunca vamos saber com certeza se uma dada crença é verdadeira, mas podemos ter certeza de que ninguém tem, atualmente, como invocar quaisquer objeções residuais contra ela, e que todos concordam que ela deve ser sustentada” (RORTY, In SOUZA, 2005, p.106). Rorty compreende que a ideia de “verdade” não deve se tornar tão relevante para aqueles intelectuais que militam em espaços políticos democráticos e que a ideia de “justificação” deveria ser vista como mais atrente. Para ele, buscar a natureza verdadeira ou o significado da palavra, ou ainda uma teoria sobre o “perigo” é menos importante do que buscar uma justificativa para o uso de tal palavra em uma determinada situação concreta. O fato de se acreditar que a “verdade” não é correspondencial nem absoluta sendo, portanto, falível, não nos torna céticos, vez que o falibilismo não postula a absolutidade enquanto o ceticismo, sim. Isso significa que que Rorty defende o relativismo? Penso que não. Mas vejamos o que ele entende por antifundacionismo e deflacionismo, antes de concluir nossa argumentação.
Em sua tese sobre o antifundacionalismo, apresentada em seu texto Filosofia e o Espelho da Natureza, Rorty questiona o valor e a natureza da verdade afirmando a falência das certezas absolutas pela inexistência de uma realidade fundante que lhes dê estabilidade ou de uma base metafísica ou totalizante para a compreensão da verdade. Vê-se, claramente aqui, sua ruptura com a metafísica que marcou a filosofia Ocidental durante dois mil anos. Neste texto ele procurou “refutar a ideia de que o conhecimento é um modo de representar corretamente o mundo, como uma espécie de espelho mental. Rorty argumentou que essa visão de conhecimento não se sustenta, por duas razões. Primeiro, admitimos que a nossa experiência do mundo é algo ‘dado’ a nós diretamente – o que sentimos é informação bruta do mundo tal como ele é. Segundo, admitimos que essa informação bruta é captada, nossa razão (ou alguma outra faculdade da mente) começa então a trabalhar nela, reconstruindo o modo como esse conhecimento se encaixa num todo e espelha o que é o mundo” (VÁRIOS, 2011, p. 316, 317).
As teses deflacionistas de Rorty são importantes para sua epistemologia porque segundo ele, “as teorias da verdade devam ser desinflacionadas, isto é, a verdade não deve ser tomada como possuindo uma propriedade real, como possuindo uma substância cognitiva, como sendo revestida de uma essência ou um fundamento metafísico. A verdade, no âmbito de uma abordagem deflacionista, adquire apenas a característica de permitir um mínimo de acordo entre dois falantes” (FRAGA. In https://esbocosfilosoficos.com/tag/richard-rorty/). Neste ponto de vista, Rorty – como um bom pragmatista -, encara a verdade simplesmente como um elemento sobre o qual dois seres falantes poderiam observar uma dada realidade e comunicaram-se entre si a partir de bases comuns que seriam ponto de integração e que permitiriam e facilitariam o processo de comunicação entre eles. Em outras palavras, para ele a filosofia era um espaço de diálogo e conversação onde seria possível encontrar soluções transitórias para problemas igualmente transitórios.
Agora nos deparamos com a grande questão de seu relativismo. É verdade que para a maioria dos pensadores questionar a existência do absoluto inevitavelmente nos faria cair na vala comum dos relativistas. Rorty não entende que negar a existência de padrões corretos necessariamente deveria nos levar a afirmar que a verdade é relativa. Para ele, “Tanto quanto posso ver, ninguém pensaria que a crítica ao absolutismo conduz ao relativismo, a menos que pensasse que a única razão para justificar nossas crenças, uns aos outros, é que tal justificação torna mais provável que nossas crenças sejam verdadeiras” (RORTY, In SOUZA, 2005, p.131). Ele acredita que tal justificação não tornaria algo mais provável. Mas isso não tem muita importância para ele uma vez que a prática de justificar uma crença não precisa ser justificada. Como ele afirma, “Se estou correto em pensar que a única função indispensável da palavra ‘verdadeiro’ (ou de qualquer outro termo normativo indefinível, como ‘bom’ ou ‘certo’) é nos acautelar, prevenir contra o perigo, apontando para situações imprevisíveis (audiências futuras, dilemas morais futuros, etc.), então não faz muito sentido perguntar se a justificação conduz ou não à verdade” (RORTY, In SOUZA, 2005, p.131).
Rorty segue a teoria de John Dewey segundo a qual, todas as obrigações são condicionais e situacionais. Ele sabe que essa recusa em aceitar o condicionalismo e defender a postura incondicional acabou por fazer com que seus opositores o tachassem de “relativista”. Nesse aspecto, para Rorty, se ser “relativista” significa simplesmente fracassar em encontrar um uso para a noção de “validade independente de contexto”, então a acusação era justificada. Mas isso não significa que tenhamos que desistir do caminho democrático enquanto um jogo de linguagem no qual construímos contextos de discussão sempre maiores e melhores.
Referências Bibliográficas
FRAGA, Marcelo. Richard Rorty e o debate sobre a questão da verdade. In https://esbocosfilosoficos.com/tag/richard-rorty/, acessado em 16 de agosto de 2016.
SOUZA, José Crisóstomo de (Org.). Filosofia, Racionalidade, Democracia: os debates Rorty & Habermas. São Paulo: UNESP, 2005
VÁRIOS, O Livro da Filosofia. São Paulo: Globo, 2011
56. RORTY E A RELAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E VERDADE
Quando pensamos em alguém que escreveu com a intensão clara e própria de destruir a metafísica, inevitavelmente nos lembramos de Heidegger. É nesse sentido que Philippe van den Bosch nos afirma, categoricamente, acerca desse ilustre filósofo alemão, que: “Ele afirma que a metafísica, ou seja, todo o pensamento ocidental, é fundada num erro… Aí opera-se uma má compreensão do que é o ser, ‘um esquecimento do ser’” (BOSCH, 1998, p. 260). Outra forma de colocar a postura de Heidegger sobre a metafísica é-nos exposta por Lacoste ao dizer que: “Heidegger vai tentar reencontrar a questão do sentido do ser, não mais por uma busca vã e incessante reiniciada da evidência, da visão pura, mas por uma desconstrução da metafísica tradicional, talvez com a esperança de ouvir desta vez a palavra do ser sob sua forma autêntica” (LACOSTE, 1992, p. 53).
No entanto, Heidegger não foi o único a se levantar contra a metafísica. Na história da filosofia muitos outros pensadores seguiram um caminho similar. E nesse pequeno texto gostaríamos de expor crítica feita pelo filósofo pragmatista americano Richard Rorty à metafísica e, em seguida, mostrar a seu pensamento sobre a relação entre a verdade e a comunidade.
Obviamente, conforme afirmado acima, estando dentro da tradição pragmatista – na qual a verdade é o resultado de regras e procedimentos aceitos dentro de uma determinada comunidade – ele obviamente também rejeita a tese da existência de uma verdade necessária, até porque contemplamos à nossa frente à obviedade da insuperável realidade da contingência das comunidades humanas. Desta forma, Rorty “Refuta, assim, tanto o conceito de realidade exatamente reproduzível sem deformações pelo ‘espelho’ ou pelo ‘olho’ contemplativo da mente, quanto o da coerência puramente lógica do raciocínio e da ação” (BODEI, 2000, p. 267). Como podemos perceber, essa rejeição à metafísica ocorre dentro de um espaço onde o contexto social é valorizado.
Diferentemente daqueles que se empenham em uma busca neurótica pela verdade absoluta, característica da visão cartesiana, Rorty se inclina muito mais por uma filosofia que seja capaz de nos oferecer, ao menos alguma noção sobre como “as nossas vidas poderiam mudar” (RORTY, In BODEI, 2000, p. 267). Nesse sentido ele apresenta as duas posturas mais comuns relativas à verdade. A primeira, baseada em Platão, fundeia a verdade em uma realidade sobre-humana ou em um “mundo das ideias” que serve de modelo para nossa realidade imperfeita de sombras que apenas conseguem, por meio da filosofia, relembrar das reminiscências do mundo onde os universais perfeitos e absolutos existem. A segunda, fundada nas posturas de William James e John Dewey, associa a verdade “a práticas sociais compartilhadas de justificação e de controle” (BODEI, 2000, p. 267).
A teoria platônica da verdade em nada se preocupa com a efetiva comunidade dos dialogantes. E neste caminho procura evitar um duplo relativismo: o sofístico e o etnológico. Assim, ele postula a existência de uma comunidade de filósofos legisladores que atua com base em regras que estão vinculadas às “essências” ou “ideias” que, quando alcançadas, levariam a humanidade à uma tácita aceitação daquilo que seria uma óbvia verdade. Em outras palavras, na argumentação platônica, “A verdade resulta, assim, fundada sobre procedimentos de caráter auto-reflexivo próprios a um grupo restrito que se arroga o direito de representar toda a humanidade de qualquer lugar e tempo” (BODEI, 2000, p. 268). Foi com base nessa argumentação de uma verdade sólida e objetiva que a filosofia ocidental – bem como a ciência -, como bem afirmou Heidegger, construiu seu edifício.
Pois bem, a proposta de Rorty é justamente substituir essa objetividade pela “solidariedade”, ou seja, “ele define a verdade em relação àquilo que uma comunidade específica acredita e argumenta, ao ‘nós’ dos falantes ou dos pensantes. Nesse sentido, portanto, ‘verdade’ é o que encontraria menos resistência para ser aceito por aqueles que seguem determinadas regras históricas de verificação; falsidade, o contrário. A filosofia deveria evitar a tentação de procurar os fundamentos últimos da realidade e do pensamento e se limitar a propor discursos ‘edificantes’ (no duplo sentido arquitetônico e moral)” (BODEI, 2000, p. 269).
Em outras palavras os filósofos ou os cidadãos, deveriam estar preocupados em construir comunidades acolhedoras que fossem capazes de conduzir as pessoas desde esquemas pré-fixados e enrijecidos até a construção de espaços onde a convivência humana pudesse se realizar plena e cabalmente. Eis a grande razão da filosofia em uma época “pós-filosófica”, “pós-moderna”, ou, pelo menos, de uma realidade fluida e débil: “manter viva a criatividade de formas de diálogo que não pressupõem nenhum ‘vocabulário dado’” (BODEI, 2000, p. 269) e onde não são mais necessárias práticas fundantes.
Isso não significa abrir mão nem da racionalidade e nem da moral. Muito ao revés, ele está tão ligado à “esperança social” que considera que esses valores universalistas e abstratos, ao invés de ajudar a vida das comunidades, desvitalizam as comunidades com suas histórias singulares e as impede de resolver suas questões intestinas de forma urgente e concreta. Para ele, o que nós no Ocidente precisamos é de uma democracia que seja capaz de prescindir, de um lado, de uma fundação religiosa, e de outro, de uma legitimação filosófica. Para ele, basta a autoridade “constituída por um acordo coroado de sucesso entre indivíduos que se descobrem herdeiros das mesmas tradições históricas e postos diante dos mesmos problemas” (RORTY, In BODEI, 2000, p. 270). Aqueles que valorizam esse tipo de democracia devem ser capazes de, mesmo tendo crenças absolutamente relevantes para si, abrir mão de certos aspectos, sacrificando sua consciência no altar do bem público.
Eis que nesse momento surge uma questão relevante: como evitar que meus preconceitos, preferências e opiniões se tornem arbitrários ou formem conceitos etnocêntricos? Ele realmente entende que a criação de pontes envolvendo pessoas de culturas diferentes é uma realidade bastante concreta. Portanto ele reconhece, afirma Bodei (2000, p. 270, 271) que “Nenhum de nós é realmente capaz de separar-se das próprias tradições e preconceitos, de superar a barreira da alteridade. Somos, com efeito, de tal maneira condicionados pelas regras que aprendemos e às quais estamos habituados na nossa comunidade que tornamo-nos inevitavelmente etnocêntricos”. Ele parafraseia Hegel afirmando que não podemos sair dos nossos condicionamentos histórico-culturais, assim como também não podemos sair de nossa pele.
A ideia de que a história da humanidade caminha para uma unificação das formas de pensamento sob a égide de uma verdade e de uma racionalidade supercomunitária, diz Bodei, “obedece, de resto, a um preconceito inconsciente: o de que a história do gênero humano caminharia inexoravelmente para uma convergência entre as várias civilizações” (BODEI, 2000, p. 271). Discordando frontalmente dessa tese, Rorty sustenta que a humanidade caminha em direções divergentes, destacando justamente o diferente e não o que há em comum. O que temos a fazer é nos conscientizarmos de nossa própria tradição – que nos é inalienável -, e tê-las em conta quando nos depararmos com os “outros” ou os “diferentes” que geralmente nos abordam usando de ironia. No entanto, apesar disso, ainda precisamos ser capazes de “saber tirar importância a várias diferenças tradicionais (de tribo, religião, raça, usos, e similares) no confronto da semelhança na dor e na humilhação, no saber incluir na esfera do ‘nós’ pessoas imensamente diversas de nós mesmos” (RORTY, In BODEI, 2000, p. 271). De fato, Rorty já afirmara que “A pergunta se há quaisquer crenças ou desejos comuns a todos os seres humanos é de pouco interesse se separada da visão de uma comunidade humana includente e utópica – uma que se orgulhe mais de acolher pessoas de tipos diferentes que da firmeza com que mantém estranhos do lado de fora” (RORTY, In DE SOUZA p. 103).
Em resumo, aprendemos com Rorty, em primeiro lugar, que a verdade não é correspondencial mas relacional, à medida em que ela é o resultado daquilo que uma comunidade específica acredita e argumenta. Em segundo lugar, aprendemos com ele que a verdade é procedimental e não objetiva, uma vez que ela é o resultado de regras e procedimentos aceitos dentro de uma determinada comunidade. Em terceiro lugar, ele reconhece a tendência comum às pessoas a buscarem verdades metafísicas, no entanto, ele propõe verdades que sejam construídas dialogicamente, portanto includentemente e solidariamente, por mais que isso possa soar como uma utopia.
Este é o grande desafio que tanto nossa sociedade quanto nossa comunidade de fé Anglicana tem: abrir mão das verdades metafísicas absolutas e construir comunitariamente verdades procedimentais solidárias e inclusivas, uma vez que a utopia, para nós, faz parte de nosso querígma.
Referências Bibliográficas
BODEI, Remo. A Filosofia do Século XX. Bauru: EDUSC, 2000
BOSCH, Philippe van den. A Filosofia e a Felicidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998
LACOSTE, Jean. A filosofia no século XX. Campinas: Papirus, 1992
SOUZA, José Crisóstomo de (Org.). Filosofia, Racionalidade, Democracia: os debates Rorty & Habermas. São Paulo: UNESP, 2005
57. A IMPORTÂNCIA DA NAVALHA
Antes de mais nada, gostaria de tranquilizar meus leitores. Não estou, com este título, fazendo qualquer apologia ao retorno da navalha na prática diária de alguns em barbear-se. De fato, estou fazendo referência a uma expressão medieval conhecida como “a navalha de Ockham”.
William de Ockham foi um eclesiástico franciscano medieval que se tornaria famoso por propor um princípio de interpretação que não seria nada mais do que uma regra de economia na explanação ou defesa de um argumento. Em outras palavras, a fim de evitar o desperdício de tempo na explicação de certos fenômenos, Ockham advogava que “Se um evento específico na natureza pode ser explicado pela alusão a um único antecedente causal, é inútil postular outros”. Desta forma, a “navalha de Ockham” acabava por atingir a tendência dos teólogos de sua época que defendiam a existência de duas causalidades para as coisas – uma natural e outra espiritual. No entanto, conforme a nova teoria de Ockham, “se uma lei da natureza explica por que uma rocha desceu rolando pela encosta de uma montanha, não faz sentido declarar, também, que um anjo ou um demônio a empurrou” (OLSEM, 2001, p. 360).
Quem fez referência a este personagem foi Humberto Ecco em um de seus textos conhecido como “O nome da rosa”. Lá ele se refere à Ockham na figura do personagem William de Baskerville, um franciscano aristotélico que era visto com desconfiança pela igreja.
A Navalha de Ockham foi extremamente importante para o surgimento e desenvolvimento da Modernidade uma vez que acabou por produzir a divisão entre fé e razão pondo em questão o método escolástico.
Uma escola que foi fortemente influenciada pelas teses de Ockham foi o nominalismo. Esta escola que trata dos Universais será identificada como uma dos precursores dos empiristas, dos positivistas e dos pragmáticos contemporâneos. Na realidade, ao negar qualquer valor aos universais, o nominalismo se mostra até um tanto cético. A crítica nominalista à existência de um mundo das Ideias do tipo platônico será de extrema importância porque, em primeiro lugar, quebra a visão dualista de mundo, fazendo com que as realidades sejam encaradas como uma realidade una; em segundo lugar porque fará do conhecimento das coisas algo particular e pessoal, e não algo geral; algo que tenha a ver com a minha leitura dos fatos e não com a “apreensão” clara e absoluta da realidade; e porque, em último lugar, me fará ver os meus próprios condicionamentos ao me aproximar das coisas, tornando-me mais humilde e evitando que eu imponha sobre os outros uma visão que é minha.
Estes três últimos elementos estão presentes tanto em uma visão antifundacional de um Richard Rorty quanto na leitura pragmatista de um jurista da importância de Richard Posner. Que a ciência jurídica tenha a coragem de recepcionar a navalha de Ockham como um precioso instrumento para ajudar a iuris-dicere com mais propriedade e justiça.
Referência bibliográfica:
OLSEM, 2001
58. MORTE E A RAZÃO: UM DIÁLOGO ENTRE UNAMUNO E LEVINAS
Fazer uma relação entre Miguel de Unamuno (1864-1936) e Emmanuel Levinas (1906-1995) é aparentemente impossível, vez que enquanto o primeiro se inscreve entre os existencialistas o segundo é compreendido como um fenomenólogo. No entanto, apesar das aparentes incongruências há algo em que os dois podem contribuir para uma boa discussão contemporânea: a ética.
Miguel de Unamuno é, além de filósofo, celebrado como um grande poeta e romancista espanhol. Nascido em Bilbao e falecido em Salamanca, lá ele ensinou por muito tempo, chegando até a dirigir esta ilustre Universidade.
Profundamente marcado por uma educação religiosa, sua tese principal dizia que toda consciência é “consciência da morte” e do sofrimento. Na realidade é justamente ter a ciência da capacidade de sofrer e de morrer que nos torna humanos. Disse ele certa vez: “Si almorirlos organismos que la ssustentan vuelven las conciencias todas individuales a la absoluta inconciencia de que salieron, no es el gênero humano otra cosa más que una fatídica procesión de fantasmas que va de la nada a la nada” (UNAMUNO, 1951, p. 232). Para ele o sofrimento não deve ser visto como um problema a ser superado por nós, como acontece entre os budistas. Muito ao revés, o sofrimento é parte essencial de nossa existência humana. A dor, o sofrimento e a morte é uma experiência vital e essencial à humanidade. Para ele esta realidade é tão essencial que ele afirma que a única maneira de conceder às nossas vidas algum tipo de sentido, de substância ou de relevância é abraçar esse sofrimento e a própria morte.
É, portanto, absolutamente fundamental reconhecer a dor, porque somente ao encararmos nossa própria realidade, nossa própria mortalidade e nossas próprias dores e sofrimentos é que nos tornamos aptos ou capazes de nos identificar com a alteridade, com os “outros” que também sofrem a ponto de amá-los.
Há, portanto, duas possíveis escolhas a todos nós: ou bem escolhemos o lado da felicidade e fazemos tudo para nos afastarmos do sofrimento dos outros, ou bem podemos escolher sofrer e amar. Somente esta última escolha será capaz de abrir a porta de nossa existência para a possibilidade de uma vida profunda e relevante. Nas palavras de Masip: “Seu pensamento e sua obra giram em torno da inquietação existencial e do anseio da eternidade: é preciso extrair a esperança do coração mesmo do desespero; nesse combate agônico, na busca furiosa do sentido da própria existência e da esperança no marasmo da finitude, reside a fé cristã e a dignidade do homem mortal” (MASIP, 2001, p. 299, 300). Este seu relacionamento com o existencialismo e além, suas ambiguidades, são também ressaltadas por Quintanilla quando ele diz que: “A limitação provoca a frustração do eu em sua ânsia de ser tudo sem deixar de ser ele mesmo. Essa problemática somada aos conflitos fé-razão, lógica-biótica, tempo-eternidade, configura o horizonte existencialista em que se movem as reflexões unamunianas” (QUINTANILLA, Apud SANTIDRIÁN,1998, p. 552).
Emmanuel Lévinas era um pensador judeu lituano que experienciou o holocausto e que pode ser compreendido na proporção que consideramos a influência que ele recebeu de duas pessoas. Primeiro de Edmund Husserl, que explora nossa relação com os outros a partir da fenomenologia, e em segundo lugar, do filósofo austríaco Martim Bubber, que afirma que o sentido nasce em nossa relação com os outros.
Mas uma parábola que nos faz compreender melhor o pensamento de Lévinas é aquela conhecida história na qual ele nos pede para nos imaginar andando em uma note fria de inverno e encontrando uma pedinte encolhida diante de uma porta. Ela sequer estar pedindo esmola, mas você é incapaz de deixar de sentir um tipo obrigação em responder às necessidades desta estranha. Quais são as respostas possíveis? Em primeiro lugar você pode ignorá-la, mas mesmo que siga por esse caminho, algo já lhe foi comunicado, ou seja, você sabe que ela é uma pessoa e que precisa de sua ajuda. Mas, em segundo lugar você pode escolher ajudá-la.
Um elemento fundamental no pensamento de Lévinas será o papel da razão. Segundo ele, a razão vive na linguagem, ou seja, a linguagem é uma forma de comunicação com os outros anterior à própria fala. Quando me vejo diante do rosto de uma outra pessoa, minha responsabilidade por ela é instantaneamente comunicada, ainda que nenhuma palavra seja dita. Citando o próprio Lévinas: “Sem tentar expor esse nascimento latente, o presente estudo consistiu em pensar juntos linguagem e contato, analisando o contato além das ‘informações’ que ele pode recolher sobre a superfície dos seres, analisando a linguagem independentemente da coerência e da verdade das informações transmitidas – captando neles o acontecimento da proximidade”. (…) O contato onde me aproximo do próximo não é manifestação nem saber, mas acontecimento ético da comunicação que qualquer transmissão de mensagens supõe, que instaura a universalidade aonde palavras e proposições vão se enunciar” (LÉVINAS, Apud LACOSTE, 1992, p. 163).
Eu posso escolher me desviar desta responsabilidade, mas será impossível, para mim, escapar dela. É por isso que a razão surge, segundo ele, dos relacionamentos cara a cara. No momento em que somos confrontados com a miséria e com o sofrimento de outro ser humano nossa razão começa a elaborar justificativas para nossas ações. Mesmo que, diante do sofrimento do outro, escolhamos, não intervir, nossa inércia precisa de uma justificação racional.
À guisa de conclusão creio ser possível compreender que, enquanto de Unamuno aprendemos uma importantíssima lição de empatia diante do sofrimento e da dor do outro, o que nos torna aptos ao amor, de Lévinas aprendemos a optar por uma racionalidade que justifique nossa escolha pela valorização das pessoas e da vida humana.
Referência bibliográfica:
LACOSTE, 1992
MASIP, 2001
SANTIDRIÁN,1998
UNAMUNO, 1951
59. ACERCA DA FELICIDADE EM EPICURO
A vida: Embora tenha nascido na ilha de Samos em 341 a.C., Epicuro sempre ostentou a cidadania ateniense que herdou de seu pai. Entre os 14 e 18 anos ele recebeu suas primeiras aulas do acadêmico platônico Pânfilo. Com 18 anos ele vai para Atenas para o serviço militar obrigatório de dois anos. Durante este tempo ele entrará em contato com os grandes filósofos sucessores de Sócrates, Platão, desde Teofrasto, o sucessor de Aristóteles no Liceu, até Xenócrates, diretor da Academia. De Atenas ele vai para Cólofon, na costa asiática e próximo dali, em Teos, Epicuro passa a receber forte influência dos ensinamentos atomistas de Nausífanes, que o apresenta ao pensamento de Demócrito. Entre 311 e 310 ele tenta estabelecer sua escola em Lesbos, mas sua tentativa fracassa. O mesmo ocorreu em Lâmpsaco, mas aqui ele consegue instalar sua escola que funciona por pouco tempo. Em 306, Epicuro volta à Atenas e compra uma casa com um enorme jardim com a finalidade de instalar lá sua escola que seria conhecida como o “jardim de epicuro”. Enquanto os mestres habitavam na casa, seus discípulos viviam acampados em barracas e todos cultivavam hortaliças para consumo próprio. Epicuro morreu em 270 a.C. aos 72 anos, e foi sucedido por seu fiel discípulo Hermarco.
Dentre suas obras ele escreveu algumas cartas extremamente importantes para quem deseja compreender o pensamento epicurista. Dentre as cartas, refletirei aqui sobre a Carta acerca da felicidade endereçada à Meneceu. Nesta carta ele inicia com uma saudação à Meneceu falando da importância da filosofia. Para Epicuro, não importa a idade de quem quer dedicar-se à filosofia. Para ele “ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito, ou seja, a psykê ygiainon ou saúde da alma, ou ainda, a hora de ser feliz (eudaimonian). A vantagem do estudo da filosofia para o jovem é poder envelhecer sem medo e para o velho é rejuvenescer. Quais são, então aqueles elementos fundamentais para uma vida feliz, segundo Epicuro?
Primeiro elemento: considera a “divindade como um ente imortal e bem-aventurado”. Fazer isso para Epicuro significa não atribuir à divindade nada que seja incompatível com sua imortalidade ou inadequado à sua bem-aventurança. Isto significa que precisamos abrir mão das imagens falsas que são feitas da divindade pelas pessoas comuns. Ouçamos suas palavras: “já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe: as pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons”. A impressão que tenho lendo esta cata de Epicuro é que ele teria lido o livro de Jô. Embora eu saiba que isso seja impossível. Deus não é, como disse um teólogo, certa vez, uma máquina de coca-cola cósmica que, se você colocar o dinheiro e apertar o botão certo, e ele reagirá da forma esperada.
Segundo elemento: “Não há nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver”. É tolice, para Epicuro, ter medo da morte. Sua chegada não trará sofrimento. Sua espera, contudo, pode perturbar a muitos. Para ele, “aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está ausente”. De fato, não há porque temer a morte vez que quando estamos vivos ela não está presente e quando ela chegar nós já não estaremos aqui. A morte, portanto “não é nada, nem para os vivos, nem para aos mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui”. Sobre este assunto a filosofia nos ensina que o sábio nem deve desdenhar de viver nem temer a ponto de deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo e não-viver não é um mal. O que precisamos aprender com a vida é que é preciso “colher os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve”.
Terceiro elemento: “Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não-nosso”. É preciso, portanto evitar a atitude fatalista de quem acha que o futuro já está pré-determinado, tanto quanto é preciso evitar a postura de que ele não virá jamais, trazendo, consigo, suas consequências. Há uma abertura para nossas escolhas e para o que fazemos. Se fizermos algo errado pagaremos por isso da mesma forma que seremos remunerados se agirmos corretamente. Nossa vida não está presa a nenhum tipo de determinismo.
Quarto elemento: “Consideremos também que, dente os desejos, há os que são naturais e os que não inúteis”. Dentre os naturais alguns são necessários e outros, apenas naturais; dentre os necessários, há os que são fundamentais para se alcançar a felicidade e outros para o simples bem-estar corporal, outros ainda, para a própria vida.
A filosofia é que nos faz aptos para escolher na direção da saúde do corpo e da serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão disso, nos afastamos de todo tipo de dor e de medo. A importância do prazer surge aqui. O homem livre e sábio compreende que “o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos com o bem primeiro e inerente ao ser humano, em razão dele praticamos toda escolha e toda recusa e a ele chegamos escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor”.
Discordando da leitura ingênua e maliciosa que se faz do epicurismo, ele é o primeiro a dizer que não devemos escolher qualquer prazer. Diz Epicuro que “há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis; ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo”. É preciso, portanto, avaliar os prazeres e os sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos que eles podem produzir.
Um outro grande bem (agathon megaque é apontado por Epicuro é a auto-suficiência. Isto não significa que devemos nos satisfazer com pouco, mas, antes, que devemos nos satisfazer com esse pouco, caso não tenhamos o muito. Para ele, desfrutamos melhor abundância quando menos dependemos das coisas. Vejamos mais uma vez as palavras do filósofo de Samos: “Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta: pão e água. Produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Habituar-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida”, além de nos ajudar a enfrentar sem temores as vicissitudes da sorte.
Conforme já afirmado acima, o papel do prazer em Epicuro não é exatamente aquele que seus opositores disseminam, associando-o ao edonismo. “Quando dizemos que o fim último é o prazer”, diz Epicuro, “não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos”. O verdadeiro prazer para ela seria a ausência dos sofrimentos físicos e das perturbações da alma. Nada tem a ver, contudo, com o uso de bebidas, banquetes ou a posse de mulheres e rapazes, nem mesmo uma mesa farta e cheia de iguarias. O verdadeiro prazer tem a ver com o “exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição e que remova as opiniões falsas”.
De tudo o que se pode ter, para Epicuro, a prudência é o princípio e o supremo bem. É ela que dá origem a todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que “não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça”. E nada disso existe sem felicidade.
Epicuro é um homem de seu tempo mais que influenciou muito o mundo atual. Ele viveu em um momento em que o foco do pensamento filosófico estava migrando da metafísica para a ética e da ética política para a ética pessoal. Desta forma, em seu pensamento a felicidade se encontra no destemor da morte, de um lado, e de outro, na vivência em uma comunidade onde a justiça pudesse ser praticada. Este lugar ficaria conhecido como o Jardim de Epicuro.
60. ACERCA DA INFELICIDADE
Enquanto escrevo estas linhas a Rede Globo de Televisão está apresentando uma novela chamada “Além do horizonte” cujo enredo gira em torno da possibilidade de se alcançar a “felicidade concreta”.
Sem querer discutir a novela em si, a impressão que temos é que, muito ao revés, estamos vivendo em uma sociedade na qual ao invés da felicidade concreta, o que assistimos na televisão é uma grande insatisfação com a realidade. Revolta na Europa por causa de questões econômicas, manifestações públicas tomando as nossas ruas e, agora, os shoppings centers de nossas capitais. Onde está a felicidade? Porque tanta gente, cada vez mais, procura os psiquiatras? Porque tanta gente se voltou para o citalopram e o clonazepam? Porque tanta depressão e tanto suicídio?
Particularmente acredito que a depressão – que já foi denominada como o mal do século XX – tem tudo a ver com dois elementos que marcaram o século XX, o desenvolvimento industrial e as novas técnicas de marketing criadas justamente no segundo quartel do século passado.
Num primeiro momento, o século XX nasce com a tese de que os bons produtos duram mais, mas logo as industrias percebem que, construir carros ou geladeiras que não quebram, seria inviabilizar a própria indústria, que só cresceria com o incremento das vendas. Portanto logo o mercado se encheu de mercadorias descartáveis e com baixa durabilidade.
Aliado à isso era preciso investir na produção e no marketing para gerar a necessidade de consumir cada vez mais e com cada vez mais avidez. Desta forma todos os anos surgem sempre novos modelos para o seu automóvel e, todos os semestres novos e mais sofisticados equipamentos para seu computador ou seu celular.
Mas há um grande problema aqui. Como poderemos satisfazer nosso desejo crescente de consumo com o salário que ganhamos? Como usar as calças de marca, os perfumes famosos, o celular da moda e o tênis das “estrelas” se não ganhamos o suficiente?
Aqui está, segundo minha impressão, a causa da insatisfação, da infelicidade e da depressão de nossa sociedade. De um lado somos motivados constantemente, pelas propagandas, a consumir e de outro, tomamos ciência de nossa limitação financeira. Queremos muito. Desejamos muito. E acreditamos que se “tivermos” aquilo, seremos felizes. Mas não podemos tê-lo.
O que fazer? Alguns adolescentes sem qualquer formação moral simplesmente matam para poder ter aquele par de tênis famosos; alguns membros do poder judiciário simplesmente “negociam” suas sentenças para poderem comprar aquele apartamento de frente para o mar; alguns membros do legislativo ou executivo dão seu “jeitinho” para que, no final todos fiquem felizes e ele tenha aquela lancha para poder pescar com os amigos aos domingos.
Mas a esmagadora maioria dos brasileiros não é composta de assassinos ou de corruptos. Por isso ela sofrerá a dor de “não ter” aquele objeto de seu desejo de consumo. Ele não poderá satisfazer a vontade de seu filho ou de sua esposa no Natal simplesmente porque não ganha o suficiente. E é deste distanciamento entre desejar consumir e ser incapaz de fazer isso que surge a infelicidade e a insatisfação com sua própria vida.
Em uma sociedade em que você é estimulado a consumir desde a infância, a infelicidade será diretamente proporcional à sua incapacidade de ter o que você deseja.
Mas como escapar desta lógica maléfica e destruidora? É simples: (1) seja mais crítico para com a propaganda e (2) diminua o padrão de seus desejos. Se você for capaz de compreender que o marketing tem como única função “produzir uma necessidade e supri-la” e resistir aos seus apelos; e que você não será uma pessoa melhor ou mais aceita porque usa esta ou aquela marca, porque tem ou não um carro “zero” ou porque tem a silhueta das atrizes globais, você estará dando os primeiros passos para a felicidade, que, afinal tem a ver com muito mais com o seu SER do que com o seu TER.
A EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
Rev. Jorge Aquino.
Um dos maiores pensadores da história que destacaram a importância da educação para a transformação das realidades concretas de uma sociedade foi o pensador marxista italiano Antônio Gramsci (1891-1937).
Profundamente conhecedor da realidade de seu país, ele sabia da distância que existia entre o norte industrializado e o sul rural de seu país. Diante desta discrepância ele compreendeu que a luta que vai, de vez, por um fim à dominação de classe não será exclusivamente revolucionária, mas também cultural. Para nos aprofundamos mais no tema temos que ter em mente duas expressões bem características ao pensamento gramsciano.
A primeira expressão cunhada por ele é “hegemonia cultural”. Com esta expressão ele queria se referir ao controle ideológico e cultural que as classes dominantes exercem sobre as classes trabalhadoras. Note-se que este tipo de dominação nada tem a ver com violência e sim com a criação de uma legitimação que reforça a posição e a condição dos poderosos por meio do tácito consentimento.
A importância da hegemonia cultural reside no fato de que, segundo Gramsci, nenhum governo pode se basear apenas em seu poder ou na sua força para manter seu poder. Ele precisa, além disso, de um consentimento popular que o legitime. Desta forma Gramsci consegue ver o governo como um instrumento de educação, doutrinação e instrução da sociedade à subserviência.
Neste momento ele se distanciou do pensamento de Marx porque percebeu que para minar o controle da hegemonia cultural da classe dominante em uma sociedade era necessário atuar por meio da educação. E ele via os intelectuais como exercendo um papel fundamental nesta mudança.
É ai que surge uma outra expressão criada por ele: “intelectual orgânico”. Os intelectuais orgânicos participavam de todos os níveis da sociedade e, não apenas, em uma elite tradicional. Mais que isso, era necessário desenvolver, dentro da classe trabalhadora, novos intelectuais que façam o contraponto ao discurso hegemônico das classes dominantes. Para ele, uma massa humana não pode se tornar independente sem se organizar. E não pode haver organização sem intelectuais. Mas quem seriam eles?
Para nosso pensador, cada grupo social fundamental, que tem um papel decisivo na produção, é capaz de engendrar seus próprios “intelectuais orgânicos” a este mesmo grupo social. Desta forma, se a classe burguesa, ao desenvolver-se no interior do antigo regime, traz consigo não apenas o capitalista, mas também uma série de elemenos intelectuais mais ou menos díspares de, como o técnico industrial, o adminitrador, o contador, o economista, o advogado, o padre, o professor, etc., enquanto organizadores das distintas esferas do Estado, estes mesmos intelectuais, enquanto responsáveis pela nova forma do Estado e da sociedade, são os “funcionários da superestrutura”, que acabam por determinar e moldar o mundo à imagem e semelhança da classe fundamental. Ocorre que, por meio da educação, alguns destes intelectuais podem ser instrumentos de libertação e não de opressão.
Desta forma é fundamental que a luta de classe ocorra primeiramente na esfera ideológica e programática para que tenhamos a possiblidade de fazer crescer o cordão dos que desejam mudar nosso país. Para tanto precisamos ter a esperança na mente e a história na mão. E para isso é absolutamente imprescindível investir em uma educação libertadora. Sem educação nenhum país tem futuro.
UM MUNDO SEM MORALIDADE
Rev. Jorge Aquino.
Um dos principais e menos conhecidos pensadores do século XX foi o espanhol José Ortega y Gasset (1883-1955). Nascido em uma família influente de Madri, iniciou seus estudos na Espanha e depois foi aprofundar-se na Alemanha, onde foi profundamente influenciado pelo neo-kantismo. Em 1910 se torna professor de metafísica em Madri. Fundou uma revista que publicava textos filosóficos e atuou como congressista, mas teve que sair da Espanha em razão da guerra civil (1936) só voltando em 1942.
A Espanha de Ortega y Gasset passou por muitas modificações durante o início do século XX. De um lado havia o enfraquecimento da monarquia. Por outro lado a ditadura de Miguel Primo de Rivera aprofundaria tanto a divisão entre esquerda e direita, deflagrando a Guerra Civil espanhola.
Durante a I Guerra Mundial a Espanha assume uma postura neutra durante a qual presencia um enorme crescimento econômico e uma rápida industrialização que veio acompanhada com uma consequente organização das massas trabalhadoras.
Com a crescente organização dos trabalhadores as questões sociais assumem um papel relevante na agenda política e filosófica em toda a Europa. Ortega y Gasset, contudo, questionou a tese de que as classes sociais existem apenas como resultado de meras divisões econômicas. Ela fazia a distinção entre o “homem da massa” e o “homem nobre” em razão de sua aderência aos códigos morais fundamentados na tradição. Para ele quem “quer viver como se quer é plebeu; o homem nobre anseia a ordem e a lei”. Para ele a nobreza era alcançada por meio da disciplina e do serviço.
Ele presenciou à ascensão das massas e, com ela, as greves e as agitações sociais. Para Ortega y Gasset a ameaça das massas era o resultado da desmoralização da Europa do pós-guerra, o que acabou com o sentido e o propósito do ser-no-mundo. A Europa detinha uma enorme força industrial mas era, também uma sociedade sem moral.
Quando falamos em “moral”, devemos nos lembrar que esse, originário do latim “moreles”, “mores”, e significa, literalmente “aquilo que é relativo aos valores”. Segundo define Ana Costa (p. 14), “seu conceito abrange normas e comportamentos culturais que estabelecem o que pode ou não pode ser feito, o que é permitido ou proibido. Assim, uma ação pode ser julgada moral ou imoral, de acordo com as normas estabelecidas”.
Ele acreditava que o levante das massas era acompanhado de um declínio do intelectual e o surgimento do pseudo-intelectualismo. Este indivíduo se vê como uma nova força na história, no entanto é alguém sem senso de direção, propósito ou moralidade. As massas, para ele não se interessam pelos princípios da civilização ou pelo estabelecimento de um verdadeiro sentido de opinião pública. Elas estão, sim, e sempre, propensas à violência.
A Europa, sem seus intelectuais e sem o respeito aos valores dos códigos morais, estaria entregue às massas pseudo-intelectualizadas que produziria a perda da posição e do propósito da Europa no mundo moderno.
Em resumo: o crescimento do poder das massas industriais levou a Europa ao declínio do verdadeiro intelectual e ao surgimento do pseudo-intelectual que não tem nem sendo de tradição, nem de propósito nem de moralidade, levando a Europa a ficar sem um código moral.
A maior crítica que se faz ao pensamento de Ortega Y Gasset é que ele estreita os elos entre classe econômica e cultura parecendo ser um legítimo representante das classes burguesas. Mas afinal, será que o que assistimos em nosso país nos últimos doze anos de gestão do PT não foi uma emergência dos valores das classes D e E no mercado cultural? Qual foi o resultado disso na esfera da música, por exemplo? Será que na busca do dinheiro das classes emergentes o mercado cultural não fez cair o padrão em todas as esferas? Ora, as massas não têm acesso à cultura porque ela é muito cara. No entanto eis que o mercado assiste a emergência de milhões de novos consumidores que querem ouvir o lepo lepo ao invés de buscar a cultura clássica. Estará Ortega y Gasset errado? Só o tempo nos dirá.
Referência bibliográfica:
COSTA, Ana. Questões sobre a moral. In Grandes Temas – Filosofia nº 48, São Paulo: Mythos, s.d.
NIETZSCHE E LUTERO
Rev. Jorge Aquino.
Em um de seus textos mais clássicos, A origem da tragédia, diz Nietzsche: “Nossa mais ardente esperança é a de reconhecer que, sob a inquietação e a perplexidade de nossa vida civilizada, sob as convulsões de nossa cultura, uma força primordial está oculta, soberba, fundamentalmente sã, que, sem dúvida, só se manifesta poderosamente em momentos excepcionais, para em seguida, adormecer e sonhar ainda com um despertar futuro. Desse abismo brotou a Reforma alemã, e em seus corais ressoou, pela primeira vez, a melodia futura da música alemã. Profunda, cheio de ardor e de vida, o coral de Lutero ressoa como o primeiro apelo dionisíaco, atravessando um espesso matagal, às vésperas da primavera. Em um eco emulador, respondeu-lhe o orgulhoso e predestinado cortejo dos sonhos dionisíacos, aos quais devemos a música alemã e o renascimento do mito alemão”.
Por sua vez, em sua obra À nobreza cristã da nação alemã, Lutero procura derrubar três muralhas que servem de base para o fortalecimento do romanismo e, por meio das quais, exerce domínio sobre toda a cristandade: a submissão do poder secular, a interpretação autêntica das Escrituras e o direito de convocar o Concílio Ecumênico. Quando era confrontada pelas autoridades a igreja dizia que o poder espiritual era superior ao poder temporal, portanto os reis deveriam se submeter á igreja. Quando a igreja era confrontada com as Escrituras ela dizia que somente o Papa tinha a verdadeira e infalível interpretação das Escrituras. Quando a igreja foi ameaçada com a convocação de um Concílio, ela respondida que somente o Papa tinha o direito de convocá-los. Depois de apresentar sua argumentação e de derrubar estas três muralhas, Lutero “dirige um insistente apelo aos príncipes alemães para que se encarreguem de levá-la [a Reforma] a termo: avoquem a si todo poder sobre as dioceses, as igrejas, o clero e os fiéis, constituam na Alemanha uma igreja nacional independente, declarem abolidos o direito canônico, os impostos romanos, o celibato eclesiástico, as missas pelos defuntos, as peregrinações, as indulgências, as confrarias e as festas, com exceção dos domingos” (MONDIN, 1981, p. 32).
Um segundo texto de Lutero que marcou sua época foi A liberdade cristã. Aqui ele faz uma síntese da doutrina da justificação dizendo que ela independe da observância da lei. De fato, a lei apenas serve para mostrar nossa fraqueza e nos atirar no desespero. A lei nos humilha e nos aniquila. Somente a graça de Deus nos liberta, por meio da fé, das obrigações da lei – que são impossíveis de cumprir. Eis a liberdade cristã: “ela está na fé única, que não nos converte em ociosos ou maldosos, antes, em homens que não necessitam de obra alguma para obter a justificação e a salvação” (LUTERO, In MONDIN, 1981, p. 33).
Em que momento Nietzsche e Lutero se tocam? Segundo Nietzsche na introdução do símbolo sacro de Dionísio. Esta divindade representava toda a exuberância da vida que o homem é convidado a abraçar exultante. Dionísio é símbolo do ser que une dor e alegria. É aquele que cria unidade e contradição assumindo e transfigurando a unidade do real. Ele é a sacralização da realidade, ou seja, a sacralização da vida por inteira, sem negá-la nem diminuí-la.
Nietzsche procura recuperar as forças vitais e instintivas que foram subjugadas pela razão durante os séculos por meio de um controle racional da paixão. Esta postura, que na Idade Média se associou ao cristianismo, domesticou o ser humano e criou uma moral de ovelha ou de escravo. Ele demonstra em sua Genealogia da moral como esta torna o homem doente e culpado.
Lutero foi um daqueles capazes de resgatar a “força primordial” que estava oculta, mas que era “fundamentalmente sã” confrontando a moral romana que se baseava no poder de um homem e na construção de um edifício eclesiástico que oprimia toda a humanidade da época. Ao lançar seu grito de liberdade dos grilhões do papado e sua ordem apolínea, Lutero apregoa a liberdade que nos torna justos pela fé, e não pelo cumprimento das normas morais da lei. De fato o que nos justifica diante de Deus não é o cumprimento de normas morais mas simplesmente a fé em Jesus.
Referências bibliográficas:
MONDIN, Batista. Curso de filosofia. São Paulo: Paulus, 1981.
RUSS, Jacqueline Russ. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Scipione, 1994.
NIETZSCHE E LUTERO II
Rev. Jorge Aquino.
Ainda voltado para o texto de A origem da tragédia, encontramos Nietzsche se contrapondo fortemente ao que ele chama de “ideal” ascético, que arruína a saúde da alma e o gosto, que exprime uma vontade e que não permite outra interpretação senão a sua. O sacerdote asceta, onde quer que chegue, impõe a dominação. Como antítese desse sacerdote e desse modelo “demasiado delicado”, Nietzsche apresenta Lutero: “o aldeão ‘mais eloquente’ e o mais presunçoso que a Alemanha conheceu, e do tipo de tom luterano, justamente o de carregar no afeto em suas relações com Deus. A resistência de Lutero diante dos santos intermediários da igreja (e particularmente deste ‘porco do diabo, o papa’) era, em última instância e sem dúvida a resistência de um grosseiro que causa repugnância à boa etiqueta da igreja, essa etiqueta reverente, bem ao gosto hierático, que não deixa entrar no Santo dos Santos senão os seres mais consagrados e mais silenciosos e que veta a entrada à gente rústica. É precisamente o lugar onde estes não têm em absoluto direito à palavra – mas Lutero, o aldeão, entendia-o certamente de outro modo: ele queria falar diretamente com seu Deus, falar por si, falar a ele ‘sem incomodar ninguém’ […] E conseguiu” (NIETZSCHE, 2009, p. 160)
Deste texto alguns elementos devem ser ressaltados sobre a postura de Lutero que se contrapõe à do sacerdote asceta.
- Em primeiro lugar, Lutero defende a “livre interpretação” da Bíblia, diferentemente da igreja romana que acreditava ter a única e verdadeira interpretação possível. Para Lutero “o mais simples camponês, munido das Escrituras, é mais poderoso, que o maior dos papas, sem elas”. Cada indivíduo deve ter sua Bíblia e a capacidade de lê-la e interpretá-la. Esta crença invertia a noção de “poder” vigente, já que, quem tem o “poder” pode interpretar corretamente. Ao que discorda, cabe-lhe a designação de herege.
- Em segundo lugar, Lutero defende o livre acesso à Deus. Não precisamos de santos intermediários ou de papas ou de sacerdotes para a confissão auricular. Cada cristão “pode falar diretamente com seu Deus” por si e ale, diretamente, sem intercessores. Novamente entra em cena a noção de “poder”. Aquele que sabe de todas as suas falhas e defeitos – principalmente os morais – pode manipulá-lo a fazer sua vontade.
- Em quarto lugar, Nietzsche destaca que para Lutero, mesmo a alguém bárbaro, sem etiqueta e rústico tem acesso à Deus. Não precisamos de toda a etiqueta da igreja nem de todos os salamaleque e vênias criadas pelos homens. Creio que Nietzsche faz uma referência, aqui, a origem simples de Lutero. Diferentemente de Calvino, e em que pese sua formação jurídica e teológica, Lutero não era um humanista como o reformador de Genebra. Ele era um homem brincalhão, arrogante, cheio de alegria e que era famoso pela sua apreciação de uma boa cerveja em seu caneco chamado de “dez mandamentos”.
- Em quarto lugar, Nietzsche nos lembra que Lutero quer chama a todos, mesmo os mais pecadores, ao acesso ao Santo dos Santos. Em uma carta escrita a Melanchthon, em 1521, Lutero escreveu: “Pecca fortiter, …sed cred fortius”. Uma tradução literal seria: “peque fortemente, mas creia mais fortemente ainda”. Ou seja, somente os grandes pecadores experimentam a graça de Deus. O conteúdo da carta é extremamente forte e diz assim: “Se é pregador da graça, então pregue uma graça verdadeira, e não uma falsa; se a graça existe, então deves cometer um pecado real, não fictício. Deus não salva falsos pecadores”. Cada um desses pecadores podem entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, apesar de seus pecados, porque Deus não olha para as obras que fazemos, e sim para nossa fé no que foi realizado na cruz. Para Lutero Deus deixou de ser o Senhor severo que castiga para ser o Pai amoroso que acolhe. E este Deus não está interessado em uma vida ascética eivada de hipocrisia.
Referência bibliográfica:
NIETZSCHE, F. A genealogia da moral. São Paulo: Escala, 2009.
MATRIX E A LUTA PELO DIREITO
Rev. Jorge Aquino.
Introdução: É bem verdade, alguém já disse, que toda vista é vista de um ponto e que, quando mudamos o ponto de vista mudamos a vista que temos do ponto. Esta é a primeira vez que assistimos um filme tendo como ponto de vista, ou como chave hermenêutica, um texto literário. Mas qual a surpresa? De fato, todas as vezes que assistimos a um filme no cinema ou mesmo que lemos um livro, não o fazemos a partir de um ponto neutro. Muito pelo contrário, sempre vemos as coisas condicionadas por nossa condição histórico/temporal. Com esta experiência de assistir o filme Matrix tendo por “pano de fundo” o texto de Rudolf Von Ihering, inauguro uma perspectiva de mundo que, espero, nunca se deixe desvanecer frente ao niilismo e à hipocrisia tão comuns em nossa geração.
Neste ensaio não queremos, nem podemos, ser exaustivos. Fazemos, contudo, apenas algumas considerações sobre esta leitura Iheringana da grande obra cinematográfica que foi a trilogia da Matrix. Desnecessário dizer que nos limitamos apenas ao primeiro filme da trilogia. Esperamos ter conseguido lograr êxito no nosso intento de apresentar uma perspectiva nova deste filme.
- Sobre o filme
Sobre o filme selecionamos dois grupos de informações que julgamos importantes: a ficha técnica e o elenco.
Ficha técnica. Sobre a ficha técnica, podemos citar as principais informações: Título Original: The Matrix; Gênero: Ficção Científica; Tempo de Duração: 136 minutos; Ano de Lançamento (EUA): 1999
Elenco. Keanu Reeves (Thomas A. Anderson/Neo); Laurebce Fichburne (Morpheus); Crrie-Anne Moss (Trinity); Hugo Weavinng (Agente Smith)
- Sobre o enredo e a luta pelo direito
O filme fala de um futuro próximo, onde um jovem programador de computador e Raker chamado Thomas Anderson (Keanu Reeves), é acordado de seu sono por uma mensagem em seu computador. Nesta mensagem ele é convidado a comparecer em um clube onde encontrará Trinity (Carrie-Anne Moss). Ela, revela que ele está sendo monitorado e que tem algo muito importante a dizer. A noite termina com Thomas acordando atrasado para o emprego e, quando está em seu escritório, recebe uma ligação de Morpheus (Laurence Fishburne) dizendo que ele precisa sair de lá imediatamente. Depois de um encontro com Hugo Weaving (Agente Smith) ele é novamente conectado por Trinity e vai até o lugar marcado. Lá ele encontra Morpheus pessoalmente que lhe oferece duas pílulas: uma azul e outra vermelha. Thomas prefere a pílula azul que lhe mostra a realidade que ele desconhecia. Thomas descobre que é, assim como todas as outras pessoas do planeta, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir a energia suficiente para manter as máquinas funcionando.
Morpheus e Trinity estão convencidos que Thomas é o “escolhido” para libertar as pessoas do domínio da Matrix e levá-las até à consciência plena, à realidade, à liberdade e à cidade de Sião. E é neste momento que a intriga se desenvolve. Thomas reluta em aceitar que é o “escolhido” mas, uma vez que seu amigo Morpheus está aprisionado pelo agente Smith, resolve agir em seu socorro. E é neste momento de angústia que ele se descobre, ao enfrentar sua mortalidade, que ele é sim o “escolhido”. O que é mais interessante é que, apesar de ter sido orientado durante o seu treinamento no Nabucodonosor a fugir sempre que o agente Smith aparecer, ele se ergue, e deliberadamente enfrenta o agente Smith. Ao agir assim, ele supera finalmente o medo que o paralisa e que mantém o poder da Matrix.
Sobre este enredo creio ser possível fazer algumas relações com o brilhante texto de Rudolf Von Iherig[1] chamado A Luta pelo Direito. Esta obra pode ser resumida em apenas uma frase: A vida do direito é a luta, a luta de povos, de governos, de classes, de indivíduos. Dentre as várias lições que podemos tirar deste filme, à luz do texto de Ihering, escolhemos as seguintes:
A) O “escolhido” somo todos nós.
Não importa se alguém foi ao campo de batalha motivado por um interesse material, pela dor de uma ofensa, pelo sentimento do dever ou pela própria ideia do direito, “no fim todos se unem na tarefa comum, na luta contra o arbítrio” (IHERING, 2005, p. 62). No filme Matrix, encontramos um grupo de pessoas que unidas por uma mesma motivação – resgatar a liberdade – se juntam para destruir a Matrix. Neste grupo Neo é apontado como o “escolhido”, ou seja, aquele que deve lutar e vencer a Matrix. Nem por isso as pessoas se furtam de lutar e de envidar esforços para, com sua limitação, fazer sua parte e cumprir se papel na luta. Neo, contudo, é um tipo de todos nós. Ele é aquele que nega ser o “escolhido” mas que, frente às circunstâncias, tem que tomar a “história na mão” e cumprir seu destino. Como Neo, não podemos fugir da batalha. Temos que permanecer de pé, prontos para a peleja contra todas as forças da injustiça. Temos que dar um exemplo. Vejamos as palavras de Ihering sobre a importância de cada um: “volto a invocar a imagem de que já me vali: a de um único homem que foge da batalha. Quando mil homens lutam, ninguém notará o afastamento de um só. Mas se algumas centenas abandonam suas posições, a situação dos que se mantêm fiéis tornar-se-á cada vez mais difícil, pois terão de suportar sozinhos todo o peso da luta” (IHERING, 2005, p. 59). Fidelidade aos princípios, coragem e disposição à luta. É tudo que precisamos.
B) Não haverá mudança no mundo enquanto não houver mudanças de perspectivas.
Esta segunda lição que tiramos da leitura Iheringana de Matrix é bastante contundente. Nenhuma mudança ocorrerá em um mundo no qual as pessoas não se dispõem em mudar. Em nossa leitura de Ihering, compreendemos que estas mudanças precisam ocorrer em dois sentidos. No primeiro é necessário uma mudanças de perspectivas sobre nós mesmo: Fazendo uma citação de Kant, nos Fundamentos da Metafísica da Moral, ele nos diz que “quem se transforma num verme não pode se queixar de ser pisado aos pés dos outros” (p. 18). É por isso que “A luta pelo direito subjetivo é um dever do titular para consigo mesmo. A defesa da própria existência é a lei suprema de toda vida: manifesta-se em todas as criaturas por meio do instinto de autoconservação”. Isto significa, nos seres humanos, muito mais do que vida física, mas existência moral. Quando somos capazes de ter uma perspectiva adequada sobre nós mesmo nos vemos, não como um verme, mas como uma pessoa que tem o direito de buscar a justiça, e mais do que isso, tem o dever de assim fazer. A segunda mudança de perspectiva nos leva a ver a nossa comunidade. Diz Ihering: “A defesa do direito constitui um dever para com a comunidade” (IHERING, 2005, p. 58). Nem nós somos vermes nem a nossa comunidade deve ser vista como massa de manobra e de exploração dos dominadores. Foi a partir do autoconhecimento que Neo assumiu sua vida e abandonou o simulacro no qual crescera até então. Este gesto de ruptura com um passado – por mais belo e idílico que ele possa parecer – marca sua mudança e seu compromisso com os outros que estão ainda escravizados por uma realidade ilusória.
C) As mudanças no mundo são realizadas pela luta.
A última lição que tiramos desta leitura Iheringana de Matrix se resume a uma palavra: luta. Não devemos nos assustar com o fato inquestionável, apresentado por Ihering, de que “todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta (…) por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual o defende” (IHERING, 2005, p. 27). O objetivo do direito, diz ele, é a paz. E a luta é o meio de consegui-la. Em outro lugar, fazendo alusão as diversas mudanças históricas que ocorreram pela luta, ele diz: “todas as grandes conquistas da história do direito, como a abolição da escravatura e da servidão, a livre aquisição da propriedade territorial, a liberdade de profissão e de consciência, só puderam ser alcançadas através de séculos de lutas intensas e ininterruptas” (IHERING, 2005, p. 31). É por saber disso que Neo assume a sua luta contra a Matrix. Toda a sua vida agora se resume isto. Não há espaço para descanso e nem mesmo para a paixão. Sua vida tem um propósito, e ele sabe disso. Por isso a luta é inevitável. Embora soubesse disso, nem por isso ele foi lutar de qualquer maneira. Pelo contrário. Usando todas as possibilidades que dispunha, Neo treinou, aprendeu, e se armou com o que havia de mais letal para a luta de sua vida – e de sua morte. Em sua mente havia apenas um desejo: salvar seu amigo Morpheus das garras de Smith. E, para isso ele estava disposto até a morrer.
Antes de concluir, devemos fazer uma citação daquele que serviu de inspiração a Ihering: Emanuel Kant. Segundo Kant, nossas escolhas morais devem nos levar sempre a fazer o “bem maior”. E este bem maior é um mundo, ou uma esfera, onde a felicidade e a liberdade sejam possíveis e combinadas. Este espaço onde realizamos o Bem Maior não é apenas o lugar onde a felicidade é possível, é o lugar onde as pessoas são dignas de serem felizes. Esta felicidade é conquistada por ações livres e responsáveis. Por isso, devemos estar dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida – se for preciso – para que a liberdade e a justiça imperem.
Referências Bibliográficas
(http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/matrix/matrix.htm#Ficha%20Técnica)
IHERING, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. São Paulo: Martin Claret, 2005
RORTY E A RELAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E VERDADE
Rev. Jorge Aquino.
Quando pensamos em alguém que escreveu com a intensão clara e própria de destruir a metafísica, inevitavelmente nos lembramos de Heidegger. É nesse sentido que Philippe van den Bosch nos afirma, categoricamente, acerca desse ilustre filósofo alemão, que: “Ele afirma que a metafísica, ou seja, todo o pensamento ocidental, é fundada num erro… Aí opera-se uma má compreensão do que é o ser, ‘um esquecimento do ser’” (BOSCH, 1998, p. 260). Outra forma de colocar a postura de Heidegger sobre a metafísica é-nos exposta por Lacoste ao dizer que: “Heidegger vai tentar reencontrar a questão do sentido do ser, não mais por uma busca vã e incessante reiniciada da evidência, da visão pura, mas por uma desconstrução da metafísica tradicional, talvez com a esperança de ouvir desta vez a palavra do ser sob sua forma autêntica” (LACOSTE, 1992, p. 53).
No entanto, Heidegger não foi o único a se levantar contra a metafísica. Na história da filosofia muitos outros pensadores seguiram um caminho similar. E nesse pequeno texto gostaríamos de expor crítica feita pelo filósofo pragmatista americano Richard Rorty à metafísica e, em seguida, mostrar a seu pensamento sobre a relação entre a verdade e a comunidade.
Obviamente, conforme afirmado acima, estando dentro da tradição pragmatista – na qual a verdade é o resultado de regras e procedimentos aceitos dentro de uma determinada comunidade – ele obviamente também rejeita a tese da existência de uma verdade necessária, até porque contemplamos à nossa frente à obviedade da insuperável realidade da contingência das comunidades humanas. Desta forma, Rorty “Refuta, assim, tanto o conceito de realidade exatamente reproduzível sem deformações pelo ‘espelho’ ou pelo ‘olho’ contemplativo da mente, quanto o da coerência puramente lógica do raciocínio e da ação” (BODEI, 2000, p. 267). Como podemos perceber, essa rejeição à metafísica ocorre dentro de um espaço onde o contexto social é valorizado.
Diferentemente daqueles que se empenham em uma busca neurótica pela verdade absoluta, característica da visão cartesiana, Rorty se inclina muito mais por uma filosofia que seja capaz de nos oferecer, ao menos alguma noção sobre como “as nossas vidas poderiam mudar” (RORTY, In BODEI, 2000, p. 267). Nesse sentido ele apresenta as duas posturas mais comuns relativas à verdade. A primeira, baseada em Platão, fundeia a verdade em uma realidade sobre-humana ou em um “mundo das ideias” que serve de modelo para nossa realidade imperfeita de sombras que apenas conseguem, por meio da filosofia, relembrar das reminiscências do mundo onde os universais perfeitos e absolutos existem. A segunda, fundada nas posturas de William James e John Dewey, associa a verdade “a práticas sociais compartilhadas de justificação e de controle” (BODEI, 2000, p. 267).
A teoria platônica da verdade em nada se preocupa com a efetiva comunidade dos dialogantes. E neste caminho procura evitar um duplo relativismo: o sofístico e o etnológico. Assim, ele postula a existência de uma comunidade de filósofos legisladores que atua com base em regras que estão vinculadas às “essências” ou “ideias” que, quando alcançadas, levariam a humanidade à uma tácita aceitação daquilo que seria uma óbvia verdade. Em outras palavras, na argumentação platônica, “A verdade resulta, assim, fundada sobre procedimentos de caráter auto-reflexivo próprios a um grupo restrito que se arroga o direito de representar toda a humanidade de qualquer lugar e tempo” (BODEI, 2000, p. 268). Foi com base nessa argumentação de uma verdade sólida e objetiva que a filosofia ocidental – bem como a ciência -, como bem afirmou Heidegger, construiu seu edifício.
Pois bem, a proposta de Rorty é justamente substituir essa objetividade pela “solidariedade”, ou seja, “ele define a verdade em relação àquilo que uma comunidade específica acredita e argumenta, ao ‘nós’ dos falantes ou dos pensantes. Nesse sentido, portanto, ‘verdade’ é o que encontraria menos resistência para ser aceito por aqueles que seguem determinadas regras históricas de verificação; falsidade, o contrário. A filosofia deveria evitar a tentação de procurar os fundamentos últimos da realidade e do pensamento e se limitar a propor discursos ‘edificantes’ (no duplo sentido arquitetônico e moral)” (BODEI, 2000, p. 269).
Em outras palavras os filósofos ou os cidadãos, deveriam estar preocupados em construir comunidades acolhedoras que fossem capazes de conduzir as pessoas desde esquemas pré-fixados e enrijecidos até a construção de espaços onde a convivência humana pudesse se realizar plena e cabalmente. Eis a grande razão da filosofia em uma época “pós-filosófica”, “pós-moderna”, ou, pelo menos, de uma realidade fluida e débil: “manter viva a criatividade de formas de diálogo que não pressupõem nenhum ‘vocabulário dado’” (BODEI, 2000, p. 269) e onde não são mais necessárias práticas fundantes.
Isso não significa abrir mão nem da racionalidade e nem da moral. Muito ao revés, ele está tão ligado à “esperança social” que considera que esses valores universalistas e abstratos, ao invés de ajudar a vida das comunidades, desvitalizam as comunidades com suas histórias singulares e as impede de resolver suas questões intestinas de forma urgente e concreta. Para ele, o que nós no Ocidente precisamos é de uma democracia que seja capaz de prescindir, de um lado, de uma fundação religiosa, e de outro, de uma legitimação filosófica. Para ele, basta a autoridade “constituída por um acordo coroado de sucesso entre indivíduos que se descobrem herdeiros das mesmas tradições históricas e postos diante dos mesmos problemas” (RORTY, In BODEI, 2000, p. 270). Aqueles que valorizam esse tipo de democracia devem ser capazes de, mesmo tendo crenças absolutamente relevantes para si, abrir mão de certos aspectos, sacrificando sua consciência no altar do bem público.
Eis que nesse momento surge uma questão relevante: como evitar que meus preconceitos, preferências e opiniões se tornem arbitrários ou formem conceitos etnocêntricos? Ele realmente entende que a criação de pontes envolvendo pessoas de culturas diferentes é uma realidade bastante concreta. Portanto ele reconhece, afirma Bodei (2000, p. 270, 271) que “Nenhum de nós é realmente capaz de separar-se das próprias tradições e preconceitos, de superar a barreira da alteridade. Somos, com efeito, de tal maneira condicionados pelas regras que aprendemos e às quais estamos habituados na nossa comunidade que tornamo-nos inevitavelmente etnocêntricos”. Ele parafraseia Hegel afirmando que não podemos sair dos nossos condicionamentos histórico-culturais, assim como também não podemos sair de nossa pele.
A ideia de que a história da humanidade caminha para uma unificação das formas de pensamento sob a égide de uma verdade e de uma racionalidade supercomunitária, diz Bodei, “obedece, de resto, a um preconceito inconsciente: o de que a história do gênero humano caminharia inexoravelmente para uma convergência entre as várias civilizações” (BODEI, 2000, p. 271). Discordando frontalmente dessa tese, Rorty sustenta que a humanidade caminha em direções divergentes, destacando justamente o diferente e não o que há em comum. O que temos a fazer é nos conscientizarmos de nossa própria tradição – que nos é inalienável -, e tê-las em conta quando nos depararmos com os “outros” ou os “diferentes” que geralmente nos abordam usando de ironia. No entanto, apesar disso, ainda precisamos ser capazes de “saber tirar importância a várias diferenças tradicionais (de tribo, religião, raça, usos, e similares) no confronto da semelhança na dor e na humilhação, no saber incluir na esfera do ‘nós’ pessoas imensamente diversas de nós mesmos” (RORTY, In BODEI, 2000, p. 271). De fato, Rorty já afirmara que “A pergunta se há quaisquer crenças ou desejos comuns a todos os seres humanos é de pouco interesse se separada da visão de uma comunidade humana includente e utópica – uma que se orgulhe mais de acolher pessoas de tipos diferentes que da firmeza com que mantém estranhos do lado de fora” (RORTY, In DE SOUZA p. 103).
Em resumo, aprendemos com Rorty, em primeiro lugar, que a verdade não é correspondencial, mas relacional, na medida em que ela é o resultado daquilo que uma comunidade específica acredita e argumenta. Em segundo lugar, aprendemos com ele que a verdade é procedimental e não objetiva, uma vez que ela é o resultado de regras e procedimentos aceitos dentro de uma determinada comunidade. Em terceiro lugar, ele reconhece a tendência comum às pessoas a buscarem verdades metafísicas, no entanto, ele propõe verdades que sejam construídas dialogicamente, portanto includentemente e solidariamente, por mais que isso possa soar como uma utopia.
Este é o grande desafio que tanto nossa sociedade quanto nossa comunidade de fé Anglicana tem: abrir mão das verdades metafísicas absolutas e construir comunitariamente verdades procedimentais solidárias e inclusivas, uma vez que a utopia, para nós, faz parte de nosso querígma.
Referências Bibliográficas
BODEI, Remo. A Filosofia do Século XX. Bauru: EDUSC, 2000
BOSCH, Philippe van den. A Filosofia e a Felicidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998
LACOSTE, Jean. A filosofia no século XX. Campinas: Papirus, 1992
SOUZA, José Crisóstomo de (Org.). Filosofia, Racionalidade, Democracia: os debates Rorty & Habermas. São Paulo: UNESP, 2005
ACERCA DO PASSADO
Rev. Jorge Aquino.
O escritor canadense Herry Bernard (1898-1979) disse certa vez: “O passado pertence ao passado. Ele não deve jogar sua sombra dolorosa sobre o presente”. É verdade que jamais podemos esquecer o passado – até porque o que somos hoje é consequência das decisões que tomamos -, mas há, no passado, muitos outros elementos além de sombras. Há acertos, há alegrias, há momentos inesquecíveis e que jamais deixarão nossa mente e que sempre retornarão à memória quando ouvirmos uma certa música ou sentirmos um certo cheiro.
Mas, Herry Bernard está se referindo a alguns elementos bem peculiares do passado, as suas sombras. Estes elementos possuem o condão de nos machucar, de nos fazer mal, de nos ferir. E a grande questão que se coloca diante de nós é: o que fazer com essas memórias ruins que nos atormentam como se fossem sombras a nos seguir de perto?
Na minha humilde opinião, só existe uma força que pode vencer as sombras: a luz. Portanto, acenda uma lâmpada perto de você, ou melhor, saia de casa e se exponha ao sol para que todas as sombras se dissipem. Traga sempre mais luz para sua vida e essas sombras desaparecerão.
Se estas palavras fossem ouvidas com mais atenção pelas pessoas, certamente teríamos menos pessoas sofrendo e menos melancolia nos corações. Certa vez vi um livro com o título: “Meu passado me condena”. Imediatamente me lembrei da carta de Paulo aos Romanos onde o Apóstolo pergunta: “Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós” (Rm 8: 33, 34). Ora meu querido, se você tem como advogado o próprio Cristo, intercedendo junto ao Pai por você, porque deixar que o passado ainda te perturbe? Deixe a luz de Deus entrar em seu coração e fazer brilhar sua vida nesse mundo de trevas, de sombras e de escuridão, para que todo o passado seja jogado no mar do esquecimento.
Livres das sombras e dos grilhões do passado, viva uma vida de pessoa livre e liberta por Deus, sabendo que para quem está em Cristo, “nenhuma condenação há” (Rm 8:1).
EXISTE UMA SEGUNDA CHANCE?
Rev. Jorge Aquino.
Certo pensador escreveu: “Recomeçar é acreditar que nada é impossível e que não perdemos nada quando damos uma segunda chance para nós Mesmos…”. Olhando para essa frase eu me lembro das palavras do Apóstolo Paulo quando, escrevendo o capítulo 7 do livro de Romanos ele diz: “Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?” (v.24). Segundo alguns comentadores, a imagem que Paulo trazia ao escrever esse texto era a de um homem amarrado por grilhões à um cadáver que precisava arrastar por onde quer que fosse. Esta é a descrição de toda e qualquer pessoa razoavelmente honesta e capaz de olhar para o espelho com sinceridade. Quem somos nós, senão seres humanos cheios de defeitos e falhas?
No entanto, a Epístola aos Romanos não se encerra nesse versículo. Aliás, no fim do versículo existe uma pergunta: “Quem me livrará?” e a resposta é dada logo no verso seguinte: “Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor” (v. 25). De fato, é Jesus Cristo o responsável pela segunda chance que é oferecida a todos. Se você já experimentou o fracasso emocional, existencial, familiar, profissional, etc. saiba, Jesus quer te dar uma segunda chance para que você seja feliz. Mas, para que isso ocorra você precisa sair do raio de ação da morte e entrar no raio de ação da vida. É o que Paulo diz no capítulo 8, verso 5, quando afirma: “Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito”. Note que para Paulo não existe uma terceira alternativa. De um lado está o passado, os erros, a culpa, a morte, as coisas da “carne” – como ele fala; dou outro lado, o domínio da vida, do perdão, da renovação, da segunda chance, ou do “Espírito”. Perceba também que Paulo usa a palavra Espírito com “E” maiúsculo, indicando que esse é o raio de ação do Espírito Santo, ou seja, da terceira pessoa da Trindade que em nós habita e nos dá vida.
Portanto, meu querido(a) leitor(a), se você acha que não existe mais espaço para uma segunda chance para você, eu quero te dizer que, em Jesus, e sob a esfera do Espírito, existe espaço para uma nova chance. Sim, você ainda pode ser feliz e realizar seus sonhos. Nem tudo está perdido. Tão somente abandone o cadáver que está preso à você pela culpa que você carrega e aceite a graça de Deus gratuitamente pela fé, e, dessa forma, você viverá uma segunda chance em todas as esferas de sua vida. Que Deus o abençoe e o oriente sempre.
[1] Jurista alemão, nascido na pequena cidade de Aurich, Frísia, em 22 de agosto de 1818 e morto em Göttingen, a 17 de setembro de 1892. Von Ihering notabilizou-se por ser um dos primeiros defensores da concepção do direito como produto social, sendo considerado o pai da jurisprudência sociológica.


